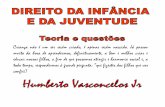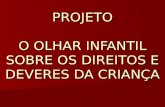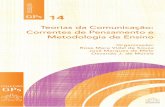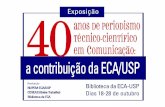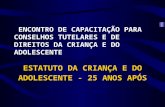Apostila+ECA
-
Upload
danny-de-campos -
Category
Documents
-
view
218 -
download
2
description
Transcript of Apostila+ECA

Apostila de Direito daInfância e da Juventude
SUMÁRIO
1

1.
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
H
IS
T
Ó
R
I
C
O
2.
F
O
N
T
E
S
2.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
2.
2

2.
N
or
m
as
de
or
ga
ni
s
m
os
in
te
rn
ac
io
na
is
2.
3.
A
co
ns
tit
ui
çã
o
2.
4.
O
C
ó
di
g
o
Ci
vi
l
2.
5.
O
C
ó
di
g
3

o
P
en
al
2.
6.
O
C
ó
di
g
o
de
Pr
oc
es
so
P
en
al
e
o
C
ó
di
g
o
de
Pr
oc
es
so
Ci
vi
l
3.
D
I
R
EI
T
O
S
F
U
N
4

D
A
M
E
N
T
A
IS
3.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
3.
2.
D
ir
ei
to
à
vi
da
e
à
sa
ú
de
3.
3.
D
ir
ei
to
à
li
be
rd
ad
5

e,
ao
re
sp
ei
to
e
à
di
g
ni
da
de
3.
4.
D
ir
ei
to
à
co
n
vi
vê
nc
ia
fa
m
ili
ar
e
co
m
u
ni
tá
ri
a:
a
fa
m
íli
a
na
tu
ra
6

l
3.
5.
D
ir
ei
to
à
co
n
vi
vê
nc
ia
fa
m
ili
ar
e
co
m
u
ni
tá
ri
a:
a
fa
m
íli
a
su
bs
tit
ut
a
3.
6.
G
ua
rd
a
3.
7.
T
ut
7

el
a
3.
8.
A
d
oç
ão
3.
8.
1.
R
eq
ui
sit
os
su
bj
et
iv
os
da
ad
oç
ão
3.
8.
2.
R
eq
ui
sit
os
o
bj
et
iv
os
da
ad
oç
ão
3.
8.
3.
Ef
8

ei
to
s
da
ad
oç
ão
3.
8.
4.
A
d
oç
ão
in
te
rn
ac
io
na
l
3.
9.
D
ir
ei
to
à
ed
uc
aç
ão
, à
cu
lt
ur
a
e
ao
la
ze
r
3.
1
0.
D
9

ir
ei
to
à
pr
of
is
si
o
na
li
za
çã
o
e
pr
ot
eç
ão
n
o
tr
ab
al
h
o
4.
P
R
E
V
E
N
Ç
Ã
O
5.
P
O
LÍ
TI
C
A
D
E
A
10

T
E
N
D
I
M
E
N
T
O
6.
M
E
D
I
D
A
S
D
E
P
R
O
T
E
Ç
Ã
O
7.
M
E
D
I
D
A
S
A
P
LI
C
Á
V
EI
S
A
O
11

S
P
A
IS
O
U
R
E
S
P
O
N
S
Á
V
EI
S
8.
A
J
U
R
IS
D
I
Ç
Ã
O
D
A
I
N
F
Â
N
C
I
A
E
D
A
J
U
V
E
N
12

T
U
D
E
8.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
8.
2.
O
s
m
o
de
lo
s
de
tri
b
u
na
is
de
m
en
or
es
8.
3.
C
ar
ac
te
rí
sti
ca
13

s
d
o
ór
gã
o
ju
lg
ad
or
8.
4.
O
m
o
de
lo
d
o
E
C
A
8.
5.
C
o
m
pe
tê
nc
ia
9.
M
I
N
IS
T
É
R
I
O
P
Ú
B
LI
C
14

O
9.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
9.
2.
N
at
ur
ez
a
e
pr
in
cí
pi
os
9.
3.
F
or
m
as
de
at
ua
çã
o
9.
4.
A
i
m
pa
rc
ia
15

li
da
de
d
o
M
in
ist
ér
io
P
ú
bl
ic
o
9.
5.
O
M
in
ist
ér
io
P
ú
bl
ic
o
n
o
E
C
A
1
0.
O
A
D
V
O
G
A
D
O
1
1.
16

O
P
R
O
C
E
S
S
O
D
E
A
P
U
R
A
Ç
Ã
O
D
E
A
T
O
I
N
F
R
A
C
I
O
N
A
L
1
1.
1.
A
de
te
r
m
in
aç
ão
17

da
id
ad
e
pe
na
l
1
1.
2.
O
di
re
it
o
pe
na
l e
o
ad
ol
es
ce
nt
e
1
1.
3.
A
cu
lp
ab
ili
da
de
d
o
ad
ol
es
ce
nt
e
1
1.
4.
18

El
e
m
en
to
s
da
cu
lp
ab
ili
da
de
1
1.
5.
A
i
m
p
ut
ab
ili
da
de
d
o
ad
ol
es
ce
nt
e
e
o
E
C
A
1
2.
P
R
O
C
E
D
19

I
M
E
N
T
O
S
1
2.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
1
2.
2.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
fr
ac
io
na
l:
co
ns
id
er
aç
õe
s
ge
20

ra
is
1
2.
3.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
fr
ac
io
na
l:
fa
se
pr
el
i
m
in
ar
1
2.
4.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
fr
ac
io
na
l:
m
ed
21

id
as
ca
ut
el
ar
es
1
2.
5.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
fr
ac
io
na
l:
ex
cl
us
ão
d
o
pr
oc
es
so
1
2.
6.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
22

fr
ac
io
na
l:
a
aç
ão
so
ci
oe
d
uc
at
iv
a
1
2.
7.
A
p
ur
aç
ão
de
at
o
in
fr
ac
io
na
l:
te
r
m
in
aç
ão
d
o
pr
oc
es
so
1
23

2.
8.
A
s
m
ed
id
as
so
ci
oe
d
uc
at
iv
as
:
co
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
1
2.
9.
A
s
m
ed
id
as
so
ci
oe
d
uc
at
iv
as
e
m
24

es
pé
ci
e
1
2.
1
0.
Pr
es
cr
iç
ão
1
2.
1
1.
O
ut
ro
s
pr
oc
ed
i
m
en
to
s
d
o
E
C
A
1
2.
1
2.
C
oi
sa
ju
lg
ad
a
1
25

2.
1
3.
Pr
ej
u
di
ci
al
id
ad
e
1
2.
1
4.
R
ec
ur
so
s:
co
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
1
2.
1
5.
O
s
re
cu
rs
os
d
o
E
C
A
26

1
2.
1
6.
A
pe
la
çã
o
1
2.
1
7.
A
gr
av
o
de
in
st
ru
m
en
to
1
2.
1
8.
O
ut
ro
s
m
ei
os
de
i
m
p
u
g
na
çã
o
d
o
27

E
C
A
1
2.
1
9.
E
xe
cu
çã
o
1
3.
A
D
E
F
E
S
A
D
O
S
I
N
T
E
R
E
S
S
E
S
M
E
T
A
I
N
D
I
V
I
D
U
28

A
IS
1
3.
1.
C
o
ns
id
er
aç
õe
s
ge
ra
is
1
3.
2.
C
o
nc
ei
to
de
in
te
re
ss
e
1
3.
3.
C
at
eg
or
ia
s
de
in
te
re
ss
es
m
29

et
ai
n
di
vi
d
ua
is
1
3.
4.
L
eg
iti
m
aç
ão
e
in
te
re
ss
e
1
3.
5.
L
eg
iti
m
ad
os
1
3.
6.
A
de
q
ua
çã
o
da
re
pr
es
en
30

ta
çã
o
1
3.
7.
F
or
m
as
de
pr
ot
eç
ão
n
o
E
C
A
31

1. DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO
O direito brasileiro está inevitavelmente conectado a suas raízes portuguesas. Por sua vez, o direito luso viveu um período de individualização, entre 1140 e 1248, mas até então as fontes espanholas eram praticamente as únicas existentes: durante os séculos XI e XII ainda vigoravam alguns forais, e nessa época havia referências ao Código Visigótico. Até mesmo as Partidas, cuja tradução fora ordenada por D. Dinis, foram recepcionadas em Portugal após a independência.
As Ordenações Afonsinas, ditadas entre 1446 e 1447 em nome do Rei Afonso V, constituíram o primeiro diploma legislativo português importante. Elas haviam tomado por base as Partidas, mas também estavam inspiradas em leis genéricas, resoluções reais, costumes locais, estilos da corte, jurisprudência e alguns preceitos de direito canônico e romano.
As Ordenações Afonsinas foram substituídas, logo no início do século XV, pelas Ordenações Manuelinas, encomendadas a juristas destacados pelo Rei D. Manuel. Na essência, as Ordenações Manuelinas mantinham os ditames da legislação anterior. No que se refere aos menores, permitiam ao juiz aplicar uma pena reduzida ao delinqüente que tivesse entre 17 e 20 anos de idade, proibida a imposição da pena de morte aos menores de 17 anos (Livro III, Título LXXXVIII).
Duas situações concorriam para a necessidade de nova reforma: acrescente produção legislativa exigia uma consolidação; e Felipe II, Rei da Espanha, fora sagrado Rei de Portugal como Filipe I, em 1581. Assim, por um lado poderia ser modernizado o sistema jurídico luso; por outro, “uma carta chancelada por Filipe, levando-lhe o nome, servia para afirmar a usurpação do espanhol no solo português, e uma modificação legislativa de caráter geral, onde se diluíssem os atos anulatórios dos privilégios exorbitantes concedidos por D. Sebastião ao clero, amenizava a impressão de perseguição à Igreja” (Augusto Thompson, Escorço histórico do direito criminal luso-brasileiro, p. 81). Mas os compiladores filipinos estavam mais preocupados em introduzir poucas inovações, limitando-se a ordenar o direito existente. Aliás, o impulso real estava, antes, motivado pelo “Concílio de Trento, aceito e proclamado em Portugal, sem restrições, pelas leis do reinado de D. Sebastião. Esta aceitação dava novo realce ao direito canônico, colocando-o quase no ponto em que se achava na época de D. Afonso II, em que se julgava de nenhum vigor a legislação civil que lhe era adversa, sem declaração autêntica. Os arquitetos do absolutismo real, os juristas romanistas, viram com extremo desprazer este resultado, e indispensável era contrariá-lo; ainda pelos meios a que o Poder Civil estava habituado a servir-se para vencer seus êmulos. Eis a verdadeira causa da codificação das Ordenações Filipinas” (Ruy Rebello Pinho. História do direito penal brasileiro: período colonial, p. 9). Assim, em 11 de janeiro de 1603, durante o reinado de Filipe II (Felipe III da Espanha), entraram em vigor as Ordenações Filipinas, que pouco alteraram, especialmente quanto aos menores, as Ordenações Manuelinas. O Livro V, Título CXXXV, continha uma regra geral, excepcionada por normas particulares: os menores de 17 anos eram isentos da pena capital e sujeitos ás demais; entre os 17 e os 20 anos, o delinqüente podia receber qualquer pena, se houvesse atuado com “grande malícia”, ou tê-la diminuída se não atuasse com tal malícia; a imputabilidade era completa acima dos 20 anos. As Ordenações Filipinas foram as primeiras editadas também no Brasil, na época em que aqui começavam a surgir estudiosos do direito.
A Independência do Brasil, em 1822. não significou o abandono imediato da legislação portuguesa. As Ordenações Filipinas foram assimiladas pelo novo Império através de um decreto de 20 de outubro de 1823, o que acabou permitindo que o primitivo processo penal brasileiro admitisse torturas, açoites e outras práticas atrozes. O direito criminal português — que adotava limites de idade semelhantes aos do direito romano — permitia o arbítrio do juiz, que muitas vezes abandonava o critério etário para levar em conta a malícia do menor.
A Constituição de 1824 garantiu alguns direitos individuais, como a proibição de prisão sem prévio reconhecimento de culpa e a abolição das penas cruéis. Em 16 de dezembro de 1830 foi sancionado o Código Criminal do Império, que, entre outras inovações, estabeleceu o princípio de legalidade. Tal texto legislativo previa a aplicação de medidas correcionais aos menores de 14 anos que houvesse, com discernimento, praticado um ato anti-social. Dos 14 aos 17 anos os delinqüentes eram punidos com a pena correspondente à da

cumplicidade, e dos 17 aos 21 tinham a sanção atenuada. Aos 21 anos começava a imputabilidade.
Em 1832 surgiu o primeiro Código de Processo Criminal brasileiro, que mesclava critérios dos modelos inglês e francês. Este mesmo Código continha regras de administração da justiça civil. Em 1850 foram editados o Código Comercial e o Regulamento 737, de 25 de novembro, e este último continha regras de processo mercantil que acabaram se estendendo, em 1890, ao processo civil. As Ordenações foram totalmente revogadas em 1917, com a vigência do Código Civil.
Durante o século XIX o Brasil passou por um importante período de progresso, que assentou as bases de sua sociedade moderna. As grandes transformações econômicas, políticas e sociais da época provocaram uma mudança de mentalidade: o conceito de infância passou a ser também uma questão social, competência do Estado. Mas a criança nunca deixou de ser tratada como um produto da pobreza, um problema que exigia atenção. Da vertente jurídica dessa concepção surgiu a expressão “menor”, que passou a caracterizar a criança pobre e potencialmente perigosa.
O século XX começou sob a autoridade do Código Penal de 1890, que estabelecia a inimputabilidade absoluta até os 9 anos de idade. Dos 9 aos 14, aqueles que tivessem agido com discernimento deveriam ser recolhidos a estabelecimentos industriais; como esses estabelecimentos nunca foram organizados, os menores eram lançados às prisões comuns. Dos 14 aos 17 anos o discernimento era presumido, mas aplicavam-se as penas da cumplicidade, e dos 17 aos 21 de idade funcionava como atenuante. As sucessivas leis penais, inclusive o atual Código Penal de 1940, reformado em 1984, estabeleceram os 18 anos como limite da maioridade penal.
Foi no começo da República que surgiram as primeiras normas relativas à infância abandonada e delinqüente. Em setembro de 1896 o Senador Lopes Trovão afirmava que haviam chegado os tempos de preparar na infância a célula de uma juventude melhor e a gênese de uma humanidade mais perfeita. Foi ele quem submeteu ao Senado, em 29 de outubro de 1902, o primeiro projeto de uma lei especial sobre menores. Logo surgiriam outras iniciativas, como a do Deputado Alcindo Guanabara, propondo uma lei à Câmara dos Deputados em 21 de outubro de 1906 e ao Senado, em 21 de agosto de 1917. Mas o pioneirismo coube à Lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, que fixava a despesa geral da República. O art. 3° da Lei, de iniciativa do magistrado José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, autorizava o governo a organizar o serviço de assistência e proteção à infância abandonada e delinqüente e abria oportunidade para a criação dos juízos de menores — o que efetivamente aconteceu com a edição dos Decretos n. 16.272 e 16.273, ambos de 20 de dezembro de 1923, que foram ratificados pela Lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924. Em 1926, o Decreto Legislativo n. 5.083, de l° de dezembro, instituiu o Código de Menores, criando novas figuras de crimes e contravenções, além de instrumentos de proteção aos menores.
Toda esta legislação foi, mais tarde, consolidada no Decreto n. 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, que recebeu o nome de Código de Menores e ficou conhecido como Código Mello Mattos. O texto consolidado, que aboliu o critério do discernimento, exigia que os menores estivessem sob os cuidados dos pais até os 14 anos. Quando isso fosse impossível, a medida de internação era aplicada. Dos 14 aos 18 anos se estabelecia um tratamento especial aos menores que fossem classificados como abandonados ou delinqüentes. Para os abandonados eram previstas medidas de entrega ao responsável, tratamento, suspensão ou perda do poder familiar ou alguma outra, a critério do juiz (art. 55). Os vadios não habituais podiam ser repreendidos ou entregues a pessoa idônea; e os habituais, ou que estivessem envolvidos em jogo, tráfico, prostituição ou libertinagem, eram internados até a maioridade em escola de preservação (art. 61). Aos delinqüentes abandonados a lei reservava internação de um a cinco anos; e aos pervertidos, internação de três a sete anos (art. 69, §§ 2° e 3°). O processo, sob a presidência de um juiz único, incluía acusação pelo Ministério Público e defesa técnica por advogado (arts. 148 e 151). Os arts. 68 a 100 da consolidação foram ab-rogados pelo Decreto-Lei n. 6.026, de 24 de novembro de 1943 (“Lei de Emergência”), que estabelecia para os delinqüentes menores de
5

18
anos as medidas de entrega aos pais ou responsável, internamento em estabelecimento de reeducação ou profissional, internamento em estabelecimento adequado e, para os menores de 14 anos, medidas de assistência e proteção (art. 2°).
Após longo período de vigência, o Código de Menores de 1927 já era obsoleto. A doutrina entendia necessário rejeitar as designações menor delinqüente e menor abandonado, e propunha a criação de fórmulas gerais dentro das quais o menor deveria ser assistido. Compreendia-se que não era possível falar em menor abandonado quando, inúteis os esforços dos pais, o filho se entregasse à vadiagem, à prostituição ou à indisciplina; e o cometimento de uma infração penal deveria ser observado como “um simples indício de inadaptação” (Francisco Pereira de Bulhões Carvalho, Reforma do Código de Menores, p. 29). Por outro lado, faltava ao Código estabelecer a possibilidade de uma assistência educativa, quer pela família do menor, quer por instituições especializadas. Além do mais, a vigência do Código Penal de 1940 impunha ao legislador uma adaptação do Código de Menores ao princípio da irresponsabilidade penal dos menores infratores.
A reforma ocorreu em 1943, através do Decreto-Lei n. 6.026, de 24 de novembro, que estabeleceu as medidas aplicáveis aos menores infratores de 14 a 18 anos e impôs uma normativa para a investigação dos fatos por eles praticados. O Decreto, que acabou sendo apenas uma lei de emergência, previa a aplicação de três medidas: a) entrega ao pai ou responsável; b) entrega a um tutor ou pessoa que assumisse a guarda: c) internação em estabelecimento de reeducação profissional. Mas tais medidas, longe de guardar relação com os princípios do Código Penal, distinguiam os menores apenas segundo sua periculosidade.
Nova reforma veio através da Lei n. 5.258, de 10 de abril de 1967, que alterou o procedimento relativo aos menores delinqüentes e tornou obrigatória a internação — com o que, anota Alyrio Cavailieri. se “subvertia toda a filosofia do Direito do Menor, afastando-se da idéia chave da reeducação, do tratamento” (1.000 perguntas de direito do menor, p. 48). Não tardou para que a Lei n. 5.439, de 22 de maio de 1968, restabelecesse as medidas previstas pelo Decreto-Lei n. 6.026/43: se não houvesse periculosidade, o menor podia ser deixado com o pai ou responsável, confiado a tutor ou a quem assumisse sua guarda ou internado em estabelecimento de reeducação ou profissional: se evidenciasse periculosidade, seria internado em estabelecimento adequado até que o juiz declarasse cessada aquela situação (art. 2° I e II).
Após outras tentativas de reforma, o Senador Nelson Carneiro resgatou um projeto da década de 1950 e o apresentou como um novo projeto, que recebeu o número 105 e passou a receber emendas. Com alterações introduzidas por um substitutivo elaborado por juristas paulistas, e com emendas propostas por juízes de menores, o projeto foi ultimado e se converteu no Código de Menores (Lei n. 6.697, de 10-12-1979, que entrou em vigor em 8-2-1980).
O Código de Menores de 1979 dispunha sobre assistência, vigilância e proteção aos menores de 18 anos, que se encontrassem em situação irregular, ou entre 18 e 21 anos, nos casos expressos em lei (art. 1°). Eram previstas seis situações irregulares — que determinavam a competência da Justiça de Menores —, graduadas desde o abandono até a infração penal (art. 2°).
O Código propunha para elas seis diferentes medidas de assistência e proteção, desde a advertência ou entrega do menor a seus pais até a internação (art. 14). Não havia proporcionalidade entre as situações irregulares e as medidas, de modo que a aplicação destas dependia de um exame socioeconômico e cultural do menor e de sua família. Com isso, as medidas detentivas de segurança podiam ser aplicadas independentemente da prática de um fato delitivo. O juiz e o promotor não eram sujeitos neutros: assumiam uma função tuitiva, e não integravam uma tríplice relação processual. Aliás, as medidas podiam ser aplicadas mediante procedimentos administrativos ou contraditórios, de iniciativa oficial ou provocados pelo Ministério Público ou por quem tivesse legítimo interesse (art. 86).
6

Três documentos internacionais deram origem a uma mudança no modelo legislativo brasileiro: as Regras Mínimas para a Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing, Res. 40/33, de 29-11-1985, da Assembléia Geral das Nações Unidas); a Convenção sobre os Direitos da Criança (Res. 1.386, de 20-11-1989, da Assembléia Geral da ONU); e as Diretrizes para a Prevenção da Delinqüência Juvenil (Diretrizes de Riad, Res. 45/112. de 14-12-1990, da Assembléia Geral da ONU). A eles se uniram as Regras Mínimas das Nações Unidos para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. A doutrina da ONU reconheceu a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, e não apenas como objeto de proteção, e a partir daí recomendou aos países-membros que estabelecessem uma justiça especializada e que construíssem um modelo processual caracterizado pelo processo devido, pela presunção de inocência e pelos critérios de proporcionalidade e igualdade.
A CF de 1988, ainda que anterior à Convenção sobre os Direitos da Criança, utilizou como fonte o projeto da normativa internacional e sintetizou aqueles preceitos que mais tarde seriam adotados pelas Nações Unidas. Uma vez imposto um novo rumo pela Constituição, editou-se a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que também deveria concentrar a tarefa de manter perfeita identidade com a Convenção da ONU. Claro que a própria diretriz da nova lei não ficou imune a críticas: limitando-se a considerar a condição peculiar do criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento (art. 6°). o ECA estaria apartado do art. 3 da Convenção, que dispõe: em todas as medidas concernentes aos menores que adotem as instituições públicas ou privadas de bem-estar social, os tribunais, autoridades administrativas ou os órgãos legislativos, uma consideração primordial o que se atenderá será o interesse superior do menor. O Estatuto poderia mesmo estar adaptado à normativa internacional, até por influência do anterior Código de Menores de 1979 (art. 5°); mas uma interpretação sistemática conduz à inevitável conclusão de que o interesse de crianças e adolescentes segue sendo a meta do novo modelo. Como afirma Antônio Fernando Amaral e Silva, os fins sociais do Estatuto, refletidos na promoção e na defesa dos direitos, constituem uma diretriz para que o interesse supremo seja o direito da criança e do adolescente, e não mais um duvidoso e supostamente melhor interesse, dependente do critério subjetivo do intérprete (O Judiciário e os novos paradigmas conceituais e normativos da infância e da juventude, Jurisprudência Catarinense, n. 74, p. 13).
O ECA permitiu que o direito de menores cedesse lugar ao direito da infância e da juventude. A opção teve como fundamento o abandono da doutrina da situação irregular em favor da doutrina da proteção integral. Consequentemente, substituiu-se uma justiça de menores, tuitiva e paternalista, por uma justiça da infância e da juventude adequada ao direito científico e às normas constitucionais. O Estatuto proscreveu o termo “menor” e preferiu os vocábulos criança e adolescente para definir, respectivamente, as pessoas de até 12 anos e aquelas que tenham entre 12 e 18 anos (art. 2°). A distinção, a nosso ver, utiliza melhor técnica que a Convenção da ONU e a maior parte das leis estrangeiras, que se referem ao menor como toda pessoa de menos de 18 anos de idade. A superioridade do conceito adotado pelo Estatuto pode ser notada especialmente quando se fala do processo por ilícito penal, cujo único sujeito ativo é o adolescente. Ademais, o termo “menor” tem conteúdo normativo jurídico escasso e se presta a diferentes definições.
2. FONTES
2.1. Considerações Gerais
O termo “fonte” pode ser compreendido em três acepções: “a) fonte do Direito, ou seja, a causa ou raiz daquilo que é jurídico; b) fontes do direito positivo, isto é, as forças sociais que produzem legitimamente, dentro de uma organização jurídica, os distintos tipos de normas que constituem seu ordenamento jurídico; e c) fontes de conhecimento do Direito positivo, ou seja, o material utilizado para poder averiguar o conteúdo das normas” (Pedro Aragoneses Alonso e Sara Aragoneses Martínez, Curso de derecho procesal penal. p. 49). Interessam,
7

aqui, tanto as fontes do direito positivo quanto as fontes de seu conhecimento.
2.2. Normas de Organismos Internacionais
Os direitos e garantias de crianças e adolescentes encontram um efetivo apoio em normas de organismos internacionais. De fato, o trabalho incessante das Nações Unidas, desde a metade dos anos oitenta, produziu textos de grande importância, destacando-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Res. 217, de 10-12-1948, da Assembléia Geral das Nações Unidas), a Declaração dos Direitos da Criança (Res. 1.386, de 20-11-1959, da Assembléia Geral das Nações Unidas), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Res. 2.200, de 19-12-1966, da Assembléia Geral das Nações Unidas), as Regras Mínimas para a Administração da Justiça de Menores — Regras de Beijing (Res. 40/33, de 29-11-1985, da Assembléia Geral das Nações Unidas), a Convenção sobre os Direitos da Criança (Res. 1.386, de 20-11-1989, da Assembléia Geral das Nações Unidas), as Diretrizes para a Prevenção da Delinqüência Juvenil — Diretrizes de Riad (Res. 45/1 12. de 14-12-1990. da Assembléia Geral das Nações Unidas, e as Regras para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade (Res. 45/113, de 14-12-1990, da Assembléia Geral das Nações Unidas).
2.3. A Constituição
Num ordenamento estatal moderno há normas de estrutura, isto é, normas encarregadas de regular a conduta das pessoas, e normas encarregadas de regular a produção de outras normas (Norberto Bobbio. Teoria general dei derecho, p. 171-173), prevalecendo, em qualquer caso, a Constituição sobre todas as demais normas.
A CF contém vários preceitos que direcionam a ordem penal, civil e processual, assim como aqueles direitos e garantias de qualquer pessoa e, particularmente, de crianças e adolescentes.
Destaca-se, neste último aspecto, o art. 227 da CF. que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao Lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
A CF inaugurou um verdadeiro sistema de proteção de direitos fundamentais que é próprio de crianças e de adolescentes. Assim, estabeleceu princípios que viriam a se converter em diretrizes do ECA: o reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e a garantia de prioridade absoluta no atendimento de seus direitos.
Aliás, a CF positivou direitos peculiares de crianças e adolescentes: a) idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7°, XXXIII; b) garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; c) garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; d) garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; e) Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito á condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade; f) estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado; g) programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
8

2.4.O Código Civil
Fonte do direito relativo a crianças e adolescentes é também o Código Civil, especialmente no que diz respeito á capacidade. A propósito, a edição do novo CC vem suscitando algumas discussões a respeito da possível revogação de dispositivos do ECA.
A questão não é simples. É verdade que o ECA, construído sobre a doutrina da proteção integral, exige obediência estrita à condição peculiar de seus destinatários — pessoas em processo de desenvolvimento — e à garantia de prioridade absoluta.
Por outro lado, o ECA “abrange matérias de direito civil, umas próprias do direito de família, outras não; mas abrange, também, matérias de natureza bem diversa, tanto de direito processual como de direito material, nestas últimas, matérias de natureza trabalhista, de natureza penal, de natureza administrativa, e algumas, ainda, relacionadas ás liberdades políticas. Configura, por assim dizer, um microssistema, vale dizer, corpo normativo que regula completamente o Direito da Criança e do Adolescente, em todos os seus aspectos, mecanismo absolutamente necessário diante da magnitude dos interesses envolvidos, que reclamam tratamento de direito privado e de direito público de forma harmônica e sistemática” (Nelson Nery Júnior e Martha de Toledo Machado, O Estatuto da Criança e do Adolescente e o novo Código Civil a luz da Constituição Federal: princípio da especialidade e direito intertemporal, Revista de Direito Privado, n. 12. p. 14).
Esta especificidade não resolve todos os conflitos entre o ECA e o CC. É que nem todos os dispositivos do ECA são especiais em relação ao CC, senão que, ao contrário, determinadas matérias previstas no CC é que são especiais em relação ao Estatuto. Uma das hipóteses em que deve prevalecer o CC e a da diminuição do limite etário da capacidade civil plena, que passa a incidir sobre o ECA.
Pode-se, em resumo, dizer que não existe a relação de especialidade “na matéria própria do Direito Civil, em que os dispositivos do ECA não dizem com este sistema especial de proteção aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, mas sim limitaram-se a positivar as atualizações que o legislador ordinário entendeu necessário fazer ao Código Civil de 1916 — não correlacionadas com os direitos fundamentais de crianças e adolescentes” (Nelson Nery Júnior e Martha de Toledo Machado, O Estatuto da Criança e do Adolescente e o novo Código Civil à luz da Constituição Federal: princípio da especialidade e direito intertemporal. Revista de Direito Privado, n. 12, p. 16). O novo CC, nestes aspectos, revogou implicitamente o ECA.
2.5. O Código Penal
Importantíssima fonte do direito processual do adolescente é o Código Penal, que, em verdade, condiciona todo o mecanismo de uma justiça juvenil. No Código Penal se encontram as definições de imputabilidade e de maioridade para efeitos penais. Conforme disponha o Código Penal, o autor de um fato típico estará, ou não, sujeito a um juízo de ordem criminal.
O ECA foi aprovado sob a vigência do CP de 1940, que estabelece a presunção de inimputabilidade dos menores de 18 anos (art. 104).
O CP também atua para determinar quais são os fatos que podem dar causa a um processo na justiça da infância e da juventude. O próprio ECA estabelece expressamente a instrumentalidade do CP na aplicação, aos adolescentes, do princípio de tipicidade como manifestação do princípio de legalidade.
2.6. O Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil
A legislação processual ordinária tem aplicação supletiva em relação ao ECA (art. 152).
9

Ainda que o ECA tenha desenhado um sistema processual próprio e autônomo, permitiu, não obstante, que se aplicassem, quando necessário, normas gerais do processo.
Evidentemente, só se permite a aplicação da legislação processual quando adequada à autonomia do processo previsto no ECA.
Isto significa que é necessário verificar a correspondência dos princípios gerais do processo, tipificados pela legislação processual pátria, com as exigências metodológicas que permitem a construção do sistema processual do Estatuto.
O resultado final dessa adequação poderia, em última análise, demonstrar a existência de contraprincípios gerais contrapostos àqueles contidos no CPP e no CPC; e se chega a tais princípios através de exigências metodológicas de integração com os critérios básicos que sustentam o sistema processual traçado pelo ECA.
3. DIREITOS FUNDAMENTAIS
3.1. Considerações Gerais
Os chamados “direitos humanos” não são propriamente direitos, como aqueles protegidos pela possibilidade de ação processual em juízo, mas critérios morais de especial relevância para a convivência humana. Quando determinados direitos humanos se convertem em direito positivo, passam a ser “direitos fundamentais” num determinado ordenamento jurídico. É este ordenamento que tem aptidão para conferir a tais direitos um status que os torna mais importantes que os demais direitos.
É a Constituição, em regra, que estabelece um tratamento diferenciado para tais direitos, cuja positivação permite a transformação de critérios morais em autênticos direitos subjetivos dotados de maior proteção que os direitos subjetivos “não-fundamentais” (sobre o tema. cf. Gregório Robles. Los derechos fundamentales y la ética cu la sociedad actual).
O ECA parte da Constituição, portanto, para estabelecer alguns direitos fundamentais próprios de crianças e adolescentes. Reitere-se que o art. 227 da CF procura garantir, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e à convivência familiar e comunitária.
A garantia constitucional permite a tutela daqueles direitos não reconhecidos espontaneamente, mas uma tutela diferenciada, em que o juiz “não pode se comportar como o juiz comum, devendo julgar relevando a importância da validação desses interesses juridicamente protegidos na construção do Estado Democrático de Direito”, e que “atende às peculiaridades do direito material, no seu conteúdo e extensão, impondo ato de validação concorde com os princípios determinantes de sua formulação” (Paulo Afonso Garrido de Paula. Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada, p. 76).
3.2. Direito à Vida e à Saúde
O ECA declara a proteção à vida e à saúde da criança e do adolescente, atribuindo às políticas sociais públicas a missão de permitir o nascimento e o desenvolvimento sadio, harmonioso e digno.
Tal proteção consiste na atribuição de algumas garantias que antecedem mesmo o nascimento, e outras que são próprias da criança e do adolescente (arts. 8° a 14 do ECA).
10

À gestante é assegurado o atendimento pré e perinatal gratuito pelo sistema público de saúde, incluindo-se neste atendimento o fornecimento gratuito de alimentação, inclusive durante o aleitamento, e de medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
Também se assegura o mesmo atendimento médico à criança e ao adolescente, garantido o acesso universal e igualitário as ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, com atendimento especializado para os portadores de deficiência. Corresponde ao Sistema Único de Saúde a promoção de programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, além de campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.
Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: a) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos; b) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe; c) proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; d) fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; e) manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Por outro lado, esses estabelecimentos deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente.
Insere-se ainda entre as obrigações de tais estabelecimentos a comunicação, ao Conselho Tutelar, dos casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, sem prejuízo de outras providências legais.
Por Último, o ECA afirma a obrigatoriedade da vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
É direito de crianças e adolescentes que seus pais ou responsáveis lhes assegurem a vacinação. Em caso de omissão, o Ministério Público e outros interessados (parentes próximos, p. ex.) podem buscar amparo judicial.
3.3. Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Segundo determina o ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e á dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis (art. 15).
O direito á liberdade compreende os seguintes aspectos: a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; b) opinião e expressão, c) crença e culto religioso, d) brincar, praticar esportes e divertir-se, e) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; f) participar da vida política, na forma da lei; g) buscar refúgio, auxílio e orientação (art. 16 do ECA).
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais (art. 17 do ECA).
Para assegurar a dignidade da criança e do adolescente, o ECA determina ser dever de todos mante-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (art. 18).
3.4. Direito à Convivência Familiar e Comunitária: A Família Natural
11

O ECA elevou a convivência familiar e comunitária á categoria de direito fundamental, determinando a prevalência de uma solução natural: crianças e adolescentes não devem ser separados dos pais biológicos, ainda que a estes faltem ou sejam insuficientes os recursos materiais (art. 23 do ECA).
É nesta família natural, que a lei define como a comunidade formada pelos pais, ou qualquer deles, e seus descendentes (art. 25 do ECA), que crianças e adolescentes têm o direito de ser criados e educados.
Por outro lado, os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas á filiação (arts. 227. § 6°. da CF, 20 do ECA e 1.596 do CC). A distinção entre filiação legítima e ilegítima ficou limitada ao plano doutrinário.
Os filhos havidos fora do casamento podem ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente. A matéria era objeto do art. 26 do ECA, que foi ampliado pela Lei n. 8.560/92, cujo art. 1° por sua vez, foi repetido pelo art. 1.609 do Código Civil.
O reconhecimento pode ser feito no próprio registro do nascimento, por documento público ou particular, por testamento ou perante o juiz (art. 1.607 do CC).
O reconhecimento é direito indisponível e imprescritível, e a ação correspondente pode ser exercitada pelo filho, enquanto viver, por seus herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz (art. 1.606 do CC), pelo Ministério Público ou por qualquer pessoa que tenha legítimo interesse. Aliás, foi a Lei n. 8.560/92 que ampliou o rol dos legitimados, com o que a vindicação da paternidade deixou de ser direito personalíssimo.
Os menores de 18 anos estão sujeitos ao poder familiar, que deve ser exercido em igualdade de condições por pai e mãe, assegurado o recurso ao juiz, por qualquer deles, em caso de divergência (arts. 21 do ECA e 1.631 do CC). O poder familiar confere aos pais uma série de poderes-deveres em relação aos filhos: a) dirigir-lhes a criação e educação; b) tê-los em sua companhia e guarda; c) conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; d) nomear-lhes tutor, representá-los nos atos da vida civil, até os 16 anos, e assisti-los, após essa idade; e) reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; e f) exigir-lhes que prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição (art. 1.634 do CC). Parecem-me ociosos dois outros atributos encontrados no art. 22 do ECA: o dever de sustento está incluído na guarda (art. 33 do ECA), e a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais deriva, muito antes, da força que é essencial à jurisdição.
O conjunto de atributos que constitui o poder familiar está sujeito a determinadas crises que podem determinar a suspensão ou a extinção de seu exercício.
A suspensão pode ser decretada pelo juiz, em processo jurisdicional informado pelo contraditório, se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos (art. 1.637 do CC). Neste caso, a suspensão perdurará até que seja removida sua causa, ou até que seja adotada outra medida suficiente para assegurar o filho e seus haveres. Suspende-se também o exercício do poder familiar pelo pai ou mãe condenado por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão (art. 1.637, parágrafo único, do CC).
A morte dos pais ou do filho, a emancipação e a maioridade (art. 1.635 do CC) são as formas típicas de extinção do poder familiar, porque configuram hipóteses em que, como é evidente, tal poder simplesmente acaba. A adoção só determina a extinção do poder familiar quando há consentimento dos pais do adotando (arts. 166 do ECA e 1.621 do CC), já que nas demais hipóteses a falta deste consentimento funciona como pressuposto da extinção. Por último, a extinção pode derivar de uma sentença judicial, também proferida em processo contraditório, que declare a ocorrência de uma das seguintes causas de perda do poder familiar: a) aplicação de castigos imoderados ao filho; b) abandono do filho; c) prática de atos contrários à moral e aos bons costumes; e d) reiteração nas faltas que autorizam a suspensão do poder familiar (art. 1.638 do CC).
12

O processo para a destituição do poder familiar exige um procedimento que garanta o direito à contradição (arts. 155 e s. do ECA). Pode ser iniciado pelo Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse, como o guardião, o interessado na adoção ou na tutela ou a própria criança ou adolescente. O juiz poderá suspender o poder familiar, liminar ou incidentalmente, se houver “motivo grave”. O motivo grave está associado a qualquer risco a criança ou adolescente que tenha de cessar imediatamente. O requerido será citado para. em 10 dias, responder e requerer provas. Não se presume a revelia do réu, de modo que o juiz não pode decretar a perda do poder familiar sem prova da existência de pelo menos uma das hipóteses do art. 1.638 do CC. Apresentada a resposta, o juiz dará vista ao Ministério Público por 5 dias, se outro for o autor, e desde logo designará audiência de instrução e julgamento. Na audiência serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o parecer técnico, se houver, manifestando-se as partes e o Ministério Público por 20 minutos cada um. A decisão será proferida em audiência ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 5 dias.
O ordenamento jurídico brasileiro não proíbe o ajuizamento de ação para que os pais destituídos do poder familiar pleiteiem sua restituição, exigindo-se que demonstrem a cessação das causas que determinaram a medida. Excetua-se a hipótese de já haver sido a criança ou o adolescente posto em adoção, porque esta modalidade de colocação em família substituta tem o efeito de desligar o adotado de todos os vínculos com sua família biológica (art. 41 do ECA).
3.5. Direito à Convivência Familiar e Comunitária: A Família Substituta
Constitui ainda direito fundamental de crianças e adolescentes, quando não seja possível a convivência com a família natural, a colocação em família substituta.
A inserção em família substituta admite três modalidades distintas: a guarda, a tutela e a adoção, que sempre serão deferidas nos termos do ECA, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente (art. 28 do ECA).
A família substituta deve garantir suficiente proteção à criança ou ao adolescente. Por isso, não se deferirá guarda, tutela ou adoção à pessoa que revele incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado (art. 29 do ECA), isto é, aquele “propício a oferecer o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de crianças e adolescentes, em condições de liberdade e dignidade” (Cury, Garrido e Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 42).
3.6. Guarda
Um dos atributos do poder familiar, a guarda consiste na prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente. Trata-se da mais precária das formas de colocação em família substituta: em regra, é aplicada como medida preparatória de tutela ou de adoção. Deferida liminar ou incidentalmente nos processos de uma ou de outra, regulariza desde logo a situação fática (art. 33, § 1° do ECA).
Fora dos casos de tutela ou adoção, a guarda constitui exceção. Serve para atender a situações peculiares, como a falta eventual dos pais ou responsáveis. Também se destina a conferir a seu detentor o direito de representação ou assistência para a prática de atos determinados, que deverão ser pedidos pelo autor e especificados pelo juiz (art. 33, § 2°, do ECA).
A guarda pode ser deferida a qualquer pessoa maior e capaz que não revele incompatibilidade com a medida. Excetuam-se tutores e pais — que já a exercem por força de Lei — e os estrangeiros residentes ou domiciliados fora do país (arts. 31 e 33, § l°, do ECA).
Pode a guarda conviver com o poder familiar, já que é mero fragmento dele. Depende, contudo, de concordância dos pais ou, não havendo tal assentimento, de sentença proferida em processo contraditório. Uma
13

vez
deferida, confere a seu detentor o direito de oposição a terceiros, inclusive aos pais (art. 33, caput, do ECA).
Do ponto de vista da criança ou do adolescente, a guarda confere a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (art. 33, § 3°, do ECA).
Isto não significa a possibilidade de atribuição da guarda apenas para fins previdenciários: a condição de dependente é conseqüência, e não causa da guarda. Cessados os motivos que a determinaram, a guarda pode ser revogada por decisão judicial motivada.
3.7. Tutela
Destina-se a tutela a conferir ao tutor a representação legal do incapaz, nos casos de falecimento ou ausência dos pais ou de falta de poder familiar. Por isso mesmo, exige prévia suspensão ou extinção do poder familiar.
A disciplina da tutela é toda reservada ao CC (arts. 1.728 e s.). e, por isso, seu estudo foge ao propósito deste trabalho. Saliente-se apenas que os arts. 36 e 37 do ECA foram revogados pelo CC de 2002 (arts. 5°. 1.728. 1.740, I a III, e 1.745), permanecendo em vigor, no entanto, o art. 38 do Estatuto.
3.8. Adoção
Mais complexa das modalidades de colocação em família substituta, a adoção consiste na atribuição, por sentença, da condição de filho a alguém (arts. 41 do ECA e 1.626, parágrafo único, do CC).
A vigência do Código Civil, instituído pela Lei n. 10.406. de 10 de janeiro de 2002, vem provocando alguns debates relativos à adoção, notadamente quanto à eventual derrogação dos dispositivos do ECA que incidem sobre o assunto. Parece, no entanto, que a doutrina e a jurisprudência tendem a conciliar os dois diplomas: de fato, construído sobre a doutrina da proteção integral, o ECA exige obediência estrita à condição peculiar de seus destinatários, pessoas em processo de desenvolvimento, e à garantia de prioridade absoluta. Assim, “como as principais relações jurídicas entre o mundo infanto-juvenil e o mundo adulto encontram-se disciplinadas no microssistema criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a elas são aplicáveis as normas nele previstas. Somente devem incidir as normas do Código Civil, do Código de Processo Civil etc., quando houver lacuna no Estatuto da Criança e do Adolescente, e mesmo assim se não forem incompatíveis com os seus princípios fundamentais” (Paulo Afonso Garrido de Paula, Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada, p. 83). Creio que é sob essa orientação que se deve ler a reforma civil.
De qualquer maneira, o CC seguiu, em linhas gerais, a regulação do ECA. Assim, não resta espaço para a adoção celebrada entre partes. Só por sentença poderá constituir-se a adoção, ainda que se trate de pessoa maior de 18 anos (art. 1.623 e parágrafo único, do CC). De fato, é extremamente conveniente que a adoção seja sem-pre assistida pelo Poder Público, evitando-se sua constituição por escrito particular. Fica evidente o fim da dicotomia entre as formas de adoção paia maiores e menores de 18 anos. Por outro lado. a adoção é, agora, uma só, e o CC passa a dirigir-se também a crianças e adolescentes (arts. 1.621 e parágrafos, 1.623, parágrafo único, e 1.624). É verdade que a unidade conceituai não evita a persistência de algumas peculiaridades do tratamento da adoção do maior de 18 anos; mas a adoção de criança e adolescente continua regida pelo ECA, com alterações parciais produzidas pela vigência do CC.
3.8.1. Requisitos subjetivos da adoção
14

O CC e o ECA estabelecem requisitos para os adotantes e para os adotandos.
O ECA permitia que adotassem as pessoas maiores de 21 anos (art. 42), admitindo, no caso de adoção requerida por cônjuges ou companheiros, que apenas um deles tivesse esta idade (art. 42, § 2°). O CC manteve as duas hipóteses, mas reduziu o limite de idade para I8 anos (art. 1.618 e parágrafo único), sempre que o adotante seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotado (art. 42, § 3°, do ECA e 1.619 do CC).
A proibição de adoção por ascendentes e irmãos, prevista no art. 42, § l°, do ECA, não encontra correspondência no CC. A questão, anteriormente ao advento do ECA, chegou a ser polêmica — e deverá tornar a ser debatida quanto se tratar de adoção de maiores de 18 anos. Em relação a crianças e adolescentes, contudo, mantém-se íntegra a regra do ECA, que neste aspecto não foi revogada pelo CC.
Divorciados e separados judicialmente podem adotar, em conjunto, se houver acordo sobre guarda e visitas e desde que o estágio de convivência haja sido iniciado na constância da sociedade conjugal (arts. 42. § 4°, do ECA e 1.622, parágrafo único, do CC).
O ECA sempre permitiu o debate em torno da possibilidade de adoção por pessoas que não vivam maritalmente. O CC procurou solucionar a controvérsia, determinando que a adoção só pode ser requerida por duas pessoas quando se trate de marido e mulher, ou que vivam em união estável (art. 1.622. caput). A regra elimina também qualquer polêmica sobre a possibilidade de adoção por duas pessoas do mesmo sexo, porque a união estável só é admitida entre homem e mulher (art. 1.723 do CC).
É possível a adoção pelo cônjuge ou companheiro de um dos pais do adotando (art. 1.626, parágrafo único, do CC, que repetiu o art. 41, § 1°, do ECA), rompendo-se apenas um dos lados do poder familiar. Aquele que se casa com viúva, por exemplo, pode adotar unilateralmente o filho desta, mantidos os vínculos que já existiam com a mãe. De qualquer maneira, é fundamental que não haja o poder familiar de um dos pais, e que este poder seja afastado por sentença.
A chamada adoção póstuma é aquela deferida após a morte do requerente. É necessário que o falecido tenha manifestado expressamente, em juízo, a vontade de adotar, e que o processo de adoção esteja em curso no momento do óbito. Neste caso, a adoção tem eleitos retroativos à data da morte (arts. 42, § 5°, do ECA e 1.628 do CC).
Admite-se a adoção por aquele que é tutor ou curador do adotando. É necessária, contudo, prévia prestação de contas e demonstração da inexistência de débitos (arts. 44 do ECA e 1.620 do CC).
Os interessados em adotar devem ser cadastrados em juízo, conforme determina o art. 50 do ECA. Atentos, contudo, à falta de um cadastro centralizado confiável, quer de âmbito nacional ou meramente estadual, os tribunais têm permitido a adoção por pessoas não cadastradas que demonstrem honestidade de propósitos e verdadeira intenção de constituir os laços de filiação (confira-se, a propósito, acórdão do TJSP proferido no AgI 77.737-0/1. Comarca de Piedade, rel. Des. Mohamed Amaro, em 29-3-2001).
A adoção exige prévio contato pessoal entre adotantes e adotado. É por isso que o ECA veda a adoção por procuração (art. 39, parágrafo único).
Qualquer pessoa pode ser adotada sob o regime do ECA, desde que tenha menos de I8 anos ou já esteja sob a guarda (judicial ou de fato) ou tutela dos adotantes (art. 40 do ECA). A adoção de maior de 18 anos, sem que haja guarda ou tutela anterior a essa idade, não se subordina a qualquer regra restritiva contida no ECA; e mesmo a competência para conhecer do pedido se desprende do juízo da infância e da juventude para vincular-se ao juízo de família.
3.8.2. Requisitos objetivos da adoção
15

A adoção se constitui por sentença proferida em processo judicial. A conclusão decorre da exigência de que a adoção seja, em qualquer caso, assistida pelo poder público, independentemente da idade do adotando (art. 1.623 e parágrafo único do CC).
É possível a cumulação do pedido de adoção com o de destituição do poder familiar; mas neste caso, por força do art. 292, § 2°, do CPC, deverá ser adotado o procedimento ordinário ou o procedimento de destituição do poder familiar (arts. 155 e s. do ECA), em detrimento do estreito rito da colocação em família substituta (arts. 165 e s. do ECA).
Outro requisito da adoção é o consentimento dos pais ou do representante legal do adotando (arts. 45 do ECA e 1.621 do CC). O consentimento deverá ser manifestado em audiência, perante o juiz, presente o Ministério Público (art. 166. parágrafo único, do ECA), e, naturalmente, só pode ser dado por pessoa capaz ou por incapaz assistido ou representado. Nenhuma outra forma de consentimento é válida. Não havendo poder familiar, o consentimento dos pais será evidentemente desnecessário, como também desnecessário será o consentimento quando se tratar de criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do poder familiar (arts. 45. § 1°, do ECA e 1.621. § 1°, do CC). Não é este o tratamento a ser dado aos pais que, não constando do registro, são conhecidos: destes, por certo, o consentimento deverá ser exigido.
O § 2° do art. 1.621 do CC resolve problema prático ao permitir a retratação do consentimento até a publicação da sentença constitutiva de adoção. Note-se que, neste caso, não há decretação de perda do poder familiar, sendo mesmo razoável admitir-se o arrependimento.
O art. 1.624 também incide sobre a matéria, declarando não ser necessário o consentimento do representante legal, se provado tratar-se de infante exposto, ou de menor cujos pais sejam desconhecidos, estejam desaparecidos, ou tenham sido destituídos do poder familiar, sem nomeação de tutor; ou de órfão não reclamado por qualquer parente, por mais de um ano.
O dispositivo não é suficientemente claro: é verdade que qualquer das hipóteses de extinção do poder familiar dispensa também o consentimento dos pais, a exemplo do que ocorre na adoção do maior de 18 anos, que passa a ser absolutamente capaz diante da lei civil (art. 5° do CC).
Aqui, no entanto, sugere-se a inserção de parentes no pólo passivo da adoção: caso algum parente haja reclamado o órfão, deverá ser citado para a ação. Por outro lado, o CC deveria ter evitado o vocábulo “reclamado”, que não tem nenhum conteúdo jurídico.
Haverá, por último, necessidade de meditar-se sobre o sentido da expressão “pais desaparecidos”: que tempo de ausência será necessário para configurar o desaparecimento? Quais as diligências mínimas a serem realizadas para dar-se por consumado o desaparecimento? Diante da indefinição, sempre será mais conveniente promover-se a ação devida para o afastamento do poder familiar.
O ECA exigia também o consentimento do adotando maior de 12 anos (art. 45. § 2°). O CC preferiu determinar a necessidade de concordância do maior de 12 anos (art. 1.621, caput). Pareceu-me feliz a alteração, porque o termo consentimento tem conteúdo jurídico determinado e requer uma exatidão formal que dificilmente seria obtida num processo de adoção. Assim, a falta de concordância do adotando maior de 12 anos impede a concessão da adoção, não sendo dado ao juiz substituir-lhe a vontade.
O ECA considera requisito da adoção que ela represente vantagem para o adotando e esteja fundada em motivos legítimos (art. 43). O CC passou a exigir o “efetivo benefício” para o adotando (art. 1.625), o que impede que o mero proveito econômico para o adotando possa ser invocado como motivo legítimo para a adoção.
Por último, a adoção só será deferida após o estágio de convivência, que consiste num período fixado pelo juiz para a aferição da adaptação do adotando ao novo lar — e que pode ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de idade ou se o tempo de convivência com os adotantes já for suficiente para a
16

avaliação.
3.8.3. Efeitos da Adoção
O primeiro dos efeitos da adoção é a atribuição da condição de filho ao adotado. Como conseqüência, são desfeitos os vínculos do adotado com pais e parentes biológicos, salvo para efeitos de impedimentos matrimoniais (arts. 41 do ECA e 1.626 do CC, com ligeira diferença de redação) e quando se tratar de adoção unilateral.
A mesma condição de filho, estabelecida pela adoção, conduz à formação de parentesco entre o adotante e o adotado, e ainda entre aquele e os descendentes deste e entre o adotado e todos os parentes do adotante (arts. 41, caput, do ECA e 1.628 do CC). O CC manteve a limitação contida no § 2° do art. 41 do ECA, que restringia o direito sucessório aos ascendentes, descendentes e colaterais até o 4° grau (art. 1.839).
Os efeitos da sentença concessiva da adoção se produzem a partir do trânsito em julgado, exceto no caso da adoção póstuma. Um desses efeitos, porém, é antecipado por força de lei: havendo o consentimento dos pais, a simples publicação da sentença concessiva de adoção impede a retratação (art. 1.621 do CC).
É efeito da sentença transitada em julgado a irrevogabilidade da adoção (arts. 48 e 49 do ECA). A falta de referência do CC não tornou a adoção revogável: primeiro, porque ela atribui a condição de filho ao adotado; segundo, porque o vínculo se constitui por sentença judicial revestida de toda a firmeza da coisa julgada.
No regime do CC, permite-se a alteração do sobrenome do adotado (art. 1.627 do CC, que manteve o art. 47, § 5°, do ECA). Tratando-se de adotando menor, o prenome também poderá ser alterado, a pedido do adotante ou do adotado. Note-se, aqui, que a alteração do prenome a pedido do adotado é inovação do art. 1.627 do CC em relação ao art. 47, §5°, do ECA.
A sentença judicial concessiva da adoção será inscrita no registro civil, mediante mandado que cancelará o registro original do adotado. Não se permitem designações discriminatórias relativas à filiação, nem qualquer observação sobre a origem do ato (arts. 47 do ECA e 1.596 do CC).
3.8.4. Adoção internacional
A adoção por estrangeiros residentes ou domiciliados fora do Brasil está subordinada a algumas regras específicas. o ECA a considera excepcional (art. 31), admissível apenas quando constatada a impossibilidade de adoção por nacionais.
Cada um dos pedidos se condiciona a uma prévia habilitação dos interessados perante uma comissão estadual judiciária de adoção (art. 52 do ECA). O estrangeiro deve demonstrar aptidão para adotar segundo as leis de seu país, sem prejuízo de cumprir, no Brasil, um estágio de convivência de pelo menos 15 dias para crianças de até 2 anos de idade e pelo menos 30 dias para adotandos com idade superior (art. 46, § 2°, do ECA). Só se permite a saída do adotando do país após o trânsito em julgado da sentença concessiva da adoção (art. 51, § 4°, do ECA).
O CC remeteu a disciplina da adoção internacional a uma legislação futura (art. 1.629). Esta disposição só se aplica à adoção de maiores de 18 anos, e portanto não revoga as regras de adoção internacional previstas no ECA.
3.9. Direito à Educação, à Cultura e ao Lazer
17

O ECA garante à criança e ao adolescente o atendimento em creche e pré-escola, de zero a 6 anos de idade, assim como o acesso ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito e igualitário, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Aos portadores de deficiência é garantido o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (arts. 53 e 54). Em qualquer caso, o atendimento deverá ser prestado em estabelecimento próximo da residência do aluno.
Inserido no sistema educacional, o aluno tem direito a: a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; b) ser respeitado por seus educadores; c) contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; d) participar de entidades estudantis ou organizá-las. Os pais ou responsáveis podem ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, e por outro lado têm a obrigação de matricular os filhos na escola e de mantê-los freqüentes (arts. 53 e 54 do ECA).
3.10. Direito à Profissionalização e Proteção no Trabalho
O art. 60 do ECA proibia o trabalho dos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Este dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional n. 20/98, que alterou o inciso XXXIII do art. 7° da CF (logo secundada pelo art. 403 da CLT, com a redação da Lei n. 10.097, de 19-12-2000) e proibiu qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A aprendizagem consiste na formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.
De um modo geral, o ECA procura determinar que o trabalho do menor de 18 anos esteja subordinado ao respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e à necessidade de capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho (art. 69).
4. PREVENÇÃO
Com nítida orientação preventiva, o ECA procurou disciplinar, evidentemente sem esgotar, as hipóteses em que é necessária a concorrência de todos para prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Assim, a Lei dispôs que crianças e adolescentes têm direito à informação, à cultura, ao lazer, aos esportes, às diversões, aos espetáculos e aos produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 70), e fez corresponder sanções administrativas àquele que põe em risco ou impede o exercício de cada um destes direitos.
Em primeiro lugar, o ECA disciplina o acesso à informação, à cultura, ao lazer, aos esportes e às diversões e espetáculos. Nos termos de seu art. 74, o Poder Público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária (art. 75), mas as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável (art. 75, parágrafo único).
Outras normas, contidas nos arts. 76 a 79 do ECA, também procuram evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a material não adequado a sua idade. Assim, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, e nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Os proprietários, diretores. gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou
18

locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a advertência de seu conteúdo, e as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.
Preocupa-se o ECA também com o acesso de crianças e adolescentes a determinados lugares, e por isso proíbe sua presença em estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente (art. 80). Também é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável (art. 82).
Quanto ao ingresso em cinemas, são necessárias algumas reflexões. Este acesso está, a meu ver, disciplinado por regras indicativas e regras proibitivas. A primeira das regras meramente referenciais está registrada no texto constitucional. É que o art. 21, XVI, da CF, atribuiu à União a regulamentação das diversões públicas, mas apenas para efeito indicativo. Com esta mesma natureza indicativa foi editada a Portaria n. 1.597, de 2 de julho de 2004, do Ministério da Justiça, que classificou os espetáculos públicos em livres ou inadequados para menores de 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. Também é simplesmente indicativo o art. 74 do ECA, que determina ao Poder Público que regulamente as diversões e os espetáculos públicos, com a finalidade de informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.
Como se vê, tais dispositivos não contêm qualquer espécie de proibição. Cuida-se de normas de mera recomendação: limitando-se a estabelecer a necessidade de alguma classificação, pretendem que se observem algumas balizas que sirvam de orientacão aos estabelecimentos e aos pais ou responsáveis. Tal natureza decorre também da idéia de inadequação, explicitamente reproduzida nos dispositivos em análise. O termo conduz somente à falta de ajuste entre a idade do assistente e o conteúdo da programação; mas dele também não se extrai a noção de proibição. Tampouco se refere o caput do art. 75 do ECA a alguma proibição. Antes, trata-se de norma que garante o acesso de crianças e adolescentes aos espetáculos adequados, sem restringir o acesso àqueles que se considerem inadequados.
A norma proibitiva mais explícita aparece no parágrafo único do art. 75 do ECA: crianças menores de 10 anos só acedem aos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. O acesso de pessoas desacompanhadas, que tenham entre 10 e 18 anos, aos mesmos espetáculos depende da regulamentação prevista no art. 149 do ECA. É que a lei se refere ao acesso de crianças e adolescentes a estúdios cinematográficos, de teatro, de rádio e de televisão, atribuindo ao juiz da infância e da juventude a tarefa de disciplinar a questão, de acordo com as peculiaridades de cada caso. A propósito, a única interpretação razoável do texto legal é aquela que entende o termo “estúdios” como referente àqueles locais de apresentação de filmes, peças teatrais ou programas de rádio e televisão, e não à participação de criança e adolescente em tais programas, que vem regulada pelo inciso II do mesmo art. 149. Partindo-se da idéia de que a lei não deve conter termos inúteis ou supérfluos, parece evidente que o inciso I, e, do mesmo artigo, não faz referência à mesma situação. Note-se que o dispositivo permite ao juiz a exclusiva regulamentação do acesso de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsável. Contrario sensu, sempre será possível o acesso de criança e adolescente, acompanhado dos pais ou responsável, a qualquer espetáculo público.
As várias situações aparentemente possíveis podem, portanto, ser assim resolvidas: a) o acesso de criança e adolescente, desacompanhado, a exibição de película cinematográfica depende, antes de mais nada,
19

de
disciplina através de portaria judicial ou de autorização por alvará, caso a caso; b) a classificação etária é mera recomendação, que não constitui proibição de acesso; onde não houver regulamentação judicial, qualquer pessoa maior de 10 anos de idade terá liberdade de acesso, ainda que desacompanhada dos pais ou responsável, às salas de cinema; c) é sempre vedado o ingresso de criança de menos de 10 anos, desacompanhada dos pais ou responsável, nos locais de exibição, independentemente de qualquer regulamentação adotada nas hipóteses concretas; d) crianças a partir dos 10 anos e adolescentes, desde que não haja regulamentação em sentido contrário pelo juízo mediante portaria ou alvará, terão acesso livre aos locais de exibição; e) em qualquer caso, as casas de espetáculo estarão sujeitas às penalidades dos arts. 252, 253, 255 e 258 do ECA; f) os pais ou responsáveis deverão velar pelo adequado desempenho das obrigações inerentes ao poder familiar, sob as penas da lei, observados em especial os arts. 3°, 4° e 70 do ECA.
Outra norma de prevenção, agora relativa aos produtos e serviços, está contida no art. 81 do ECA, que proíbe a venda, a crianças e adolescentes, de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, revistas e publicações impróprias e bilhetes de loteria.
Os arts. 83 a 85 do ECA cuidam da autorização para viajar. Como regra geral, adolescentes podem viajar, desacompanhados e sem necessidade de qualquer autorização, para qualquer lugar do território nacional. As crianças, contudo, só podem viajar acompanhadas de um dos pais ou responsável, de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, ou de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. A autorização será dispensada quando a criança viajar para Comarca contígua à de sua residência, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana. Fora destes casos, a criança só poderá viajar com autorização judicial, que, a pedido dos pais, poderá ter validade de até 2 anos.
Cuidando-se de viagem ao exterior, só se dispensa a autorização judicial se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou de responsável, ou se viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.
As sanções cominadas às infrações administrativas, previstas nos arts. 245 a 258 do ECA, são as seguintes: a) multa; b) apreensão de publicações; c) suspensão de programação de emissora de rádio ou TV, bem como da publicação do periódico; d) ressarcimento de despesas de viagem; e e) fechamento temporário de estabelecimento. Quanto às multas, os valores cominados pelo ECA são estimados em salários de referência, índice que fora extinto pela Lei n. 7.789/89. Formaram-se dois entendimentos: um, de que a sanção deve ser fixa-da em salários mínimos; outro, de que a sentença deve estabelecer a pena em salários de referência e determinar sua atualização monetária. Parece-me mais razoável esta última posição.
De fato, não é dado ao juiz alterar a sanção sem previsão legal expressa. Enquanto não haja revisão legislativa, resta ao julgador ater-se à cominação atual, que naturalmente terá seu valor atualizado monetariamente.
O procedimento que visa a apurar as infrações administrativas, disciplinado nos arts. 194 a 197 do ECA, pode ser iniciado por representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, ou ainda por auto de infração elaborado por servidor efetivo do Poder Judiciário ou voluntário credenciado pelo juízo. O requerido terá o prazo de 10 dias, contados da intimação ou da lavratura do auto de infração, para apresentar defesa, através de advogado. Não havendo resposta, e não sendo necessária a produção de prova em audiência, o juiz dará vista ao Ministério Público por 5 dias e decidirá em igual prazo. Havendo necessidade, o juiz designará audiência de instrução e julgamento. Contra a sentença cabe apelação.
20

5. POLÍTICA DE ATENDIMENTO
A implementação do ECA depende da configuração de uma rede de atendimento. Isto significa que a afirmação dos direitos da criança e do adolescente depende de ações coordenadas dos entes governamentais e das organizações não-governamentais, que deverão estar orientadas a: a) formulação e implantação de políticas sociais básicas, ainda que em caráter supletivo; b) prestação de serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; c) criação e manutenção de serviços de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; d) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente (art. 86 do ECA).
A política de atendimento deverá seguir as diretrizes traçadas pelo art. 88 do ECA: a) municipalização do atendimento; b) criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente; c) criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa; d) manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; e) integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; f) mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
Dentre as inovações do ECA, parece-me que a mais relevante foi a municipalização do atendimento, notadamente com a criação dos Conselhos Municipais e Tutelares, e ainda dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente são, nos termos do art. 88, II, do ECA, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas. Organizados por lei federal, estadual ou municipal (conforme sejam federal, estaduais ou municipais), os Conselhos são integrados por representantes do Poder Público e por igual número de representantes da sociedade civil. As deliberações dos Conselhos têm força normativa, vinculando a vontade do Administrador Público, nos respectivos níveis de atuação (Cury, Garrido e Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 80). Isso significa que cabe aos Conselhos a definição das políticas públicas relativas à infância e à juventude, como aliás determina a CF (arts. 204, II, e 227, § 7°).
Cada um dos conselhos deve gerir um fundo dos direitos da criança e do adolescente, também criado por lei, destinado ao financiamento das políticas de atendimento. Assim, os recursos destinados aos fundos serão aplicados nos “aspectos prioritários ou emergenciais que, a critério do Conselho em deliberação específica, não possam ou não devam ser cobertos pelas previsões orçamentárias destinadas à execução normal das várias políticas públicas em seus respectivos âmbitos” (Édson Sêda, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado).
O Conselho Tutelar, por sua vez, é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, responsável direto pela primeira atenção à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social. Em cada Município deve haver pelo menos um Conselho Tutelar, composto de 5 membros escolhidos pela comunidade local para mandato de 3 anos (art. 132 do ECA).
Convém que os conselheiros sejam escolhidos por toda a comunidade, mas cabe à lei municipal estabelecer quais serão os eleitores. Permite-se que o conselheiro concorra à recondução, mas é necessário que ele participe de novo processo de escolha, em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo vedada a recondução automática.
21

Os membros do Conselho Tutelar devem ter reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residência no Município (art. 133 do ECA). Trata-se dos requisitos mínimos, podendo o legislador municipal ampliá-los para atender às peculiaridades locais (Cury, Garrido e Marçura. Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 120). Os conselheiros tutelares podem ser ou não remunerados, conforme disponha a lei municipal. Os recursos destinados ao pagamento dos conselheiros e, em geral, ao funcionamento do Conselho devem estar inseridos no orçamento municipal, de modo que o Poder Executivo deve obrigar-se a repassar a verba prevista. Em nenhum caso estes valores devem ser repassados pelo fundo dos direitos da criança e do adolescente, que tem destinação manifestamente diferente.
Quanto à natureza, entendo que o conselheiro se insere na categoria de agente honorífico, espécie do gênero agentes públicos. Estes, na lição de Hely Lopes Meirelles, são “todas as pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal”, enquanto os agentes honoríficos “são cidadãos convocados, designados ou nomeados para prestar, transitoriamente, determinados serviços ao Estado, em razão de sua condição cívica, de sua honorabilidade ou de sua notória capacidade profissional, mas sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, normalmente, sem remuneração. Tais serviços constituem o chamado múnus público, ou serviços públicos relevantes, de que são exemplos a função de jurado, de mesário eleitoral, de comissário de menores, de presidente ou membro de comissão de estudo ou julgamento e outros dessa natureza” (Direito administrativo brasileiro, p. 74). Trata-se, na definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, dos particulares em colaboração com a Administração, entre os quais estão os “requisitados para prestação de atividade pública, quais os jurados, membros de Mesa receptora ou apuradora de votos, quando das eleições, recrutados para o serviço militar obrigatório etc.” (Curso de direito administrativo, p. 225). Esta classificação é também admitida por Maria Sylvia Zanella di Pietro. para quem, na categoria dos particulares em colaboração com o Poder Público, entram aqueles que, “mediante requisição, nomeação ou designação para o exercício de funções públicas relevantes; é o que se dá com os jurados, os convocados para prestação de serviço militar ou eleitoral, os comissários de menores, os integrantes de comissões, grupos de trabalho etc.; também não têm vínculo empregatício e, em geral, não recebem remuneração” (Direito administrativo, p. 437).
Por outro lado, é possível extrair algumas coincidências do cotejo entre o conselheiro tutelar e o jurado que integra o Tribunal do Júri, também inserido entre os agentes honoríficos: assim como os conselheiros (arts. 133, I, e 135 do ECA), os jurados são escolhidos entre cidadãos de notória idoneidade (art. 436, caput. do CPP), e o exercício efetivo da função de jurado também constitui serviço público relevante, que estabelece presunção de idoneidade e assegura prisão especial até o trânsito em julgado da sentença penal (art. 437 do CPP).
E, de resto, a própria definição do exercício da função de conselheiro como “serviço público relevante” (art. 135 do ECA) coincide com a classificação de agente honorífico proposta pela doutrina.
O ECA reserva ao Conselho Tutelar atribuições em relação à criança e ao adolescente (arts. 98, 13, 56, 136, VII, e 101 do ECA), em relação aos pais ou responsáveis (art. 129 do ECA), em relação às entidades de atendimento (arts. 90, 91, 95 e 191 do ECA), em relação ao Poder Executivo (art. 136, IX, do ECA), em relação ao Ministério Público (art. 136, IV, do ECA) e em relação ao juiz (arts. 101, I a VI, e 194 do ECA).
O Conselho Tutelar está habilitado a promover a execução de suas decisões, podendo para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, expedir notificações e requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes. Só a autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento de quem tenha legítimo interesse, pode rever as decisões do Conselho Tutelar (art. 137 do ECA).
Também integram a rede de atendimento as entidades a quem se atribui o planejamento e execução de programas de proteção e de cumprimento de medidas socioeducativas (art. 90 do ECA).
22

As entidades de atendimento estão sujeitas à fiscalização do Judiciário, do Ministério Público e dos Conselhos Tutelares (art. 95 do ECA). Descumpridas as exigências inerentes a constituição e ao funcionamento da entidade (art. 94 do ECA), será observado o procedimento dos arts. 191 e seguintes do ECA, que pode ser iniciado mediante portaria judicial ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar.
O juiz poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades ou aplicar uma das medidas previstas no art. 97 do ECA.
6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO
A norma do art. 98 do ECA tem importância transcendental. É ela que, por um lado, estabelece os destinatários das medidas de proteção previstas pelo Estatuto, e, por outro lado, serve de critério para atribuição de competência ao juiz da infância e da juventude (art. 148, parágrafo único, do ECA). As hipóteses do art. 98 caracterizam a chamada situação de risco, que se configura quando os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados: a) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; b) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; e c) em razão da conduta da criança ou de adolescente.
Verificada qualquer das hipóteses do art. 98, cabe ao juiz determinar medidas de proteção, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo umas por outras (art. 99 do ECA), e serão acompanhadas da regularização do registro civil, se necessário (art. 102 do ECA).
São medidas de proteção (art. 101 do ECA):
a) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; b) orientação apoio e acompanhamento temporários; c) matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; d) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família à criança e ao adolescente; e) requisição de tratamento médico psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; f) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientacão e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; g) abrigo em entidade; h) colocação em família substituta.
O Conselho Tutelar também pode aplicar as medidas de proteção, exceto a colocação em família substituta (art. 136,1, do ECA).
As medidas de proteção sempre são aplicadas em favor de criança ou adolescente, e não constituem restrição ou privação de direitos. Por isso, podem ser impostas de ofício, sem necessidade de formação de processo, exceto quando sejam decorrentes da prática de ato infracional por criança (art . 105 do ECA) ou adolescente (art. 112, VII. do ECA). Ao ato infracional cometido por criança nem mesmo corresponde o procedimento prescrito nos arts. 171 e seguintes do ECA, porque à criança infratora só podem ser aplicadas medidas de proteção. Neste caso, porém, é necessário que o juiz cuide para que haja possibilidade de defesa e contradição.
A colocação em família substituta também independe de processo contraditório, quando já esteja rompido o poder familiar (art. 166 do ECA); mas depende de pedido expresso pelo interessado e do cumprimento dos demais requisitos do art. 165 do ECA.
7. MEDIDAS APLICÁVEIS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Quando autores de violações aos direitos de crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis estarão sujeitos a determinadas medidas. São elas: a) encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção á família; b) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
23

toxicômanos; c) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; d) encaminhamento a cursos ou programas de orientação; e) obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar; f) obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; g) advertência; h) perda da guarda; i) destituição da tutela; j) suspensão ou destituição do poder familiar (art. 129 do ECA); l) afastamento cautelar, da moradia comum, do autor de maus-tratos, opressão ou abuso sexual (art. 130 do ECA).
Ainda que o parágrafo único do art. 29 o exija apenas paia as medidas dos incisos IX e X. todas as medidas devem ser aplicadas por sentença judicial motivada, em procedimento que permita, no mínimo, a igualdade na relação processual.
8. A JURISDIÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
8.1. Considerações Gerais
O tratamento dos jovens delinqüentes foi o primeiro a merecer uma disciplina orientada pelo sentimentalismo humanitário (cf., a propósito, a obra de Pedro Dorado Montero, El derecho protector de los criminales, v. 1. p. 221). Mas só a partir do século XVI começaram a surgir na Europa as chamadas casas de correção para os jovens delinqüentes. O Hospital de San Filippo Neri, em Florença, no fim do século XVII, e o Hospício de San Michele, em Roma, em 1703, foram importantes marcos do início de um sistema correcional com internação, e constituíram verdadeiros embriões daqueles que viriam a ser os tribunais destinados ao julgamento dos menores infratores.
O primeiro tribunal de menores de que se tem notícia surgiu em Chicago, Estados Unidos, criado por uma lei de 1 - de junho de 1899, como conseqüência de uma forte reação, proveniente sobretudo dos clubes de mulheres, sociedades protetoras da infância e advogados. Este movimento terminou por conseguir elaborar um projeto de lei, aprovado pelas câmaras norte-americanas, em que se estabelecia que os assuntos de menores deveriam ser separados de outros assuntos penais. De Chicago, os tribunais se expandiram por todo o país.
No Brasil, quando editada a Lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, já estava madura a idéia da criação de tribunais especializados para o julgamento de menores delinqüentes. Os Decretos n. 16.272 e 16.273, de 1923, ratificados pela Lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924, e que acabaram instruindo a consolidação de 1927, deram efetividade àquele anseio — a ponto de este último diploma instituir um juízo de menores para assistência, proteção, defesa, processo e julgamento dos menores abandonados e delinqüentes que tivessem menos de 18 anos (art. 146).
8.2. Os Modelos de Tribunais de Menores
Para alguns autores, a justiça de menores deve ter uma função reformadora e socializadora, mantendo-se a sanção em segundo plano. Para outros, o problema é de ordem pública: a justiça deve defender a sociedade contra aqueles que praticam delitos, utilizando a pena como elemento de dissuasão; a separação entre cárcere para menores e cárcere para adultos só se justifica por motivos de idade; e a justiça deve ser clara e autoritária, sem que se disfarcem conceitos como os de prisão ou tribunal. Para um terceiro grupo de estudiosos, o problema está nos conflitos, necessidades e carências do jovem: as medidas de privação de liberdade devem ser mais abertas e técnicas; a justiça de menores, sob esse aspecto, tende a desaparecer, já que será tanto melhor quanto menos intervier.
24

Os modelos modernos de tribunais de crianças e jovens devem ser conduzidos a trabalhar com instituições normais: família, escola, trabalho, meio social. Nas comunidades devem estar unificados serviços sociais, assistenciais, sanitários, psiquiátricos e culturais, necessariamente integrados aos serviços dedicados a tratar do infrator. Tal política tem a capacidade de implicar “áreas cada vez mais amplas da população na gestão de serviços e instituições de interesse geral, para criar níveis de consciência, de cultura e de prática que possam inverter os processos de delegação às instituições (como poder) de toda uma série de problemas, entre os quais se acham os relativos às contradições e conflitos que se definem em termos de inadaptação, desviação, delinqüência e criminalidade” (Gaetano de Leo, Lajusticia de menores: la delincuencia juvenil y sus instituciones, p. 9). Com isso, instaura-se uma justiça que não serve apenas para julgar os infratores, mas ainda para defender seus direitos.
8.3. Características do Órgão Julgador
A doutrina vem debatendo, ao longo do tempo, a necessidade ou não de que o juiz de menores pertença à carreira judicial. Para alguns estudiosos não se trata de condição indispensável: enquanto o adulto criminoso atua sabendo o que faz, o adolescente “é um caminhante que começa a andar, e porque não lhe mostraram o caminho a seguir terminou dando um passo equivocado, mas um único passo; não se afastou muito do caminho verdadeiro, nem pode tampouco se distanciar dele, porque ainda não sabe andar”. Ao menor “faltam tônicos que o regenerem, em vez de sofrimentos que o destruam” (José de Solano y Polanco, Tribunales para niños y comentários a la legislación española, p. 65-69). Para outros, apenas os integrantes da carreira judicial podem ser investidos no cargo de juiz da infância e da juventude, sobretudo em razão das garantias que esta condição proporciona (Avelino Montero-Ríos y Villegas, Antecedentes y comentários a la Ley de Tribunales para Niños, p. 25).
De qualquer forma, a polêmica pode ser esquematizada em vários modelos que tentam construir uma justiça própria de crianças e adolescentes.
O sistema de autoridade judicial modificada atribui a direção do processo a tribunais civis. O sistema de autoridade administrativa pressupõe que, não havendo autêntico processo, não há necessidade de um órgão jurisdicional: a autoridade administrativa resolve as medidas aplicáveis e as executa, sem acusação e sem a solenidade dos tribunais.
Um sistema misto prevê que o juiz estabeleça a culpabilidade do adolescente e o envie a uma autoridade administrativa, que imporá medidas de educação ou tratamento. Outro sistema é o de conselhos de proteção da infância, adotado pelos países escandinavos durante a década de 1930, que preconizava a entrega da competência a autoridades tutelares: os conselhos, que eram órgãos colegiados cujos membros podiam ser, por exemplo, ministros religiosos, membros da administração, pessoas dedicadas à infância, escolhidos de diversas maneiras, e que se encarregavam da aplicação de medidas de educação e assistência.
É possível que o mais próximo de um “modelo ideal” seja um sistema de magistratura especial, nova, absolutamente independente da magistratura dedicada aos adultos, competente exclusivamente para julgar processos relativos a crianças e adolescentes.
O sistema de autoridade judicial modificada tem, sem dúvida, a vantagem de garantir que o adolescente seja julgado por um juiz; mas não se trata de uma magistratura verdadeiramente especializada, porque a esfera civil é de modo significativo mais ampla que o âmbito da infância e da juventude. O sistema de autoridade administrativa e o sistema misto, distantes de um autêntico modelo processual-constitucional, não podem oferecer ao adolescente todas as garantias que sua liberdade individual exige. Aqui também não se resolve o problema das garantias do infrator. Por fim, o julgamento por conselhos supõe a aceitação de que a arte de julgar aceita improviso, quando, em verdade, é necessário que haja preparação científica e prática diária, como única forma de garantir a segurança jurídica de crianças e adolescentes.
25

Outro tema que provoca alguma controvérsia é aquele relativo à necessidade de especialização do juiz encarregado de julgar ilícitos penais praticados por adolescentes. Os tratadistas sustentam que, exercendo o juiz um trabalho especialmente reeducativo, e não meramente repressivo, seus conhecimentos jurídicos, que são essenciais, nem sempre se revelam suficientes. O magistrado francês M. Garçon chegou a formular algumas objeções contra os tribunais especializados de menores: a) o tribunal deve apreciar o ato prati cado, e não a pessoa do delinqüente; b) esse tipo de tribunal ameaça “desjudicializar” o quadro de juízes e representa uma desconfiança injustificada em relação a estes; c) hoje em dia, tendo em vista o formidável aumento da criminalidade juvenil, não se pode defender uma justiça paternal para malfeitores precoces; d) por último, os tribunais para menores suprimem a defesa e a publicidade, que são garantias contra a arbitrariedade dos juízes (apud Eugênio Cuello Calón, Tribunales para niños, p. 130-131, e José Guallart López de Goicoechea, El derecho penal de los menores: los tribunales para niños, p. 157-158).
Contudo, muitas vezes a vida do adolescente depende do tribunal. Uma decisão jurisdicional poderá converter o adolescente em alguém honesto ou permitir que mais tarde, de desvio em desvio, ele seja irremediavelmente posto à margem da sociedade. Ao juiz caberá “realizar, experiências não tentadas antes, porém, com humildade, ansioso como o pai, que, ante o insucesso de tudo, procura novo gesto, palavra nunca dita para conduzir o filho rebelde ao bom caminho” (Ruy Rebello Pinho, Menores infratores e criminosos imaturos, p. 122).
É com fundamento nisso que os estudiosos procuram traçar algumas características do juiz da infância e da juventude “ideal”: ser entusiasta, resoluto, capaz de distinguir entre os jovens definitivamente criminosos e os suscetíveis de emenda; tem de estar totalmente dedicado a sua obra; deve aluar em cada caso como se estivesse diante de seu próprio filho. O juiz que não conhece os adolescentes não pode levarem conta sua verdadeira natureza. Esses são atributos que não existem quando não há magistrados permanentes e especializados, distantes da solenidade que caracteriza os tribunais comuns (M. Roger Albernhe. La nécesité d'un personnel spécialisé pour s'occuper des enfants en justice).
O juiz especialista tem, portanto, vantagens inegáveis. Pode conhecer com profundidade os problemas morais, sociais e jurídicos a resolver. Está em dia com os recursos dos serviços e obras sociais disponíveis. Mantém com o adolescente o contato permanente que lhe permite conhecer sua psicologia e valorar com maior eficácia as medidas aplicáveis. E o próprio ambiente das salas de audiência poderá ser particularmente adequado aos adolescentes, já que o aparato reservado aos adultos é intimidador e inadequado.
8.4. O Modelo do ECA
O ECA não chegou a definir uma magistratura nova e independente daquela dedicada aos adultos; mas adotou um sistema jurisdicional puro, conferindo autoridade exclusivamente ao juiz da infância e da juventude, ou ao juiz que exerce essa função (art. 146), ainda que com a atenuação de cometer algumas funções ao Conselho Tutelar (art. 136).
Ainda que o ECA não determine a especialização dos juízes, reserva a eles, com privatividade, a competência para conhecer das hipóteses previstas no ECA, ressalvadas algumas hipóteses de competência concorrente. A opção do legislador torna essencial encontrar alguns elementos particulares dessa ordem jurisdicional.
O ECA adota um modelo processual próprio. Entre os dois modelos possíveis de tratamento — o administrativo e o jurisdicional —, optou o ordenamento jurídico pelo modelo de justiça da infância e da juventude. O caráter necessariamente protetivo do ECA não é incompatível com a idéia de uma jurisdição de crianças e adolescentes. Mas o processo, ainda que se sustente sobre os pilares do processo civil e penal, tem as notas específicas que o tratamento de uma pessoa em fase de desenvolvimento exige.
26

Essa concepção não deixa de acrescentar inegáveis vantagens para crianças e adolescentes, na medida em que o desenho processual assume as características pós-constitucionais exigidas do sistema processual em geral. E, por isso, torna-se especialmente relevante para o interesse de crianças e adolescentes não só o binômio processo-direitos humanos, mas a própria exclusão das sanções meramente penais através de um sistema processual particular. Por outro lado, as garantias constitucionais do processo não se restringem ao processo penal, mas dirigem-se ao próprio funcionamento dos tribunais, independentemente do processo que a eles corresponda. Pode-se dizer, portanto, que o direito da infância e da juventude é singular exclusivamente em razão da menoridade do sujeito. Todas as demais características e concepções do processo estão presentes nele.
8.5. Competência
Todos os juízes e tribunais estão plenamente investidos de jurisdição. Não obstante, o exercício da jurisdição se acha distribuído entre os distintos órgãos jurisdicionais mediante regras de competência. Esta, na precisa definição de Liebman, é a quantidade de jurisdição cujo exercício se atribui a cada órgão, ou seja, a medida da jurisdição (Enrico Tullio Liebman, Lezioni di diritto processuale civile, v. 1, p.62).
As normas de competência constituem, por sua vez, pressuposto de efetividade do direito ao juiz legalmente constituído. De fato, a lei contém critérios que permitem encontrar o juiz ou tribunal ao qual corresponderá o conhecimento de cada caso.
Assim, estabelecido que um determinado assunto deve ser resolvido pela jurisdição brasileira, a distribuição da competência se realiza de acordo com três critérios: o de competência objetiva, o de competência territorial e o de competência funcional. O critério da competência objetiva atribui o conhecimento de um assunto determinado a certo órgão jurisdicional. Assim, a competência objetiva delimita o âmbito da jurisdição em razão do objeto do processo, de modo que cada órgão jurisdicional pertence a um ramo destinado a tratar de determinados tipos de casos: civil, penal, trabalhista, militar etc.
Os órgãos jurisdicionais atuam dentro dos limites de um território determinado. Portanto, o segundo critério é o da competência territorial, que consiste na atribuição de competência a um órgão jurisdicional concreto dentre os órgãos do mesmo grau.
Por último, a chamada competência funcional se aplica quando distintos órgãos jurisdicionais podem, simultânea ou sucessivamente, intervir numa mesma causa. Trata-se, em verdade, de critérios de divisão de trabalho estabelecidos dentro de cada ordem jurisdicional.
O ECA se vale dos critérios objetivo, territorial e funcional. Além disso, há hipóteses de competência absoluta e outras de competência relativa do juiz da infância e da juventude.
O juiz da infância é objetivamente competente, com privatividade, para: a) conhecer do processo de apuração de ato infracional e de seus incidentes; b) conhecer dos pedidos de adoção fundados no ECA; c) conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos de crianças e adolescentes; d) conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento; e) aplicar sanções nos casos de infrações administrativas previstas no ECA; f) conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar (art. 148, I a VII. do ECA); e g) expedir as portarias e os alvarás previstos no art. 149 do ECA.
As hipóteses do art. 148, parágrafo único, do ECA, são de competência objetiva relativa. Isto significa que, estando a criança ou o adolescente em situação de risco, que existe quando configurada uma das hipóteses do art. 98 do ECA. o juiz da infância será competente para:
a) conhecer dos pedidos de guarda e tutela;
27

b) conhecer de ações e modificação do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Fora das hipóteses do art. 98 do ECA, a competência será do juiz cível ou de família.
Em relação ao território, é competente o juiz da infância e da juventude do lugar: a) do domicílio dos pais ou responsável; b) do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável; c) do lugar da ação ou da omissão, nos casos de ato infracional; d) do lugar da sede estadual da emissora ou rede, em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma Comarca.
Funcionalmente, a autoridade judiciária é o juiz da infância e da juventude, ou aquele que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local (art. 146 do ECA). Isto significa que, entre os juízes de uma mesma Comarca, apenas aqueles designados por lei podem exercer a jurisdição nas hipóteses do ECA.
Iniciado o processo, as modificações posteriores do estado de fato ou de direito não alteram a competência (art. 87 do CPC). No entanto, pode ser conveniente que se atribua competência ao juízo imediato, que é aquele mais próximo de onde se encontra a criança ou adolescente. Assim, naqueles casos em que o infante precisa de proteção, é possível que a regra do CPC seja superada em favor da prevalência do interesse de crianças e adolescentes.
9. MINISTÉRIO PÚBLICO
9.1. Considerações Gerais
No plano teórico, pode-se dizer que os componentes jurisdicionais dos tribunais são estudados há muito tempo, enquanto o Ministério Público é uma instituição ainda em fase de desenvolvimento. Seus contornos doutrinários não são muito precisos, nem é bem definida a amplitude de suas funções: aliás, não é mesmo unânime a visão a respeito da missão que está chamado a realizar. De fato, a nobre atividade dos juízes vem sempre consistindo, com pequenas variações, em aplicar a lei aos fatos postos pelos litigantes. O Ministério Público, ao contrário, se reveste de múltiplas formas nos diferentes sistemas jurídicos e ao longo do tempo.
Também não é tranqüila a tarefa de determinar o instante exato em que, historicamente, aparece o Ministério Público. Mais certo é que tenha se formado ao longo de vários séculos, assumindo um grande número de funções que foram sendo depuradas e ao mesmo tempo incrementadas. O que se admite sem contradições é que o Ministério Público esteve originalmente vinculado à defesa da legalidade: primeiro, de
28

forma mais ou menos difusa; depois, em evolução, até uma promoção de justiça caracterizada pelo interesse público.
9.2. Natureza e Princípios
O Ministério Público desenvolve uma competência estatal de caráter singular, dentro de seu âmbito funcional e através de uma estrutura orgânica própria. Tal singularidade se justifica pela complexidade do Estado moderno, que já não se limita à clássica divisão em três poderes. Aliás, o próprio legislador constituinte construiu o Ministério Público como uma instituição permanente, mas não puramente técnica; nele se integram conteúdos politicamente variáveis, como são o interesse publico amparado pela lei ou a proteção jurisdicional do interesse social.
Por isso, é possível afirmar que o Ministério Público tem uma posição institucional peculiar: não é estritamente dependente dos poderes do Estado, mas não está desconectado deles. Não pode ser instrumento político, mas também não é um poder autônomo.
O Estado exige uma trama orgânica complexa, interconectada e equilibrada. A conexão depende de órgãos de relevância constitucional que não se encontram integrados em nenhum dos três poderes clássicos, mas que com eles mantêm relações instrumentais que possibilitam os pesos e contrapesos necessários a um funcionamento harmônico do sistema.
O Ministério Público, assim, se configura como uma verdadeira articulação do sistema político. Adapta-se perfeitamente ao modelo brasileiro a oportuna definição de Ignacio Flores Piada (El Ministério Fiscal en España, p. 346-350) quando se refere ao Ministério Público como uma das “bisagras” ou “dobradiças” do sistema político.
O fato de não estar integrado a nenhum dos poderes não significa a absoluta independência do Ministério Público, mas sua autonomia. Esta autonomia se encontra constituída por faculdades e poderes típicos de que a Instituição dispõe para realizar as funções que o ordenamento jurídico lhe atribui.
A independência nem mesmo pode ser invocada como pressuposto da imparcialidade do Ministério Público: é que, ao contrário da imparcialidade do juiz, que exige uma neutralidade em relação às partes, a imparcialidade do promotor de justiça, como se verá adiante, diz respeito à defesa objetiva da legalidade e do interesse geral.
A conformação constitucional do Ministério Público se apoia nos princípios de unidade, indivisibilidade e independência funcional (art. 127, § 1°, da CF).
O princípio de unidade orgânica se inspira no axioma do direito francês le Ministère Public est un et indivisible. A unidade é um conceito complexo que contém duas manifestações principais: a unidade orgânica e a unidade de atuação.
A unidade orgânica permite falar do Ministério Público como um instituto único, no qual a personalidade de cada promotor cede lugar à personalidade do órgão. Os promotores de justiça não atuam em seu nome pessoal, mas em representação da Instituição.
Quando atua um membro do Ministério Público, quem na realidade está atuando é o próprio Ministério Público (Paulo Cézar Pinheiro Carneiro, O Ministério Público no processo civil e penal, p. 43).
A unidade orgânica é o pressuposto para a unidade de atuação, que significa a atuação uniforme dos promotores, orientada pelo procurador-geral de justiça.
29

A sociedade, que tem no Ministério Público seu representante, não pode esperar senão uma interpretação institucional da lei, sem qualquer risco de adoção de pontos de vista discrepantes por seus membros.
Assim, a unidade orgânica exige uma subordinação interna, caracterizada pela necessidade de estrita obediência aos órgãos superiores da instituição. Estes seriam uma espécie de força motriz, geradora dos critérios interpretativos que o Ministério Público vai sustentar como garantidor da legalidade e das regias de atuação e disciplina que todos os membros da Instituição devem acatar.
Nesse sentido, os concretos promotores de justiça são personificações do único Ministério Público e têm como superior, através de uma cadeia hierárquica, o procurador-geral de justiça, a cujas ordens e instruções devem obedecer (Andrés de la Oliva Santos, Jueces imparciales, fiscales "investigadores" y mieva reforma para la vieja crisis de la justicia penal. p. 92-93).
A CF só se refere à unidade orgânica. É que a Carta Magna assegura a independência funcional, isto é, o direito que tem cada membro do Ministério Público de atuar livremente, de acordo com sua consciência e com a lei, não se submetendo a nenhuma orientação, nem sequer dos órgãos superiores da instituição.
A inexistência de hierarquia significa uma personalização das funções encomendadas ao Ministério Público, com o risco evidente de contraposição de condutas particulares a uma estratégia geral de atuações diversas para situações afins.
O último princípio constitucional do Ministério Público é a indivisibilidade. Hugo Nigro Mazzilli associa a indivisibilidade do Ministério Público à possibilidade de substituição de seus membros, uns por outros, de acordo com a lei (Regime jurídico do Ministério Público: análise da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, instituída pela Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, p. 66). Acrescenta Paulo Cézar Pinheiro Carneiro que um promotor pode ser substituído por outro, cujas opiniões não estejam vinculadas, sem que isso suponha a divisão da instituição (O Ministério Público no processo civil e penal, p. 44).
A fungibilidade dos promotores de justiça encontra um primeiro obstáculo na existência de hipóteses legais de impedimento e suspeição semelhantes àquelas aplicáveis aos Juízes (CPC. arts. 134 a 138; CPP. art. 258).
Em segundo lugar, impedem-se substituições injustificadas, já que a CF garante a inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5°, I, b), que são vinculados a um cargo criado por lei. Daí deriva um sistema processual que, de certo modo, assegura o princípio do promotor natural (sobre o tema, vejam-se Hugo Nigro Mazzilli, O Ministério Público no processo penal: Justitia, n. 95. p. 175 e s.; Paulo Cézar Pinheiro Carneiro, p. 50 e s; e Jaques de Camargo Penteado, O princípio do promotor natural, Justitia. n. 129, p. 114 e s.).
9.3. Formas de Atuação
A defesa do direito tem sido a principal missão histórica do Ministério Público. Esta forma de atuação, como a conhecemos hoje em dia, partiu da distinção criada na França, no final do século XVIII, entre o Ministére Public como partie principale e como partie jointe. Tais conceitos acabaram sendo assimilados na Itália, e convertidos para Ministero Pubblico agente e Ministero Pubblico inerveniente, e para parte principal e parte adjunta, na Espanha.
Na qualidade de defensor do direito, ou seja, atuando em favor do interesse público para promover a justiça, o Ministério Público atua como interveniente, e como tal assume o papel de parte desinteressada ou parte imparcial, próxima ao órgão jurisdicional. De maneira geral, o Ministério Público interveniente costuma ser comparado a um consultor ou perito jurídico, especialmente em razão da pequena influência que seus
30

arrazoados podem, eventualmente, exercer sobre as decisões judiciais.
O que é decisivo, na atualidade, é considerar aqueles casos em que a presença do Ministério Público seja verdadeiramente necessária “em razão da natureza dos problemas debatidos e das repercussões que a decisão judicial possa ter sobre interesses que ultrapassam o patrimônio jurídico privado dos sujeitos que litigam”.
Assim, quanto ao mérito dos fatos, o Ministério Público “o valora e situa com mentalidade de 'parte', mas desinteressada, e consequentemente colabora com a averiguação da verdade”. Em outras ocasiões, “não basta a singela opinião do órgão jurisdicional, mas é necessária a de outro, também com atribuição para perseguir a exata aplicação da lei, mas que atua impelido por motivos distintos, livre das sujei ções e da técnica que vinculam os juízes, permitindo, esta intervenção, uma aplicação mais exata e mais justa do Direito” (Leonardo Prieto Castro, Construcción dogmática del Ministério Fiscal en el orden civil, p. 83-84).
Também atua o Ministério Público em defesa dos interesses metaindividuais. O crescimento das sociedades, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, provocou uma autêntica transformação no conceito de direitos humanos. Com isto, não apenas se delinearam as obrigações dos governos, mas também a necessidade de que fossem reconhecidos aqueles direitos humanos especialmente necessários para tornar realmente acessíveis a todos os direitos antes proclamados.
O acesso à justiça, e, antes, o acesso efetivo à justiça, deve merecer especial atenção do Estado, já que não faz sentido possuir direitos se não há mecanismos para sua aplicação efetiva. Ocorre que algumas dificuldades devem ser superadas para que se possa garantir a desejada efetividade: o custo do litígio, a demora na prestação jurisdicional e o próprio poder das partes são exemplos de obstáculos que precisam ser transpostos. Sobre este último aspecto, ensinam Cappelletti e Garth que, tendo condições de suportar as custas e os atrasos do litígio, as pessoas ou organizações que têm recursos financeiros consideráveis, ou relativamente altos, e que possam utilizá-los para litigar, têm vantagens óbvias na busca ou na defesa de suas reclamações.
Além disso, a falta de conhecimentos de como reclamar — e mesmo para compreender que se pode reclamar — compromete sensivelmente o acesso à justiça. A freqüência do encontro das partes com a jurisdição, por outro lado. estabelece outra diferença importante. Existem litigantes ocasionais e litigantes repetitivos, distinção que indica a existência de indivíduos que têm como característica contatos isolados e pouco freqüentes com o sistema judicial e as organizações com longa experiência judicial (cf. Mauro Cappelletti e Bryant Garth. El acceso a la justicia, p. 12-19).
Uma das formas de equilíbrio está na acumulação de reclamações, de modo que as pessoas comuns, unidas por alguma situação que possa provocar a atividade jurisdicional (um grupo de consumidores, por exemplo), possam exercitar seus direitos e enfrentar as vantagens dessas organizações. Surge daí a possibilidade de que o Ministério Público, dotado de adequada legitimação, e não mais limitado a seu papel tradicional, possa exercer a defesa de interesses difusos e coletivos.
No processo penal, como regra, e no processo civil, por exceção, o Ministério Público está legitimado a iniciar a ação. Nestes casos, assume o caráter de parte.
O processualista italiano Francesco Carnelutti sustenta que parte e Ministério Público são duas figuras que atuam no processo civil e no penal por motivos distintos para o mesmo fim, mas uma e outro atuam por impulsos divergentes, ou mais, opostos: a parte o faz por interesse; o Ministério Público, por dever.
O Ministério Público tem o caráter de órgão de instrução desinteressado (imparcial), e a parte o caráter de órgão interessado. O Ministério Público é parte em razão da função que exerce, não pelo interesse a que serve; é uma parte imparcial: justamente um sujeito da ação, não da lide.
31

O Ministério Público é, assim, um ser ambíguo entre a parte e o juiz: atua como aquela, mas está conformado como este. Finalmente, afastando-se do conceito de Ministério Público como parte em sentido material, Carnelutti afirma que o pressuposto da ação do Ministério Público consiste no perigo de insuficiência do estímulo constituído pelo interesse da parte (em sentido material) ou do substituto, ou do representado pelo dever do administrador de promover ou de conduzir o processo.
Enfim, a lei atribui a condição de parte a uma pessoa que não está nem direta, nem indiretamente empenhada na lide, mas que, pese a isto, por suas qualidades intelectuais e morais, pode suprir as eventuais deficiências da ação das partes naturais (cf. a respeito, Francesco Carnelutti. Mettere il Pubblico Ministero al suo posto. Rivista di Diritto Processuale, p. 259; do mesmo autor, Instituciones de derecho procesal civil. p. 70 e 156-157).
9.4. A Imparcialidade do Ministério Público
Ainda quando exerce a função de acusador, o Ministério Público continua sendo uma parte imparcial. É que, apesar de exercer sua mais típica atribuição, ele não está obrigado, em todos os processos, a sustentar uma acusação contra determinada pessoa, mas, sendo o caso, postulará a absolvição. Isso levou a doutrina a qualificar a posição do Ministério Público como “parte não-parte”: parte, quando ocupa uma das posições do processo; não-parte, quando sua função pode ser igualmente a de pedir a condenação ou a absolvição.
De maneira geral, nas funções do Ministério Público se observa a imparcialidade — ou uma espécie de “desinteresse” pela sorte da demanda — como característica fundamental. Criticando esta idéia, Carnelutti diz ser necessário que a parte seja parte, com sua necessária parcialidade. Para ele, sustentar a imparcialidade do Ministério Público eqüivale a admitir a quadratura do círculo: “La sua ambiguità mi ha colpito a tal segno da farmi venire in mente la quadratura del circolo: non è come quadrare un circolo costruire una parte imparziale?” (Mettere il Pubblico Ministero al suo posto. Rivista di Diritto Processuale, p. 258).
Foi Werner Goldschmidt quem melhor resolveu o problema da relação entre a situação de ser parte e a imparcialidade do Ministério Público. Para ele, “conceitualmente, ser parte (a 'partialidade') e ser parcial (a 'parcialidade') são duas coisas diferentes, ainda que, psicologicamente, ambas possam confundir-se com alguma rapidez; e, por isso, será possível dizer que quase nunca, na vida e na ciência, se confiará na imparcialidade de uma parte”.
Mas, submetido este juízo a uma revisão, “o resultado será que, tanto no processo, como nas ciências sociais em geral, abundam os casos em que se exige de uma parte a mais estrita imparcialidade”. Para sustentar que imparcialidade não significa ser parte, acrescenta que “uma pessoa pode ter uma relação com o objeto da controvérsia e ser, portanto, parte em sentido material; também pode ter uma relação com as expectativas, possibilidades, ônus e exoneração de ônus processuais, e assim, ser parte em sentido formal. Apesar disso, cabe a mais perfeita imparcialidade”, bastando o desejo de “dizer a verdade, de resolver com exatidão, de resolver justa ou legalmente” (Werner Goldschmidt, La imparcialidad como principio básico del proceso. Revista de Derecho Procesal. v. 2. p. 193-207).
9.5. O Ministério Público no ECA
No processo destinado ao julgamento de adolescentes infratores o Ministério Público assume, necessariamente, a posição de parte.
A ação tendente à imposição de medida ao adolescente é sempre pública, não se admitindo a acusação privada ou popular (art. 182 do ECA).
32

Deve-se insistir em que o Ministério Público é parte, mas no processo de adolescentes, mais que em qualquer outro, o promotor de justiça deve velar pelo efetivo respeito às garantias legais asseguradas ao infrator (art. 201, VIII, do ECA).
Afinal, é bastante íntima a relação do Ministério Público com as normas de proteção à criança e ao adolescente, que dispõem sobre direitos individuais indisponíveis (cf., a respeito, Hugo Nigro Mazzilli, O Ministério Público no Estatuto da Criança e do Adolescente, RT 684/264).
Além da atuação no processo de apuração de ato infracional, cabe ao Ministério Público, nos termos do art. 201 do ECA:
a) promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da justiça da infância e da juventude;
b) promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98 do ECA;
c) promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e à juventude;
d) instaurar procedimentos administrativos e sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude;
e) zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
f) impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;
g) representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;
h) inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta Lei adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias a remoção de irregularidades porventura verificadas;
i) requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições;
j) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos a criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação.
As atribuições do MP ultrapassam os limites do art. 201 do ECA. Compreendem qualquer outra atuação compatível com sua finalidade institucional, inclusive a de fiscalizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar (art. 139 do ECA, com a redação da Lei n. 8.242/91) e a de custos legis nos processos e procedimentos em que não for parte, sob pena de nulidade (arts. 202 e 204 do ECA).
10. O ADVOGADO
O advogado e indispensável a administração da justiça, de modo que a contradição técnica é essencial ao processo. O ECA, de sua parte, garante à criança ou adolescente, a seus pais ou responsável, como a qualquer pessoa que tenha interesse na solução da lide, a intervenção no processo através de advogado (art. 206).
33

A garantia do ECA se limita às hipóteses de existência de litígio. Fora delas, a intervenção do advogado é facultativa, e sua falta não acarreta qualquer vício, nem importa violação de direitos.
11. O PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
11.1. A Determinação da Idade Penal
A menoridade penal costuma ser determinada com base em dois critérios fundamentais: o do discernimento e o biológico-cronológico.
O critério do discernimento, que supõe uma aferição da capacidade de compreensão do agente, nunca alcançou pleno êxito, ainda que adotado em alguns textos legislativos estrangeiros como o Código Penal espanhol de 1822 e o Código Penal napoleônico de 1810.
Em realidade, o termo “discernimento” sempre suscitou alguns inconvenientes, sobretudo por se tratar de definição pouco precisa: por um lado, o discernimento não pode se limitar a uma ausência de inteligência, já que, freqüentemente, os menores de 16 ou 18 anos têm uma capacidade de raciocínio que pode exceder à de alguns adultos; por outro lado, propicia a insegurança, a diversidade de interpretações de seu significado e a dificuldade do juiz para chegar a resultados exatos em sua investigação (Rocío Cantarero, Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: derecho penal y procesal de menores, p. 95-96).
Quanto a este último aspecto, Enrique Zarandieta Mirabent formula a seguinte interrogação: “por acaso é suficiente o laudo que alguns peritos possam emitir, conhecendo, como todos conhecemos, o procedimento que se segue?
É ridículo, para não dizer cômico, o sistema de dirigir o juiz uma pergunta ao adolescente infrator para aferir-se o grau de seu desenvolvimento mental e intelectual” {La delincuencia de los menores y los tribunales para niños, p. 43-44).
No mesmo sentido, com razão, Eugenio Cuello Calón anota que o exame do discernimento dos adolescentes acusados é inútil, e só podia estar justificado nos antigos sistemas penais de estrita proporcionalidade entre a pena e o grau de liberdade do agente quando do cometimento do delito (Tribunales para niños, p. 104).
Entre nós, Ruy Rebello Pinho sustenta ser “humanamente impossível” conhecer realmente a verdadeira culpa de cada um, porque “a exagerada malícia e a tremenda perversidade podem ser apenas maneiras incorretas de reagir ante as circunstâncias de um acontecimento ou simples manifestação de medo”.
Por isso, “entre o arbítrio dos juízes e o arbítrio da lei, é preferível o arbítrio da lei.
Os magistrados muitas vezes sofrem influência do clima de revolta que acompanha os delitos. A lei, distante do fato concreto, é fria e impessoal” (Menores infratores e criminosos imaturos, p. 131-132).
O outro critério, o biológico-cronológico, impede a discricionariedade e a imprecisão inerentes ao discernimento. A exclusão da responsabilidade penal se fundamenta num limite legal de idade, sem que se indague do grau de desenvolvimento intelectivo e volitivo do sujeito.
O critério de idade, evidentemente, também não está livre de críticas: contra ele se alega, em primeiro lugar, que a atribuição de conseqüências jurídicas ao fato de cumprir-se determinada idade rompe artificialmente em pedaços a própria continuidade do ser humano; em segundo, que a uma mesma idade não corresponde igual desenvolvimento físico ou psíquico, nem de maturidade social (Rocío Cantarero, Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: derecho penal y procesal de menores, p. 101). Mas, apesar de seus inconvenientes, a fórmula biológica é a mais adequada.
34

Estabelecendo limites fixos de idade, a lei penal pode definir, com fundamento exclusivamente normativo, a menoridade como causa de exclusão do processo penal. Tal isenção opera de modo análogo a uma presunção iuris et de iure, que não admite prova em contrário.
Adotando o critério biocronológico, o art. 228 da CF estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O art. 27 do CP contém regra idêntica, declarando que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. A maioridade penal aos 18 anos foi também observada pelo ECA, que, além disso, estabeleceu a idade de 12 anos para que se inicie a exigência de responsabilidade penal (arts. 102 e 104).
O adolescente, enfim, é a pessoa que cumpriu os 12 anos de idade. mas não ainda os 18.
Os menores de 12 anos estão efetivamente fora do direito penal, porque deles nunca se poderá exigir responsabilidade. Praticado por criança um fato definido como crime ou contravenção, só se indagará da necessidade de proteção, aplicando-se, eventualmente, medidas previstas no próprio ECA (art. 101) e na legislação civil.
Por outro lado, sempre se aplica o ECA ao agente que, ao tempo dos fatos, era adolescente (art. 104), qualquer que seja a medida a ser imposta. Assim, permite-se a imposição de medida socioeducativa a delinqüentes maiores de 18 anos, desde que hajam incidido no preceito típico antes do décimo oitavo aniversário. Aos 21 anos. em qualquer caso, cessa a responsabilidade perante o ECA (art. 2°, parágrafo único, do ECA).
Neste aspecto, há uma objeção a ser enfrentada. De fato, reformada a legislação civil brasileira pela vigência do novo CC, instituído pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, era esperada a profusão de iniciativas, originadas nos mais diferentes setores da sociedade brasileira, tendentes a interpretar a recente codificação.
Uma das mais eloqüentes alterações introduzidas pela reforma, a redução da plena capacidade civil dos 21 para os 18 anos de idade (art. 5°), não poderia passar incólume a esse processo.
A abolição do limite de 21 anos, e a conseqüente equiparação do marco da responsabilidade civil ao da penal, poderá seduzir algum intérprete a encontrar uma interferência do novo CC nas regras do processo por ato infracional previstas no ECA, impedindo-se, pelo caminho do novo sistema civil, a aplicação de qualquer medida àquela pessoa que, tendo delinqüido antes dos 18 anos, viesse a completar aquela idade. Isso significa dizer, por exemplo, que ficaria impune aquele sujeito que, na véspera do 18° aniversário, se animasse a eliminar todos os seus desafetos.
Parece-me não ser esta a melhor interpretação. Estabelecida uma regra particular de responsabilidade para o adolescente, pode-se então contestar qualquer intromissão do CC no processo de apuração de ato infracional cometido por adolescente. A nova legislação não pretendeu introduzir nenhuma mudança.
A histórica separação entre as hipóteses de responsabilidade penal e civil não mudou: enquanto a pena criminal tem uma orientação retributiva e uma face preventiva, a maioridade civil serve a conferir ao indivíduo plena aptidão para o exercício de seus direitos.
Foi este argumento que permitiu que, em 6 de novembro de 2002, a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovasse a transformação em projeto de lei do anteprojeto que atualiza o ECA.
Uma das mudanças propostas é aumentar em um ano o prazo da medida de internação: do máximo de três anos, em vigor hoje, o juiz poderia aplicar a medida por até quatro anos; e a liberação, que aos 21 anos é obrigatória, poderia se estender até os 22.
Enfim, no âmbito de aplicação de medidas a adolescentes é necessário compreender que o Estado renuncia à aplicação de medidas aos infratores que completam 21 anos, como se a eles concedesse uma espécie de perdão. A regra está distante da influência da nova legislação, a não ser que se tolere a confusão entre a
35

responsabilidade civil e a legitimidade passiva, aqui compreendida como a aptidão do sujeito para beneficiar-se do sistema de proteção integral do ECA.
11.2. O Direito Penal e o Adolescente
Não existe unanimidade na doutrina com relação à possibilidade de aplicação do direito penal aos adolescentes infratores. Luis Mendizábal Osés sustenta que a ação reformadora que o tribunal deve distribuir não é, por sua própria natureza, identificável com a idéia de castigo (Introducción al derecho procesal de menores, p. 137). Julián Carlos Ríos Martín adere a esta concepção, assinalando que os adolescentes submetidos a instituições de controle social não podem ser objeto de um procedimento penal em razão da comissão de injustos penais (El menor infractor ante la ley penal, p. 129).
Ao juiz. sob a ótica crítica, caberia levar em conta a pessoa do adolescente, seu ambiente social e econômico e sua família, com o objetivo de aplicar-lhe a medida mais adequada.
E essa adequação não deveria ter relação com o ilícito praticado, senão com a situação do adolescente (Alyrio Cavallieri, O Estatuto e o menor infrator, Revista Ciência Jurídica, p. 11-23). Para defender a completa inimputabilidade até os 18 anos de idade, Octávio González Roura afirma que falar de responsabilidade para os adolescentes parece uma ironia.
A única responsabilidade é da sociedade, que não os atendeu, que não cumpriu o dever elementar de cuidar dos pequenos miseráveis nascidos no delito, buscando-lhes melhores pais, proporcionando-lhes um lar honrado (Legislación penal para menores, p. 21).
Entre os autores pátrios, Ruy Rebello Pinho defende com ardor o antagonismo entre o direito penal e os menores de 18 anos. Se o menor, afirma, “reclama assistência, amparo e reeducação, não deve permanecer subordinado a dispositivos de conteúdo diverso. Sua vinculação à lei penal reduzir-se-á apenas à parte em que esta define os delitos.
A prática do fato considerado infração penal constitui prova evidente e aguda de faltarem ao menor assistência e amparo. Tratamento e reeducação fazem-se urgentes” (Menores infratores e criminosos imaturos, p. 122).
Parece-me que esta concepção não cumpre a finalidade básica de garantir os direitos fundamentais dos infratores, que muitas vezes podem ser submetidos a sanções mais graves que aquelas que, em iguais circunstâncias, seriam impostas a um adulto.
Ademais, o processo meramente tutelar nunca conseguiu estabelecer a necessária distinção entre menores abandonados e infratores, ou entre delitos mais ou menos graves (como explica Antônio Fernando Amaral e Silva, O Judiciário e os novos paradigmas conceituais e normativos da infância e da juventude, Jurisprudência Catarinense, n. 74, p. 4 e 6).
Por outro lado, o processo previsto no ECA encontra no direito penal correspondência obrigatória. São atos infracionais aquelas condutas descritas como crime ou contravenção no CP e na legislação especial (art. 103 do ECA). Se não se adotasse a tipicidade geral do ordenamento jurídico seria necessária a redação de um Código Penal juvenil, com tipos penais específicos para os adolescentes, o que se mostra evidentemente exagerado.
Ao cometimento de um ato infracional deve corresponder uma das medidas socioeducativas previstas no art. 112 do ECA. Tais medidas são impostas depois de um processo devido, informado por todas as garantias constitucionais, sendo imprescindível a prova da autoria e da materialidade do ilícito.
36

O processo tem destacado caráter jurisdicional: a ação socioeducativa se desenvolve perante um juiz, e mesmo as hipóteses de arquivamento e remissão dependem da homologação judicial (arts. 181 e 182).
O procedimento está presidido pelo contraditório, direito que se materializa nas garantias de pleno conhecimento da imputação do fato delituoso; de igualdade na relação processual, com possibilidade de produzir qualquer prova necessária a sua defesa; de defesa técnica e gratuita; de audiência pessoal com o juiz; de exigir a presença de seus pais em qualquer fase do procedimento (art. 111).
Evidentemente, não se excluem as garantia; próprias do processo penal (art. 152 do ECA) e aquelas estabelecidas pela CF (art. 227, § 3°, IV e V). Fica claro, portanto, que o legislador construiu um direito da infância e da juventude de índole penal, temperado pelas características próprias do adolescente como pessoa em desenvolvimento.
Ainda que a opção mereça a censura dos estudiosos contrários à imersão do adolescente no direito penal, é necessário concluir, com Wilson Donizeti Liberati, que outro significado não pode ser dado às medidas socioeducativas: “elas representam a manifestação do Estado, em resposta ao ato infracional, praticado por menores de 18 anos, de natureza jurídica impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva inibir a reincidência, desenvolvidas com finalidade pedagógico-educativa” (Adolescente e ato infracional: medida sócio educativa é pena?, p. 128).
De fato, “o Direito Penal dispõe de normas primárias próprias e que o que torna 'penal’ uma infração não é sua sanção com um pena, mas determinadas características materiais da própria infração” (Jesus María Silva Sánchez, Aproximación ai derecho penal contemporáneo, p. 275).
Por essa razão, sintetizava Paulo Afonso Garrido de Paula, em palestra proferida durante seminário promovido pela Prefeitura Municipal do Recife, em 1986, que, “embora tecnicamente com caráter diferente de simples prisão ou detenção, as medidas restritivas de liberdade impostas ao menor não perdem essa natureza, seja qualquer o nome que se lhes dê. É essencial, portanto, que se garantam ao menor certos direitos constitucionalmente previstos e aplicados aos adultos” (Direito e justiça: apontamentos para um novo direito das crianças e adolescentes, p. 37).
A natureza do direito da infância e da juventude não é proveniente da vontade do intérprete, mas existe simplesmente e deve ser reconhecida; e a constatação de que essa natureza é penal deriva do fato de que “o ECA impõe sanções aos adolescentes autores de ato infracional e que a aplicação destas sanções, aptas a interferir, limitar e até suprimir temporariamente a liberdade dos jovens, há de se dar dentro do devido processo legal, sob princípios que são extraídos do direito penal, do garantismo jurídico e, especialmente, da ordem constitucional que assegura os direitos de cidadania” (João Batista Costa Saraiva, Desconstruindo o mito da impunidade: um ensaio de direito (penal) juvenil, p. 64).
Definitivamente, “chamar as coisas por seu nome é pôr claridade na questão.
E toda restrição de liberdades imposta coercitivamente como conseqüência da violação de uma norma é, queira-se ou não, um castigo, uma sanção; e não reconhecê-lo assim só aumenta a sensação de mistificação, de manipulação, experimentada pelos próprios menores, que sentem como se lhes castiga chamando-se o castigo de ‘tratamento' e acrescentando que se lhes é imposto não como conseqüência de seus atos, mas 'em seu próprio bem'.
Em segundo lugar, porque chamar as coisas por seu nome torna impossível seguir interpretando que não são aplicáveis aos menores todas as garantias constitucionais que regulam a imposição de sanções num autêntico Estado de Direito (comissão de um fato delituoso, possibilidade de defesa, garantia jurisdicional etc.).
E, por último, porque chamar de sanções as sanções restitui à Justiça o papel que lhe é próprio; e diferencia a resposta que dela é exigível e que está em condições de dar daquelas outras respostas que,
37

consistentes em assistência, ajuda e proteção, são atribuições de outros organismos da administração, mas não, obviamente, dos órgãos jurisdicionais” ( C a r l o s González Zorrilla, “La jus t i c ia de menores en España”, epílogo a La justicia de menores: la delincuencia juvenil y sus inst i tuciones. de Gaetano de Leo, p. 139-140).
11.3. A Culpabilidade do Adolescente
A formulação de um conceito formal de delito vem, historicamente, provocando discussões doutrinárias. A definição mais corrente parte da idéia de que delito é toda conduta que o legislador sanciona com uma pena.
Mas isso não basta: o delito depende de um juízo de desvalor sobre uma conduta humana e de um juízo de desvalor sobre o autor dessa conduta.
Assim, a descrição legal concreta de uma conduta é a tipicidade, que, além disso, pode indicar um juízo de contrariedade ao direito. Esta contrariedade, ou a desaprovação do ato, é a antijuridicidade. Por último, a atribuição da conduta a seu autor é a culpabilidade (Francisco Muñoz Conde. Teoría general del delito, p. 18-19). O delito é, portanto, a conduta típica, antijurídica e culpável.
A escola liberal clássica, representada sobretudo por Beling e Liszt, definia o delito como uma ação equivalente a uma ocorrência da natureza que produz alteração no mundo social. Para os clássicos, a tipicidade era meramente descritiva de um processo causal; a antijuridicidade valorava a contradição entre o processo causal e o ordenamento jurídico; e a culpabilidade era a relação psicológica entre o autor e o fato, compreendendo o dolo e a culpa (Juán J. Bustos Ramírez e Hernán Hormazábal Malarée. Lecciones de derecho penal, v. 1, p. 130).
Todos os elementos objetivos da infração se compreendiam na antijuridicidade, enquanto para a culpabilidade restavam os elementos subjetivos. A culpabilidade indicava apenas a relação anímica do agente com o resultado, manifestada através de dolo ou culpa. Posteriormente, Beling agregou elementos subjetivos a seu conceito de tipicidade.
O tipo de delito passou a estar constituído por tipo de injusto e tipo de culpabilidade, mas seguia sendo um elemento valorativo e objetivo (Manuel Cobo del Rosal e Tomás S. Vives Antón. Derecho penal: parte general, p. 306-308).
A escola neoclássica, cujo maior representante foi Mezger, reconheceu a existência de elementos subjetivos e objetivos no tipo. Por outro lado, compreendeu que a culpabilidade continha elementos subjetivos, mas não unicamente, nem sempre. A culpabilidade passou a ser entendida como reprovação ao autor (Claus Roxin. Derecho penal: parte general, v. 1, p. 198-199).
O finalismo caracterizou a ação como um acontecer final, e não somente causal. O caráter final se fundamenta no fato de que o homem, graças a seu saber causal, pode prever, dentro de certos limites, as conseqüências possíveis de sua atividade, idealizar fins diversos e dirigir sua atividade, de acordo com seu plano, à consecução desses fins.
Por outro lado, o finalismo abandona a determinação puramente objetiva da tipicidade: o dolo passa a ser um elemento essencial do conceito de injusto.
A antijuridicidade segue sendo valorativa e objetiva; para a justificação de uma ação típica o autor deve conhecer os elementos objetivos e possuir as tendências subjetivas especiais de justificação. Dolo e culpa correspondem ao tipo, enquanto todo o fato, objetiva e subjetivamente considerado, integra a antijuridicidade.
38

A culpabilidade é a reprovabilidade dirigida ao autor que tem capacidade de atuar de outro modo, e tem caráter normativo (Hanz Welzel, Derecho penal alemán, p. 38, 74, 100, 167 e s.).
Atualmente parece haver uma tendência de mesclar-se a concepção neoclássica ao finalismo. O dolo é mantido na tipicidade e para alguns autores também está na culpabilidade, independentemente do conceito de ação que se adote.
Quanto à ação, o finalismo é recusado, já que o controle sobre o curso causal não explica a culpa. Por último, distinguem-se o injusto (juízo de desvalor sobre o fato) e a culpabilidade (juízo de desvalor sobre o autor, isto é, reprovabilidade) (Claus Roxin, Derecho penal: parte general, v. 1, p. 201).
A possibilidade de reprovação é essencial a que o fato possa ser atribuído a uma pessoa. Trata-se justamente daquele elemento necessário para que se possa exigir responsabilidade penal de um sujeito que praticou uma conduta típica e antijurídica. A culpabilidade consiste, portanto, na reprovação pessoal que se dirige ao agente em virtude da realização de um fato tipicamente antijurídico.
O sentido desta reprovação também vem permitindo extensos debates. A doutrina mais tradicional compreende que a infração é reprovável a seu autor quando este podia atuar de modo distinto a como atuou, ou seja, quando tenha podido atuar de conformidade com seu dever.
Para os tratadistas, a motivabilidade normal ou anormal do autor está também baseada na liberdade da vontade. Daí afirmar-se que alguém é culpável de uma infração somente quando seja possível supor que a conduta podia ter sido evitada (Manuel Cobo del Rosa e Tomás S. Vives Antón, Derecho penal: parte general, p. 539-543).
Outros importantes autores tomam como ponto de partida a antijuridicidade como uma proibição geral pelo direito frente a todos. A culpabilidade, por sua vez, nem sempre existe: às vezes o direito tem de renunciar à pena quando esta não seja eficaz para certos grupos de pessoas.
Assim, em algumas situações a não imposição de sanções, além de não alterar a ordem social, se revela, ao contrário, como algo intolerante e abusivo.
O direito deixa de castigar porque não pode, e não porque não quer. O fundamento da culpabilidade seria, neste sentido, a necessidade da pena.
Nenhuma das posições anteriores está isenta de críticas. É que o argumento tradicional da culpabilidade sempre se baseou na idéia de liberdade de vontade e considerou pressuposto fundamental da responsabilidade o poder atuar de outro modo.
Ocorre que é impossível demonstrar a possibilidade de agir de outro modo; além disso, a decisão será própria do sujeito, mas não é lógico pensar que no instante em que foi tomada não poderia ser outra, diante dos concretos (e irrepetíveis) fatores concorrentes (Santiago Mir Puig, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 94. Cf., também, Enrique Peñaranda Ramos, Carlos Suárez González e Manuel Cancio Meliá, Um novo sistema de direito penal: considerações sobre a teoria de Günther Jakobs, p. 70).
Pode acontecer, ainda, que uma pessoa, entre vários comportamentos possíveis, escolha algum que seja prejudicial para outros, sem que sua conduta mereça, só por isso, um juízo negativo (Francisco Muñoz Conde, Teoría general del delito, p. 120-121). Por isso, as teorias clássicas estão superadas: elas têm por fundamento uma indemonstrável capacidade de poder atuar.
Por sua vez, o argumento da culpabilidade baseada na necessidade de pena parte de uma concepção preventiva do direito penal, necessária somente para os sujeitos normais. O castigo dos não culpáveis não é socialmente necessário, porque a coletividade não o exige, nem se escandaliza com a impunidade.
Não obstante, em relação aos inculpáveis não existe necessidade de prevenção geral; e também não existe necessidade de prevenção especial, porque à eventual periculosidade do sujeito correspondem medidas de segurança (Santiago Mir Puig, El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 95).
39

Aliás, é imperioso considerar, com José Cerezo Mir, que a distinção entre antijuridicidade e culpabilidade, conforme a pena tenha ou não eficácia inibitória, nem sempre é verdadeira (La posición de la justificación y de la exculpación en la teoria del delito desde la perspectiva española, in Justificación y exculpación en derecho penal, colóquio hispano-alemán de derecho penal, p. 27-28).
O fato antijurídico sempre é indesejável, ainda que seu autor não possa ser castigado. O que impede o castigo é a concorrência de algumas condições psíquicas que diferenciam o agente de um homem adulto normal.
A culpabilidade exige capacidade de motivação pela norma. Considerando-se que em alguns casos a norma não pode emitir a intensidade motivadora que normalmente possui, a motivação tem um caráter valorativo: não é culpável quem não é motivável normalmente. Ou seja, a norma pode incidir no processo de motivação, ainda que sem sua intensidade normal; a conduta, porém, segue sendo antijurídica, porque não se permite que o inculpável a pratique (Santiago Mir Puig. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho. p. 83, 96-99).
Para evitar as críticas que consideram radical esta teoria, Mir Puig argumenta que num Estado social e democrático de direito não se considera justo levar o desejo de prevenção a castigar quem atua sem culpabilidade.
A possibilidade de imposição de pena encontra um limite (normativo) na falta de culpabilidade. Não é lícito castigar porque sem culpabilidade não há motivação normal pela norma. O inculpável tem uma capacidade inferior de cumprir o mandato normativo em relação ao homem em situação normal.
Por isso, não se pode impor a ambos a mesma sanção, o que vulneraria o princípio de igualdade real perante a lei.
Assim, a motivabilidade condiciona a antijuridicidade, e a normalidade da motivação condiciona a culpabilidade. Se existe alguma possibilidade de motivação do sujeito (concreto), tem sentido proibir-lhe o fato, ou seja, desejar evitá-lo dirigindo-lhe uma norma motivadora. Isto não exige que a motivabilidade alcance um determinado grau de normalidade, porque esta não é necessária para a proibição da conduta (injusto).
Mas, provada a plena anormalidade das condições de motivabilidade do sujeito, não lhe cabe o castigo por falta de culpabilidade (Santiago Mir Puig. El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho, p. 85-91).
O conceito de culpabilidade é formulado, portanto, como a atuação injusta, apesar da existência de acessibilidade normativa.
Afirma-se a culpabilidade de um sujeito quando o mesmo estava disponível, no momento do fato, para a chamada da norma segundo seu estado mental e anímico, quando (ainda) lhe eram psiquicamente acessíveis as possibilidades de opção por uma conduta conforme a norma (Claus Roxin, Derecho penal: parte general, v. 1, p. 807).
11.4. Elementos da Culpabilidade
O estudo da culpabilidade só se completa com a análise de seus elementos internos. O primeiro deles é a imputabilidade, ou capacidade de culpabilidade, que se caracteriza pela aptidão de motivar-se pela norma.
O segundo é o conhecimento, potencial ou real, da antijuridicidade do fato: só pode se motivar pela norma quem tem a possibilidade de conhecer o conteúdo da proibição.
Por último, integra a culpabilidade a exigibilidade de comportamento distinto: não se pode exigir responsabilidade maior que aquela determinada pelo âmbito de exigência da lei.
40

Assim, são imputáveis as pessoas que têm capacidade de ser motivadas pela norma penal e por sua sanção.
Ou seja. imputabilidade é a normalidade psíquica que torna possível uma motivação normal.
Só pode ser motivado pela norma o sujeito que conhece, concreta ou potencialmente, a contradição entre sua conduta e o direito. Por último, a culpabilidade requer a inexigibilidade de conduta distinta, que depende da inadequação entre o comportamento e a norma, conforme o critério que uma pessoa normal seguiria.
O CP (arts. 26 e 27) declara isentos de responsabilidade criminal determinados sujeitos. A construção é exclusivamente positivista. e situa sob um mesmo título incapacidades que têm raízes muito distintas.
A solução do legislador é. portanto, criticável: o chamado louco — aquele cuja consciência da realidade está gravemente alterada — e o adolescente não podem ocupar, sistematicamente, um lugar comum dentro do capítulo das chamadas incapacidades, concretamente com referencia à incapacidade de culpabilidade, ainda que não faltem, como é óbvio, interpretações da delinqüência de adolescentes como sintoma de uma condição patológica (Rocio Cantarero, Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: derecho penal y procesal de menores, p. 116-119).
Certo é que a inimputabilidade é uma ficção legal, que opera como uma presunção iuris et de iure, e que, como tal, não admite prova em contrário.
Daí ser possível afirmar que a definição normativa de inimputabilidade é equivocada: a solução está numa política criminal marcada por uma defesa social constituída de mecanismos distintos do direito penal.
É preciso favorecer a responsabilidade do adolescente desde o plano jurídico-penal frente à inimputabilidade.
O adolescente, pelo simples fato de ser adolescente, não deixa de atuar livre e conscientemente; motivável embora pela norma, não é oportuno reagir com a pena criminal frente a ele.
Mas deixar de apená-lo não faria nenhum sentido, e, de resto, ainda poderia determinar no sujeito um sentido negativo da justiça (Rocio Cantarero. Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: derecho penal y procesal de menores, p. 122, 124 e 849).
11.5. A Imputabilidade do Adolescente e o ECA
É razoável atribuir responsabilidade ao adolescente, tanto em função do ordenamento jurídico como em função da sociedade.
O jovem que conhece o respeito às regras do jogo social e se motiva por elas, a ponto de havê-las interiorizado, espera, de acordo com suas regras pessoais, que em caso de violação das normas lhe seja justa a aplicação de uma pena.
Por outro ângulo, a anormalidade do adolescente o excluiria de toda função garantidora, tanto no plano substantivo como no plano processual (Rocio Cantarero. Delincuencia juvenil y sociedad en transformación: derecho penal y procesal de menores, p. 124 e 127).
A justiça da infância e da juventude não tem sentido desde o ponto de vista da anormalidade.
A culpabilidade, que protege os culpáveis , não pode ser recusada para os menores inimputáveis, que permaneceriam a disposição do poder de intervenção de um Estado que, pretendendo precisamente uma maior tutela, acaba alcançando, apesar de tudo, o efeito contrário. Atribuir ao adolescente a condição de inimputável significa menor proteção e maior possibilidade de restrição de direitos fundamentais.
Como primeira conseqüência, a inimputabilidade retira o adolescente do direito penal, mas também. e consequentemente, das garantias vinculadas à culpabilidade. Antes, o adolescente será qualificado como
41

perigoso, e isso. por sua vez, dará lugar à imposição de uma medida de caráter e duração indeterminados — e, em conseqüência, não haverá nenhuma vantagem para o adolescente.
Se a prevenção segue sendo o melhor dos remédios, as medidas repressivas são. contudo, imprescindíveis quando o adolescente pratica um fato penalmente típico. Ao infrator deverão corresponder medidas adequadas à gravidade objetiva do delito, mas, sobretudo, a situação moral e material do infrator e de sua família; e a intervenção da jurisdição será necessária para refazer sua educação e impor medidas de proteção ou assistência, nas quais eventualmente se incluirá a família.
Qualquer legislação juvenil só pode ser incondicionalmente aplicada quando encontre fundamento na responsabilidade do adolescente infrator. Tal responsabilidade exige que o adolescente não seja considerado inimputável, e isto será pressuposto da sanção penal (Carlos González Zorrilla. “La justicia de menores en España”, epílogo a La justicia de menores: la delincuencia juvenil y sus instituciones, de Gaetano de Leo. p. 139).
Em conclusão, de lege ferenda, a menoridade penal deve ser repelida como causa de inimputabilidade, encontrando-se sua natureza no âmbito processual. É por isso que o juiz da infância e da juventude exerce uma jurisdição autêntica, e que existe um verdadeiro processo para dar suporte à imposição das medidas socioeducativas.
12. PROCEDIMENTOS
12.1. Considerações Gerais
A sucessão dos diversos atos do processo permite a chamada dinâmica processual, isto é, um movimento de diversos elementos tendente a preparar o provimento final. Cada um dos atos que compõem o processo, e que têm relação com a vontade humana, é um ato processual (Francesco Carnelutti, Instituciones de derecho procesal civil. p. 508). Os atos processuais determinam uma atividade processual que, contudo, precisa seguir alguns critérios de lugar, tempo e forma predeterminados pela lei.
Ainda que contenha uma descrição de procedimentos, o ECA não esgota a disciplina dos requisitos de atividade processual. Por isso, é necessária uma rápida referência às noções de lugar, tempo e forma estabelecidas pela legislação processual comum.
Tempo e espaço, explica Carnelutti, são dois conceitos relacionados: o primeiro se refere à natureza desde o aspecto dinâmico, enquanto o espaço a considera desde o aspecto estático. Lugar, pois, “é uma porção do espaço, e, especialmente, desde a consideração horizontal do espaço, uma porção da superfície terrestre; lugar do ato é o ponto do espaço e, especialmente, da superfície terrestre em que o ato se produz” (Francesco Carnelutti, Instituciones de derecho procesal civil, p. 765). Os efeitos jurídicos dos atos processuais dependem, muitas vezes, de que sua realização ocorra num determinado lugar, em detrimento de outros.
Os atos processuais se realizam, em regra, na sede do juízo (arts. 176 do CPC e 792 do CPP). A regra, contudo, não é absoluta: o órgão jurisdicional pode, em razão de deferência, de interesse da justiça ou de obstáculo argüido pelo interessado e acolhido pelo juiz, constituir-se em qualquer lugar dentro de seu território (p. ex., nas hipóteses dos arts. 410, 411 e 440 e s. do CPC).
Seguindo na lição de Carnelutti, “o tempo, como aspecto da natureza ou do mundo, como se prefira, não é mais que a expressão de sua contínua mudança, ou seja, da história; exatamente porque a realidade só existe em transformação, história e realidade freqüentemente se confundem. A posição de um ato em tal mutação é o que se chama de tempo do ato” (Francesco Carnelutti, Instituciones de derecho procesal civil, p.
42

752). O tempo do ato processual, portanto, expressa sua coincidência com um determinado fato ou sua distância em relação a ele. Como o processo contém uma sucessão de atos no tempo, é necessário determinar a ordem destes atos e a distância entre cada um deles.
Os atos do processo penal podem ser praticados em qualquer dia, mesmo domingos, férias ou feriados, excetuados os julgamentos, que não podem ser designados para domingos ou feriados (art. 797 do CPP). O processo civil pátrio restringe a prática dos atos processuais aos dias úteis, das 6 às 20 horas, admitindo-se a prática de atos urgentes em qualquer dia e horário (art. 172 do CPC).
Por último, Carnelutti define a forma do ato como “a porção que se manifesta exteriormente, ou seja, a realização da causa ou da vontade”. A forma, explica o autor, se decompõe logicamente em ação e evento. A ação tem uma espécie positiva (comissão) e uma negativa (omissão), e se traduz num emprego de meios aptos para determinar os movimentos.
Mas a ação não é suficiente para determinar a forma. Como conseqüência da ação surge o evento, “uma alteração no mundo, no status naturae anterior à ação”. Juridicamente, o evento não é só a mudança, mas ainda a falta de mudança de um Status. Por isso, o evento se traduz numa atitude do mundo exterior, qualificada pela diferença, quer em relação ao que havia antes, quer em relação àquilo que poderia ter havido (Francesco Carnelut t i . Instituciones de derecho procesal civil, p. 598 e 601).
A teoria do processo civil desenvolve com precisão a idéia do caráter instrumental de seus atos. Isto é, alcançado o fim do ato, uma eventual inobservância da forma não leva a sua ineficácia.
A forma está subordinada aos objetivos do ato: há liberdade de forma se o ato é suficiente para a t ing i r sua finalidade (Paolo Moscarini, Esigenze antiformalistiche e conseguimento dello Scopo nel processo penale italiano, p. 25). O processo penal, por outro lado, é formalmente mais rígido por duas razões fundamentais.
A primeira consiste em que alguns de seus princípios, rigorosamente garantistas. parecem distantes da lógica de uma liberdade de formas. Por outro lado, o próprio sistema de nulidades do processo penal estabelece um sistema menos flexível de invalidação de atos por violação de formas. Em segundo lugar, enquanto no âmbito do direito privado os particulares podem praticar atos e negócios jurídicos sem a intervenção da jurisdição, o tratamento do direito penal é diferente: sua verdadeira essência está na pena, e a pena não pode prescindir do processo.
É o que a doutrina costuma chamar de princípio da necessidade do processo penal (Emilio Gómez Orbaneja, Comentários a la Ley de Enjuiciamiento Criminal v. 1, p. 27). Sendo assim, no processo penal o valor da forma está em presidir normativamente a indagação judicial, para proteger a liberdade dos sujeitos contra a introdução de verdades arbitrárias. A verdade, neste modelo, é uma verdade formal ou processual, que só pode ser obtida a partir da obediência a regras determinadas. Não se consegue a verdade por meio de indagações inquisitivas alheias ao objeto processual, mas condicionada em si mesma pelo respeito aos procedimentos e às garantias de defesa (Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, p. 44 e s . ) .
Não obstante, não se pode admitir o formalismo, enquanto definido como “excesso nas prescrições formais, hipertrofia do Direito, excesso dos limites impostos à liberdade de ação” (Francesco Carnelutti, Derecho procesal civil y penal. p. 316).
Tampouco, conforme adverte Norberto Bobbio, se deve confundir formalismo ético — “aquela doutrina que recusa qualquer critério de justiça que esteja além das leis positivas” — com o formalismo jurídico — segundo o qual “a característica do Direito não é a de prescrever o que cada um deve fazer, mas simplesmente o modo segundo cada qual tem que atuar se quer alcançar seus próprios objetivos” — e o formalismo científico — “que leva em conta o modo de conceber a ciência jurídica e o trabalho do jurista” (Teoria general del derecho, p. 54-55).
43

As formas são necessárias, mas o formalismo, para utilizar a expressão de Liebman, é uma deformação (Enrico Tullio Liebman, Manuale di diritto processuale civile, p. 257-259). Por isso. a disciplina das formas deve consistir naquele mínimo necessário para regular o ato processual.
No âmbito do EC A, com maior razão, o procedimento deve atuar como fator de coesão do sistema, adaptando-se com flexibilidade às exigências de cada caso concreto. Os procedimentos relativos a crianças e adolescentes têm, em regra, a finalidade de obter uma medida de proteção ou de reeducação. Uma concepção puramente formal — na qual a invalidação de um ato teria efeitos ex tunc — excluiria qualquer consideração relativa aos fins mais importantes do processo.
Assim, as formas devem estar restritas àquela configuração imprescindível para manter um processo dotado de garantias e que atenda com prioridade ao interesse de crianças e adolescentes.
Os atos processuais podem ser orais ou escritos. O ECA demonstrou uma tímida preferência pela oralidade ao prever a possibilidade de que a ação socioeducativa seja proposta oralmente (art. 182. § l°). Para este último caso, o ECA permite que o juiz celebre sessão diária, na qual as representações serão deduzidas.
Só não é compreensível que, depois de mais de uma década de vigência do ECA, ainda não se haja dado nenhuma importância a este dispositivo, cuja aplicação permitiria imensa economia de tempo e dinheiro. A representação escrita exige que o adolescente se desloque duas vezes: uma para ser ouvido pelo Ministério Público e outra para ser apresentado ao juiz. Se a representação fosse proposta verbalmente, o juiz poderia, em seguida, desde que presentes os pais do adolescente, realizar audiência para sua apresentação.
Nos casos de flagrante, o juiz, também com sensível economia de tempo, poderia determinar a internação provisória ou autorizar a imediata liberação do adolescente.
Os atos judiciais devem ser públicos (art. 155 do CPC). Os defensores da publicidade sustentam que a divulgação dos atos processuais é uma garantia contra possíveis arbitrariedades dos juízes.
Como princípio fundamental do direito político, a publicidade permite que a opinião pública mantenha o controle sobre a legalidade. Tratando-se dos procedimentos do ECA, no entanto, o segredo tende a proteger crianças e adolescentes. Como afirma Eugénio Cuello Calón, “a publicidade dos debates é prejudicial para o jovem. Seu comparecimento em juízo, numa sala cheia de um público em que abundam os vadios e os malfeitores, é altamente nociva a sua salvação moral.
Diante de pessoas que, profissionalmente, simpatizam com o jovem, este procurará adotar o papel de herói, fará pose de sem-vergonha e de cinismo e, talvez, adotará uma atitude que não corresponde a seu caráter; e, considerando-o sob este falso aspecto, o juiz poderá se enganar na apreciação da personalidade do adolescente.
A exibição do jovem diante de um público pouco recomendável, como costuma ser o que freqüenta as salas de audiências, deve ser completamente proscrita: é uma fonte de depravação que deixa no jovem um estigma duradouro” (Tribunales para niños, p. 73). Não se trata de defender um segredo absoluto, mas de admitir uma publicidade restrita, consistente em permitir que o adolescente, sua família e o Ministério Público estejam presentes em todas as fases do processo. Por estas mesmas razões é que o ECA proíbe a publicidade dos atos processuais (arts. 143 e 144).
12.2. Apuração de Ato Infracional: Considerações Gerais
O processo penal vem se desenvolvendo, historicamente, segundo dois sistemas: o inquisitivo e o acusatório. Luigi Ferrajoli define o sistema acusatório como “aquele que concebe o juiz como um sujeito passivo rigidamente separado das partes, e o julgamento como uma contenda entre iguais iniciada pela acusação, que suporta o ônus da prova, confrontada com a defesa num julgamento contraditório, oral e público,
44

e
resolvida pelo juiz segundo seu livre convencimento”; enquanto no processo inquisitivo “o juiz realiza de ofício a busca, a colação e a valoração das provas, chegando-se ao julgamento depois de uma instrução escrita e secreta da qual estão excluídos, ou pelo menos limitados, a contradição e os direitos de defesa” (Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, p. 564).
De modo mais detalhado. Andrés de la Oliva Santos sustenta que a principal característ ica da forma inquis i t iva “consiste em que o órgão jurisdicional desenvolve sua atividade em face de um ou de vários sujeitos, que se encontram em posição passiva em relação a essa atividade” (Derecho procesal penal, p. 38).
O processo inquis i t ivo pode ser iniciado de ofício e levado adiante contra uma só parte por um juiz que investiga, acusa e dita sentença. O segredo de seus atos se justifica como elemento compensador da vantagem que o infrator possa ter adquirido, e a forma escrita, predominante, permite que a segunda instância utilize o material produzido na primeira.
Por outro lado, a forma contraditória — que tem como características básicas a oralidade, a publicidade e a livre valoração da prova — implica “a dualidade de sujeitos processuais em posturas opostas e a situação primordialmente expectante do juiz, que contempla, com maior ou menor passividade, a pugna entre as partes e decide conforme aquilo que considera resultante dessa contenda” (Andrés de la Oliva Santos, Derecho procesal penal, p. 39).
A nota fundamental do sistema acusatório é a necessidade de uma acusação prévia ao julgamento. A obrigatória separação entre quem julga e quem acusa explica a introdução do Ministério Público no processo penal. Estabelecida como um objeto de interesse público tutelado pelo Estado, a persecução penal passa a ser encomendada a um órgão distinto do órgão judicial, o que garante a imparcialidade do juiz.
O processo penal brasileiro utiliza o chamado modelo acusatório formal ou misto, que conjuga uma fase de instrução inquisitiva com uma fase de julgamento nitidamente acusatória. Assim, o desequilíbrio inicial em que o Estado se encontra diante do delito confere aos órgãos encarregados da investigação certas prerrogativas próprias de um sistema inquisitivo; mas o julgamento é em regra público e presidido pelo contraditório.
12.3. Apuração de Ato Infracional: Fase Preliminar
O ECA não descreve um sistema de investigação próprio para os ilícitos cometidos por adolescentes. Por isso, a investigação deve, em linhas gerais, seguir o disposto no CPP (art. 152 do ECA). Em linhas gerais, os atos de investigação competem à Polícia Judic iária.
O Ministério Público pode assinalar possíveis atuações á Polícia, quando considere necessário, e o promotor de justiça pode praticar de ofício diligências de investigação. O mais freqüente é que a notitia criminis chegue à Polícia levada pelo próprio ofendido ou por uma testemunha, ou ainda como conseqüência da atividade policial externa.
É necessário algum esclarecimento a respeito dos termos instrução e investigação, que muitas vezes causam perplexidade. De fato, alguns autores não encontram distinção alguma entre uma e outra (José Rifá Soler e José Francisco Valls Gombau, Derecho procesal penal, p. 183), enquanto para outros estudiosos a instrução se identifica com uma forma concreta de investigação, a investigação judicial (José António Martín-Caro Sánchez, El fiscal y la instrueción en el proceso de menores, in Estúdios jurídicos: Ministério Fiscal, v. 6, p. 47). Parece-me que esta distinção é perfeitamente possível, já que é nítida a existência de diligências que podem ser praticadas pela Policia e pelo Ministério Público e, por outro lado, de uma fase processual atribuída ao órgão jurisdicional.
45

Assim, a instrução é mais ampla e está relacionada a uma autêntica atividade processual, jurisdicional, que inclui a indagação a respeito do delito e da participação dos imputados, assim como a adoção de medidas cautelares ou que afetem direitos fundamentais. A investigação é atividade não processual, que será exercida por órgão não jurisdicional e servirá de base para o juizamento ou não da ação correspondente.
De acordo com tais conceitos, é possível verificar que o ECA atribuiu a atividade de investigação à Polícia Judiciária, ainda que o Ministério Público seja possível praticar de ofício as diligências que considere adequadas ou requisitá-las à autoridade policial.
Na prática, o ECA atribui ao Ministério Público uma dupla tarefa: dirigir a investigação e exercer, com privatividade, o juízo de acusação, ao órgão jurisdicional se reserva a função de garantia de direitos fundamentais, assim como o controle da viabilidade da ação e seu julgamento.
O procedimento a ser adotado na fase policial se condiciona à gravidade do ilícito e ao fato de ser ou não o adolescente apreendido em flagrante.
No caso de apreensão em flagrante, e se o ato infracional tiver sido cometido mediante violência ou grave ameaça contra pessoa, a autoridade policial deverá elaborar auto de apreensão em flagrante (art. 173 do ECA). Esta peça deverá conter as declarações do adolescente e de testemunhas, além de outros elementos de prova (perícias, apreensão de objetos etc.).
Tratando-se de atos infracionais não violentos, a Polícia poderá simplesmente elaborar boletim de ocorrência que contenha suficientes informações sobre os fatos (art. 173. parágrafo único, do ECA). Em qualquer caso, o expediente será imediatamente enviado ao Ministério Público (arts. 174 a 176 do ECA).
Excluída a hipótese de flagrante, a Polícia poderá investigar detidamente os fatos, já que não haverá a mesma urgência para o envio do expediente ao Ministério Público. Será suficiente a elaboração do boletim de ocorrência, ao qual deverão ser anexados outros documentos que tenham sido obtidos.
A investigação, neste caso, deverá terminar no máximo em 30 dias, aplicando-se a regra do art. 10 do CPP. O promotor de justiça pode prosseguir com a investigação, quando necessário, ou determinar à Polícia que realize outras diligências. Qualquer diligência admitida pela legislação processual poderá ser realizada, se necessário mediante prévia autorização judicial.
Depois de receber o expediente da Polícia o promotor deve ouvir o adolescente e, sendo possível, seus pais, a vítima e as testemunhas do fato (art. 179 do ECA).
Ainda que o ECA estabeleça que esta oitiva é informal, convém que seja reduzida a termo, porquanto poderá, mais tarde, servir como elemento de convicção.
Não é opção do Ministério Público proceder ou não à oitiva. já que ela é também um direito do adolescente. Ademais, o próprio exercício da ação está condicionado à prévia oitiva do adolescente, salvo quando este, notificado da realização do ato, a ele não comparece injustificadamente.
O adolescente terá direito de designar ou que lhe seja designado defensor, com o qual poderá entrevistar-se reservadamente, mesmo antes de prestar qualquer declaração.
Poderá o adolescente, ainda, intervir em qualquer diligência praticada e propor a prática de outras, assim como ser ouvido pessoalmente pelo juiz ou pelo promotor de justiça. Estes direitos, a meu ver, devem estar assegurados a partir do momento em que, como conseqüência da investigação, resulta uma imputação a pessoa determinada.
12.4. Apuração de Ato Infracional: Medidas Cautelares
46

As medidas cautelares são atos que têm por objeto garantir o desenvolvimento normal do processo e, portanto, a eficaz aplicação do jus puniendi. Em geral, a adoção de medidas cautelares depende da coexistência de dois requisitos objetivos: por um lado, a verossimilhança do objeto do processo, ou seja, que esteja em causa um fato que apresente características de delito, pelo qual uma pessoa apareça como responsável; por outro lado, que haja temor de que o imputado, com sua conduta, possa impedir o desenvolvimento do processo.
Assim, a tu te la cautelar depende da existência do periculum in mora e do fumus boni iuris: o primeiro constitui o fundamento jurídico de toda medida cautelar, já que tem a finalidade de permitir, durante a tramitação do processo, que se mantenha o status quo necessário ao cumprimento da sentença; o segundo é, a aparência do bom direito, isto é, a idéia de que a medida, a priori, é ajustada ao ordenamento jurídico.
Tratando-se de hipóteses de restrição de direitos, as medidas cautelares só podem ser adotadas quando previstas em lei. No âmbito da apuração de ato infracional, a única medida cautelar que o ECA estabelece ê a internação provisório do adolescente. Esta internação não se confunde com aquela decorrente de apreensão em flagrante, que é anterior ao ajuizamento da ação socioeducativa e consiste numa medida pré-cautelar, e não cautelar (Sara Aragoneses Martínez. Derecho procesal penal. p. 417). Por outro lado, o ECA não prevê hipóteses de internação preventiva ou temporária.
O revogado Código de Menores de 1979 permitia que a internação provisória fosse determinada por decisão não motivada. As hipóteses de internação não eram taxativas, o que possibilitava a aplicação da medida de acordo com a interpretação livre do juiz.
A internação não era subordinada a prazo determinado e podia, eventualmente, ser mantida após a maioridade (Antônio Chaves, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 529).
A internação provisória, tal como prevista no ECA, se condiciona à especial gravidade do fato e a sua repercussão social. Depende, alem do mais, de que haja necessidade de garantir a segurança pessoal do adolescente ou de manter a ordem pública(art. 174 do ECA). Só o juiz, mediante decisão motivada, pode determiná-la (art. 108, parágrafo único, do ECA).
Havendo prévia apreensão em flagrante, a própria autoridade policial deverá pôr em liberdade o adolescente, entregando-o a seus pais ou responsáveis (art. 174 do ECA). Não sendo caso de imediata liberação pela Polícia, o adolescente será apresentado ao Ministério Público (art. 175 do ECA).
O promotor de just iça, também imediatamente, e independentemente de autorização judicial, pode autorizar a liberação do adolescente (o que decorre do próprio exercício da oportunidade: se o Ministério Público pode dispor da ação socioeducativa, faz muito mais sentido a pronta liberação que a exigência de uma decisão judicial) ou, ainda, requerer ao juiz que lhe decrete a internação provisória (arts. 182 e 184 do ECA).
O prazo máximo de internação provisória é de 45 dias (arts. 108 e 183 do ECA). Não sendo concluído o processo neste lapso, o juiz deverá determinar a liberação do adolescente. A internação provisória não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional, permitindo-se que ali permaneça o adolescente, por no máximo 5 dias, em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas (art. 185 e parágrafos do ECA).
A internação é medida excepcional. Ainda que ela seja cabível, o juiz sempre deverá examinar a possibilidade de adotar providências que a substituam, como as medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA.
12.5. Apuração de Ato Infracional: Exclusão do Processo
Concluída a investigação, várias providências podem ser adotadas pelo Ministério Público. O arquivamento das peças de informação (art. 180, I, do ECA) é necessário quando haja prova da inexistência do fato; quando o fato não seja penalmente típico; quando faltem indícios suficientes a respeito da existência
47

do
fato; e quando, provada a existência do fato, não se conheça seu autor. Parece-me que a exis tência evidente de causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade também deve conduzir ao arquivamento. Ao Ministério Público cabe promover o arquivamento, que dependerá da homologação judicial. Não homologando a promoção de arquivamento, o juiz deverá remeter o expediente ao procurador-geral de justiça, que poderá insistir no arquivamento — que o juiz, então, deverá aceitar — ou determinar o ajuizamento da ação (art. 181, §§ l° e 2°,doECA).
Não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá conceder ao adolescente a remissão (art. 180, II, do ECA), que estará sujeita a um mecanismo de homologação idêntico ao do arquivamento. A remissão, que tem o objetivo de excluir o processo, pode ser aplicada quando o permitam as circunstâncias do fato, o contexto social, a personalidade do adolescente e o grau de sua participação no ato infracional (art. 126 do ECA). A remissão corresponde ao exercício do princípio da oportunidade na ação penal.
O Ministério Público pode não acusar, concedendo o perdão ao adolescente; ou ainda pode não acusar, mas oferecer, mediante transação com o infrator, o cumprimento de qualquer medida não privativa ou restritiva de liberdade. Neste último caso, o adolescente deverá manifestar seu acordo com a remissão e com a medida (Cury, Garrido e Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 116). Conforme o caso, portanto, a remissão tem natureza de perdão ou de transação.
O Ministério Público não pode aplicar medida, mas apenas incluir a medida na remissão como condição para não processar. Trata-se de uma declaração bilateral de vontades: do Ministério Público, afirmando que não vai iniciar a ação, e do adolescente, que prefere a medida ao processo (Cury, Garrido e Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 157). Permite-se, a requerimento do adolescente, de seu representante legal ou do Ministério Público, a revisão judicial da medida aplicada com a remissão. Não se trata de uma revisão da remissão, mas apenas da medida imposta por força da transação (art. 128 do ECA). Com isso, a meu ver, o ECA elimina qualquer argumento contrário à constitucionalidade do instituto.
12.6. Apuração de Ato Infracional: A Ação Socioeducativa
Não se tratando de hipótese de arquivamento ou remissão, o Ministério Público deverá provocar o início do processo, propondo ao juiz a aplicação de uma medida socioeducativa ao adolescente infrator (art. 180, III, do ECA). A ação é exercitada através da chamada representação, que, uma vez admitida pelo juiz, configura o Ministério Público como autêntico órgão acusador.
A existência de uma acusação prévia é da essência do sistema acusatório. A previsão legal de uma acusação, como ato necessário a impulsionar o processo, indica, por sua vez, que o exercício da ação corresponderá a um sujeito diferente daquele que julgará o pedido.
Por isso, aliás, o Ministério Público foi introduzido no processo penal: primeiro, “para garantir a persecução penal como objeto de interesse público tutelado pelo Estado”; segundo, em razão da “exigência jurídica de imparcialidade do órgão julgador” (Teresa Armenta Deu, Principio acusatório y derecho penal, p. 34 e 44).
É possível inferir das considerações anteriores que o ECA está assentado sobre um modelo acusatório. De fato, como leciona Luigi Ferrajoli, “pode-se chamar de acusatório todo sistema processual que concebe o juiz como um sujeito passivo rigorosamente separado das partes, e o julgamento como uma contenda entre iguais iniciada pela acusação, à qual compete o ônus da prova, confrontada com a defesa num julgamento contraditório, oral e público, resolvida pelo juiz segundo sua livre convicção” {Derecho y razón, p. 564).
Pode-se concluir, portanto, com Marcelo Batlouni Mendroni, que constituem notas essenciais do sistema acusatório “que alguém sustente a ação, é dizer, o titular da ação não pode ser o titular do jus puniendi
48

—
este, o Poder Judiciário; e também que o ofendido não seja o titular do jus persequendi (Curso de investigação criminal, p. 10).
Assim, “o Estado suprime, com algumas exceções, a justiça privada, e ao mesmo tempo abre a via indispensável: a criação de uma instituição destinada a executar as pretensões que sejam dirigidas aos órgãos do Estado; e, portanto, o fim do processo é o mesmo que inspira a supressão da justiça privada: a repressão das perturbações jurídicas no âmbito da comunidade, ou, noutras palavras, a manutenção da paz” (Jaime Guasp, Concepto y método de derecho procesal, p. 42).
Segundo a opinião mais difundida, todos os atos infracionais praticados por adolescentes podem ser perseguidos de ofício, e que o Ministério Público é o único legitimado a promover a ação (Cury, Garrido e Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 156).
De fato, o ECA não condiciona a ação do Ministério Público a nenhuma autorização, nem confere legitimidade ativa ao ofendido (art. 227). Isto se deve ao fato de que o ECA não sanciona propriamente crimes ou contravenções; a tipicidade penal serve apenas como referência para a identificação do delito praticado por adolescentes.
Por outro lado, as medidas impostas ao adolescente têm finalidade de reforma, e a vítima não tem nenhum interesse nesta reforma (Antônio Chaves, Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 677). Por outro lado, não há razão para recusar-se a admissão do assistente do Ministério Público no processo de apuração de ato infracional.
A representação pode ser escrita ou oral, e em qualquer caso deve conter um breve resumo dos fatos, sua qualificação jurídica e, se for o caso, a indicação de testemunhas (art. 182, § l°, do ECA). O ECA não limita o número de testemunhas, mas estas não devem ser mais que 8 (aplicando-se o art. 398 do CPP).
Também é intuitivo supor que devem constar na representação a identificação do adolescente, o órgão jurisdicional ao qual é dirigida e a indicação das provas que o Ministério Público pretenda produzir.
Por último, o ECA dispõe que a representação não depende de prova prévia da existência do fato e de quem haja sido seu autor (art. 182. § 2°).
Trata-se de norma meramente didática: a prova sempre será produzida depois do ajuizamento da representação, porque sem esta não há fase de instrução.
Uma redação mais ajustada poderia assinalar que é suficiente para a interposição da representação a ocorrência de um fato aparentemente delitivo e a existência de indícios de quem haja sido seu autor.
Recebida a representação, o adolescente e seus pais ou responsáveis serão citados dos termos da ação e notificados a comparecer acompanhados de advogado, a uma audiência de apresentação (art. 184 do ECA). Não localizados os pais ou o responsável, o juiz dará curador ao adolescente (art. 184, § 2°, do ECA).
O juiz ouvirá o adolescente e, se possível, seus pais ou responsável, e poderá solicitar parecer da equipe técnica (art. 186 do ECA).
A audiência de apresentação não será realizada sem a presença do adolescente, e sua ausência injustificada dará causa á suspensão do processo, com expedição de mandado de busca e apreensão (art . 184. § 3°, do ECA).
Terminada a audiência de apresentação, o juiz designará dia e hora para realizar a instrução (art. 186, § 2°, do ECA), saindo intimado o defensor para apresentar, em 3 dias, defesa prévia e indicação das provas que deseja produzir (art. 186, § 3°, do ECA).
Na audiência, que não poderá ser pública, será colhida a prova testemunhal e se incorporará o relatório da equipe técnica, quando houver. Terminada a oitiva das testemunhas, o Ministério Público e o defensor do adolescente disporão de 20 minutos cada um para, oralmente, formular suas alegações finais. Em seguida, o
49

juiz
ditará sentença (art. 186, §4°, do ECA).
Quanto à prova, aplicam-se as disposições gerais do CPP.
Deve-se observar apenas que o consentimento do adolescente não é suficiente para permitir a prática de medidas restritivas de direitos fundamentais. Exige-se, além do consentimento do próprio adolescente — no caso de que seja capaz de se expressar —, a conformidade de seus pais ou representantes legais. Se os interesses do adolescente colidirem com os de seus representantes, será imprescindível que a admissão da prova seja precedida de decisão judicial motivada.
12.7. Apuração de Ato Infracional: Terminação do Processo
O processo de apuração de ato infracional é resolvido por sentença. A sentença, na definição de Andrés de la Oliva Santos, é “o ato processual por excelência, ao qual o processo todo se encaminha”, e consiste numa resolução judicial que resolve sobre o objeto do processo, absolvendo a pessoa ou pessoas acusadas ou, ao contrário, declarando a existência de um fato típico e punível e atribuindo a responsabilidade a uma ou a várias pessoas, as quais impõe a pena ou as penas correspondentes (Derecho procesal penal, p. 555).
No regime do ECA, a sentença também pode ser concessiva de remissão. De fato, a remissão, já mencionada como medida aplicável pelo Ministério Público, também pode ser concedida, como atividade jurisdicional, para suspender ou extinguir o processo.
É possível ao juiz conceder a remissão desde a audiência de apresentação, mas sempre antes da sentença (arts. 186, § 1°, e 188 do ECA).
A remissão judicial não configura hipótese de utilização da oportunidade pelo juiz, mas um controle judicial da utilização das regras da oportunidade.
De qualquer maneira, a remissão judicial estará sujeita aos mesmos limites impostos pela Lei para a remissão promovida pelo Ministério Público, e só se adaptará aos parâmetros constitucionais se entendida como manifestação de conformidade ou de perdão.
A sentença que resolve o processo de apuração de ato infracional está vinculada a uma acusação. A congruência exigida da sentença tem por fundamento a necessidade de defesa e contradição durante o processo. Por outro lado, a sentença deve se projetar sobre o objeto do processo, que é exatamente o fato identificado pela acusação.
O fato não identificado pela acusação não pode ser objeto do processo, e, em conseqüência, não pode ser considerado pela sentença.
Neste aspecto, parece-me inevitável a aplicação das regras dos arts. 383 e 384 do CPP.
De fato, é razoável que o órgão jurisdicional possa “submeter às partes a hipótese de que o fato constitua um concreto delito diferente daquele qualificado, ou a de que haja uma causa de extinção da responsabilidade ou escusa absolutória não apreciada, ou ainda a de que exista uma circunstância eximente, atenuante ou agravante, igualmente não apreciada pelas partes, ou a possibilidade de que o grau de participação do agente deva ser qualificado de maneira diferente” (Andrés de la Oliva Santos, Derecho procesal penal, p. 576-577).
O ECA não determina os requisitos da sentença, que, por isso, deve conter aqueles elementos descritos no CPP (art. 381): os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; a exposição sucinta da acusação e da defesa; a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; a indicação dos artigos de lei aplicados; o dispositivo; a data e a assinatura do juiz.
50

O processo de apuração de ato infracional deverá ser resolvido por uma sentença de improcedência da representação, com caráter absolutório, quando esteja provada a inexistência do fato; quando não houver prova de existência do fato; quando o fato não constituir ato infracional; e quando não houver prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional (art. 189 do ECA; amplo tratamento da matéria pode ser encontrado em Luigi Lanza, La risposta giudiziaria dei tribunali per i minorenni alla devianza penale minorile, in Risposte giudiziarie alla criminalità minorile, p. 9-14).
Havendo prova da autoria e da materialidade de um ato infracional, o juiz deve proferir sentença de procedência da representação, com caráter condenatório, aplicando ao adolescente uma medida socioeducativa.
Admite-se também que o juiz, embora não reconhecendo a existência do ilícito ou sua autoria, imponha ao adolescente alguma das medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA.
Em regra, a intimação da sentença se faz unicamente na pessoa do defensor. Tratando-se, contudo, de sentença que aplicar medida de internação ou regime de semiliberdade, a intimação será feita ao adolescente e ao seu defensor, ou, quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou responsável, sem prejuízo do defensor.
Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença (art. 190 do ECA).
12.8. As Medidas Socioeducativas: Considerações Gerais
O ECA se apoia num modelo que, por um lado, introduz o caráter garantista do processo e reconhece garantias de julgamento inerentes ao processo penal e outras próprias das pessoas em desenvolvimento; por outro, atribui ao infrator uma responsabilidade em relação a seus atos.
A intervenção sobre os adolescentes pode tomar por base uma grande diversidade de respostas, que devem ser adequadas à gravidade do fato e, em especial, à personalidade e à reeducação do infrator.
O ECA procura especialmente estabelecer um sistema de preservação da educação, sem abandonar as exigências de defesa social. Impõe-se a punição pelo fato praticado, mas as medidas se destinam essencialmente a impedir que o adolescente volte a delinqüir.
As medidas têm, por isso, um caráter mais subjetivo que objetivo, mais educativo que repressivo (uma completa análise deste ponto de vista criminologia) está em Jean Trépaniere Françoise Tulkens. Délinquance & protection de la jeunesse aux sources des lois belge et canadienne sur I’ enfance, p. 53 e s.
Ainda que tenham finalidade fundamentalmente pedagógica, as medidas socioeducativas se identificam com a definição de pena, que é “o castigo consistente na privação de um bem jurídico pela autoridade legalmente determinada a quem, depois do devido processo, aparece como responsável por uma infração do Direito e em razão de tal infração” (Manuel Cobodel Rosal e Tomás S. Vives Antón. Derecho penal: parte general, p. 797).
Tanto no âmbito da execução quanto no das funções que desempenham como meios de luta contra o delito, pena e medida têm muito em comum. Por isso, os dois conceitos se aproximam através de um sistema flexível e garantista de reação unitária ao delito, cujo êxito dependerá do fornecimento de meios e de infra-estrutura adequados para sua aplicação.
Por outro lado, já não faz sentido aceitar que o juiz aplique medidas simplesmente educativas ou pedagógicas, e não penais. Isto não passaria de um inúti l eufemismo, que equivale a acreditar no caráter paternalista de sanções como a prisão ou os açoites.
Assim, as medidas do ECA, como qualquer restrição de liberdade imposta coercitivamente como conseqüência da violação de uma norma, são castigos ou sanções. Não lhes reconhecer este caráter aumenta a
51

sensação de mistificação e de manipulação experimentada pelos próprios infratores.
Castigo não se confunde com tratamento, e as medidas são impostas em razão de um ilícito e não em favor do agente. Sustentar a natureza penal das medidas restitui à justiça o papel que lhe compete e diferencia a resposta que dela se exige daquelas que cabem a outros órgãos da Administração.
Estabelecida a natureza das medidas, requer-se delas a mais estrita obediência ao princípio da legalidade. As medidas devem, por isso, ser certas e determinadas, e além disso previstas pelo legislador com anterioridade à prática do fato delituoso. Noutras palavras, as medidas devem estar orientadas por dois fundamentos principais: a tipicidade e a determinação temporal.
A tipicidade supõe a proibição de sancionar os infratores por crimes ou contravenções que não estejam tipificados no ordenamento jurídico nacional. A regra aparece afirmada no art. 103 do ECA.
De fato, já não se concebe um processo garantista em que se permita ao juiz a valoração de determinadas formas de vida ou de modos habituais de comportamento social; e também não se pode admitir que o juiz empregue as medidas que considere oportunas, sem submeter-se aos fatos provados e ao superior interesse do adolescente. Ainda como decorrência do princípio de legalidade, exige-se a determinação temporal da medida.
A indeterminação vulnera os princípios fundamentais de um Estado de Direito, pois “toda limitação da liberdade individual deve ser precisa e determinada no tempo, com o fim de que sejam evitadas as arbitrariedades de caráter político” (Giuseppe Bettiol, Instituciones de derecho penal y procesal, p. 151). Não se trata de uma limitação a ser imposta pelo juiz, mas do estabelecimento de limites máximos e mínimos dentro dos quais o juiz pode impor a medida, ressalvando a possibilidade de sua redução, ampliação ou substituição, dependendo da evolução do adolescente.
12.9. As Medidas Socioeducativas em Espécie
A primeira medida contemplada pelo ECA é a advertência (art. 112, I. do ECA), que consiste na admoestação verbal, que deve ser executada em audiência e reduzida a termo (art. 115 do ECA).
Tem a finalidade de fazer o adolescente compreender a gravidade do fato cometido e as conseqüências que tiveram ou que poderiam haver tido. A advertência é, em realidade, uma ameaça de sanção mais severa na hipótese de voltar o adolescente a praticar um delito.
A execução da advertência não deve demorar em relação à execução do delito, principalmente para que o adolescente perceba que o fato não passou despercebido. Deve restringir-se aos atos infracionais leves e, em especial, aos infratores primários já que sua eficácia seria mínima em casos mais graves.
Contra a advertência se objeta que a medida “é pouco recomendável, porque pressupõe no adolescente um certo desenvolvimento intelectual para entender seu alcance e grande força de vontade para ajustar a ela sua conduta no futuro” (Eugenio Cuello Calón, Tribunales para niños, p. 117). Não obstante, o juiz que utilize a linguagem adequada à idade e ao nível cultural do adolescente poderá chegar a uma medida de boa eficiência quanto aos fins de prevenção especial.
Ainda que o ECA permita a imposição de advertência sem prova definitiva de autoria (art. 114, parágrafo único), entendo que o juiz não pode fazê-lo. A fórmula do ECA colide com os direitos à presunção de inocência e ao devido processo, consagrados constitucionalmente.
Para que não se lesionem tais direitos, será sempre necessário operar com plenitude de provas. Assim, a imposição de qualquer medida, ainda que uma simples advertência, sempre deverá supor a prévia procedência da ação, que nunca será possível sem prova suficiente.
52

A obrigação de reparar o dano (art. 112, II, do ECA) se aplica aos delitos que tenham causado prejuízo patrimonial. Pode consistir na devolução de uma coisa ou em qualquer outra forma de reparação do prejuízo à vítima (art. 116 do ECA).
A reparação não será aplicada quando resulte ser impossível para o adolescente. A reparação do dano prevista no ECA é bastante tímida, já que não contém qualquer perspectiva de conciliação entre autor e vítima. Por outro lado, a reparação não deveria ser tratada como medida independentemente, mas como uma condição para a concessão de benefícios.
A medida de prestação de serviços à comunidade (art. 112, III, do ECA) consiste no exercício de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses, em entidades assistenciais, escolas, hospitais e estabelecimentos congêneres, ou programas comunitários ou governamentais, com jornada máxima de 8 horas semanais, sem prejuízo da freqüência à escola ou ao trabalho (art. 117 e parágrafo único do ECA).
A meu ver a prestação de serviços à comunidade não pode ser imposta coercitivamente, mas depende do consentimento do adolescente e de seus representantes legais. O consentimento é necessário para eliminar o caráter de trabalho forçado que a medida possa significar, e que a CF (art. 5°, XLVII, c) e o ECA (art. 112, § 2°) proíbem.
Aplica-se a medida de liberdade assistida (art. 112, IV, do ECA) nos casos em que haja necessidade de acompanhamento, auxílio e educação (art. 118 do ECA). A liberdade assistida supõe a designação, pelo juiz, de uma pessoa encarregada do acompanhamento do adolescente, com a finalidade de promover a integração social do adolescente e de sua família, se necessário com apoio de programas oficiais ou comunitários.
Também corresponde ao orientador cuidar da matrícula e da freqüência do adolescente à escola, buscando sua inserção no mercado de trabalho (art. 119 do ECA). A duração mínima da medida é de 6 meses, admitindo-se sua prorrogação, extinção ou substituição por outra.
A semiliberdade (art. 112, V, do ECA) consiste na internação em estabelecimento adequado, com realização de atividades externas e a freqüência obrigatória à escola (art. 120, do ECA). Pode ser aplicada como medida inicial ou como transição da internação para a liberdade. Não está sujeita a prazo determinado, mas nunca poderá durar mais que três anos (art. 120, § 2°, do ECA).
Por último, a internação (art. 112, VI, do ECA) é medida breve, excepcional e adaptada à condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento (art. 121 do ECA).
Supõe a residência num centro, em regime de privação de liberdade. Seus objetivos fundamentais devem ser o de prevenção, para que não se instale definitivamente a inadaptação, e o de reestruturação da personalidade do adolescente, para alcançar um adequado grau de maturidade pessoal que permita a vida em sociedade através de atividades educativas, laborais e de lazer.
A internação é decretada por tempo indeterminado, e reavaliada no máximo a cada 6 meses. A duração da medida nunca poderá exceder de 3 anos, e após este tempo o adolescente deverá necessariamente ser posto em liberdade, em semiliberdade ou em liberdade assistida.
A excepcionalidade da internação, garantida pelo art. 122, § 2°, do ECA, impede sua aplicação quando seja possível impor medida menos gravosa ao adolescente. Por outro lado, as hipóteses de internação são taxativas e estão descritas no art. 122, I e II, do ECA: prática de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e reiteração no cometimento de outras infrações graves.
Ainda assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a equiparação do tráfico de entorpecentes aos crimes hediondos, tem estendido a este ilícito a medida de internação (por exemplo, nos acórdãos proferidos na Ap.Cív. 75.731 -0/0, Comarca de Praia Grande, rel. Des. Álvaro Lazzarini, em 27-9-2001; na Ap.Cív. 78.005-0/9, da Comarca de Jundiaí, rel. Des. Nuevo Campos, em 24-9-2001; e na Ap. Cív.
53

77.929-0/8, da Comarca de Batatais, rel. Des. Nuevo Campos, em 24-9-2001).
A internação também pode ser imposta em substituição a outra medida (art. 99 do ECA) ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (art. 122, III, do ECA).
No primeiro caso, o ECA permite que as medidas sejam substituídas por outras, quando necessário, ouvido previamente o adolescente. No segundo, a internação é aplicada como sanção pelo descumprimento reiterado e injustificável de medidas anteriormente impostas, e não pode exceder de 3 meses.
Qualquer destas hipóteses exige que uma representação tenha sido julgada procedente por sentença, não se admitindo a regressão ou a internação-sanção quando a medida originária tenha sido aplicada em remissão.
De fato, a remissão só pode incluir medidas não privativas de liberdade (art. 127), e a regressão para a internação poderia configurar uma forma abusiva de subverter a lei.
12.10. Prescrição
O decurso do tempo atua em favor do agente, porque limita para o Estado o exercício da atividade de persecução do delito, da imposição de uma pena ou da execução desta. Mais que isto, a prescrição é “direito fundamental inerente a todo cidadão, evidenciado em todos os ramos do direito (tributário, civil, comercial, administrativo, processual esclarecendo, a própria Lex Mater, as circunstâncias em que tal não se prestara a ser utilizado (art. 5°l, incisos XLII e XLIV)” (Jouberl Farley Eger, Nova classificação da infração penal no atua sistema criminal brasileiro e o aplacamento da controvérsia de aplicação do instituto prescricional, disponível em: www.direitocriminal.com.br. 28-8-2001).
O ECA não contém nenhuma regra relativa à prescrição dos atos infracionais cometidos por adolescente ou das medidas deles decorrentes. A doutrina, longe de chegar á unanimidade, costuma propor soluções diversas.
A primeira das propostas doutrinárias compreende que a prescrição não é aplicável aos atos infracionais, já que as medidas socioeducativas — aquelas medidas que correspondem à sanção pela prática de ditos atos — têm natureza e finalidade diferentes da natureza e da finalidade das penas.
Além disso, a prescrição é instituto de direito material, e o ECA não permite senão a aplicação subsidiária das normas processuais (Marina de Aguiar Michelman, Da impossibilidade de se aplicar ou executar medida socioeducativa em virtude da ação do tempo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 211-212).
Outros investigadores mantêm que a medida educativa é, em sentido amplo, uma pena. O ato infracional é um delito, com todas as suas características.
O adulto que pratica um delito pode deixar, em razão do decurso do tempo, de sofrer a conseqüência jurídica de seu ato.
Não há razão, portanto, para que não se aplique o mesmo instituto aos adolescentes. A isso se acresça que o adolescente deve sempre ser tratado com menor rigor que um adulto (Rosaldo Elias Pacagnan. Prescrição e remissão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Revista Jurídica, p. 22-23).
Entendo que as regras relativas á prescrição, não havendo vedação no ECA, também se aplicam aos agentes menores de 18 anos. Ainda que as normas referentes à prescrição sejam normas de direito material, estão igualmente situadas entre as causas de extinção da punibilidade, que por sua vez pertencem ao sistema processual penal (CPP, art. 61).
54

Por outro lado, as medidas socioeducativas, como as sanções penais, são mecanismos de defesa social; e a exclusão do ato infracional da incidência da prescrição configura violação do princípio constitucional de igualdade (CF, art. 5°, caput).
Em nome deste último princípio, o adolescente nunca poderá receber tratamento mais gravoso do que aquele previsto para o adulto que esteja em situação idêntica.
Como sustenta Antônio Maria Lorca Navarrete, com base em instrução do Ministério Público espanhol, a atuação do promotor de justiça deve tender a limitar a discricionariedade do julgador, no momento de impor a medida ao adolescente, assim como a possibilidade de aplicá-la in pejus através de uma gravidade ou duração maior que a que se pudesse impor, pelos mesmos fatos, a um maior de idade, ou ainda mediante a aplicação de circunstâncias agravantes (El proceso español del menor, p. 118). Com efeito, o processo por ato infracional tende a excluir a pena.
Não obstante, isto não lhe subtrai o caráter instrumental, porque nem mesmo o processo penal tem a finalidade de aplicar uma pena. Num e noutro caso, o que se persegue é um adequado julgamento de uma prática supostamente ilícita.
O processo por ato infracional se converte, com isso, no elo de ligação entre os fatos típicos e a intervenção de natureza educativa, com a especial função de assegurar, em todo este iter, os direitos e garantias constitucionais que o adolescente merece. Não há razão para que, em nome da manutenção de tais garantias do processo, se recuse a incidência da prescrição.
Por outro lado, o argumento segundo o qual o adolescente estaria abandonado pelo Estado, se reconhecida a prescrição, pode ser facilmente contestado. É que com a prescrição se deixa apenas de aplicar medida socioeducativa pelo decurso do tempo; mas, reconhecida a necessidade de proteção, o adolescente estará amparado, conforme o caso, pelas medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA.
Estabelecida esta opção, resta delimitar o regime de aplicação da prescrição no âmbito do ECA.
Uma das soluções possíveis é a utilização do prazo de 3 anos para todos os atos infracionais. Tem-se em conta, para isso, o art. 2° parágrafo único, do ECA: praticado o ato por menor de 18 anos, o Estado lhe pode impor uma medida até que complete os 21. Este lapso de 3 anos servirá, então, de parâmetro para qualquer outra hipótese, à falta de previsão legal.
Entendo que tal solução sugere alguns problemas. É necessário, antes de mais nada, que se compreenda que o Estado renuncia à aplicação de medidas aos infratores que completam 21 anos, como se a eles concedesse uma espécie de perdão. Isto não configura prescrição: o limite etário não se suspende, nem interrompe, e menos ainda pode ser evitado pela prática tempestiva de algum ato.
Em outro aspecto, esta interpretação confunde prescrição com legitimidade passiva, no sentido, já mencionado, de aptidão do sujeito para beneficiar-se do sistema de proteção integral do ECA (neste sentido, Marina de Aguiar Michelman, Da impossibilidade de se aplicar ou executar medida socioeducativa em virtude da ação do tempo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, p. 212 ). Por último, restaria para alguns casos um prazo prescricional mais amplo que aqueles estabelecidos para os adultos pelo CP.
Parece-me que também deve ser repelida a opinião segundo a qual os prazos de prescrição para os adolescentes devem ser os mesmos previstos para os adultos, ainda que reduzidos de metade (Rosaldo Elias Pacagnan. Prescrição e remissão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Revista Jurídica, p. 22-23).
Adotada tal solução, e de acordo com o art. 109 do Código Penal, ter-se-ia a regra seguinte: o prazo de prescrição das medidas de internação e semiliberdade (cuja duração não pode exceder de 3 anos) seria de 8 anos; e o da liberdade assistida dependeria da duração estabelecida na sentença (2, 4 ou 8 anos, conforme se imponha a medida por prazo inferior a 1 ano, entre 1 e 2 anos ou igual ou superior a 2 anos).
55

A prestação de serviços à comunidade, a obrigação de reparar o dano e a advertência teriam prazo de prescrição de 2 anos (a opinião é recolhida por Marina de Aguiar Michelman, Da impossibilidade de se aplicar ou executar medida socioeducativa em virtude da ação do tempo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 1999, p. 213-214).
Esta última proposta não considera mais que as hipóteses de prescrição da medida, quando, muito mais que isso, a prescrição abrange também a pretensão punitiva, ou o próprio delito.
Levando-se em conta que a medida mais rigorosa — a internação — não comporta prazo determinado, será impossível sua determinação de acordo com a sentença concreta; e isso irá supor, uma vez mais, um prejuízo para o adolescente em relação ao adulto que se encontre em situação semelhante.
De qualquer maneira, nenhuma regra de analogia pode ser aplicada contra o adolescente. Daí a necessidade evidente de que se regule por lei a questão dos prazos de prescrição.
Enquanto não se repare a omissão legislativa, resta aplicar-se o prazo mais benéfico ao adolescente, seja antes ou depois da imposição de uma medida concreta.
O ECA não comina sanções ajustáveis ao art. 109 do Código Penal, mas apenas medidas socioeducativas de caráter fungível e precário. Tratando-se de prescrição posterior à aplicação da medida, portanto, faltará o parâmetro da delimitação temporal.
Neste caso, a única alternativa possível é a aplicação do menor prazo de prescrição encontrável no CP (arts. 109, VI, 114, II, e 115): 1 ano, indistintamente, para todos os atos infracionais e para todas as medidas a eles correspondentes.
Admitida, por outro lado, a prescrição anterior à imposição de medida, a adoção do esquema dos incisos do art. 109 do CP não pareceria objetável.
Este dispositivo contém preceito que serve de referência para que o Estado possa, num lapso razoável, ocupar-se da persecução do ilícito e da aplicação da medida mais adequada. Além do mais, nenhum prejuízo sofreria o adolescente em relação ao adulto: evidentemente, os prazos deverão ser reduzidos à metade (art. 115 do CP), sob pena de haver afronta à igualdade mínima entre maiores e menores de 18 anos.
Mas a adoção de um único prazo de prescrição após a sentença delimita também, e com idêntico espaço de tempo, a prescrição anterior à sentença. De fato, a acomodação do regime prescricional ao ECA exige que se incorporem as causas de interrupção da prescrição compatíveis com as medidas socioeducativas.
Estende-se o inciso I do art. 117 do CP à representação; o inciso IV à sentença que impuser medida socioeducativa; o inciso V ao início ou continuação do cumprimento de medida socioeducativa; e o inciso VI à reincidência. Não há, com isso, analogia aplicada contra o infrator; antes, a prescrição, interpretada como sistema, será sempre benéfica a ele.
A importação do modelo prescricional do CP inclui ainda a chamada prescrição retroativa, que se regula pela pena em concreto e se encaixa entre os intervalos das causas interruptivas do art. 117 do CP. A conclusão imperativa é de que tais intervalos nunca devem ser superiores a um ano, sob pena de incidir, ainda que retroativamente, a prescrição posterior à medida socioeducativa.
12.11. Outros Procedimentos do ECA
O elenco de procedimentos do ECA não é exaustivo. De fato, o Estatuto prevê a aplicação subsidiária das normas gerais previstas na legislação processual pertinente (art. 152).
Residualmente, declara a possibilidade de que, ouvido o Ministério Público, a autoridade judiciária investigue os fatos e ordene de ofício as providências necessárias, caso a medida judicial a ser adotada não
56

corresponda a procedimento previsto em lei (art. 113). Parece-me, entretanto, que o dispositivo é inaplicável diante da regra do art. 271 do CPC, que prevê a aplicação genérica do procedimento comum, salvo disposição em contrário.
Quanto aos demais procedimentos tipificados no ECA, optamos por descrevê-los, ainda que sucintamente, nos capítulos referentes ao direito material correspondente.
12.12. Coisa Julgada
Seguindo a lição de Andrés de la Oliva Santos, a coisa julgada tem dois sentidos: o primeiro indica o especial estado jurídico em que se encontram alguns assuntos ou questões, por terem sido objeto de julgamento definitivo num processo; no segundo sentido, a coisa julgada designa certos efeitos de determinadas decisões judiciais. Com esta última vertente se relaciona a coisa julgada formal; com a primeira, a coisa julgada material (Sobre la cosa juzgada, p. 17).
A coisa julgada formal é um efeito de todas as decisões judiciais. Diz respeito à firmeza ou impossibilidade de impugnação das decisões. Mas tem também um sentido positivo: a obrigação que têm os tribunais de respeitar aquilo que se resolveu e de não decidir de modo contrário.
Por sua vez, a coisa julgada material “é um efeito próprio de algumas decisões firmes que consiste numa precisa e determinada força de vincular, em outros processos, a todos os órgãos jurisdicionais (o mesmo que julgou e outros distintos), a respeito do conteúdo dessas decisões (normalmente, sentenças)” (Andrés de la Oliva Santos. Sobre la cosa juzgada, p. 23). A coisa julgada material pressupõe a formal, porque só a decisão firme pode adquirir o efeito vinculante extraprocessual.
Como regra geral, pode-se dizer que as decisões firmes de mérito produzem coisa julgada material. As decisões que resolvem requisitos e pressupostos processuais — que põem fim ao processo sem julgar o mérito, ou que nem mesmo põem fim ao processo — não excluem um segundo processo, nem vinculam, com caráter de prejudicialidade, o juízo do segundo processo (Andrés de la Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, p. 41).
A decisão que põe fim ao processo, com análise do mérito, é a sentença típica. Também e sentença a decisão que homologa o arquivamento ou a remissão (art. 181 do ECA), assim como aquela que concede a remissão judicial (art . 126 do ECA).
A sentença de mérito sempre produz coisa julgada formal e material, desde que não impugnada ou quando esgotados os meios de impugnação. Também produz coisa julgada a sentença que homologa ou concede a remissão, ainda que a medida possa ser revista a pedido do adolescente ou do Ministério Público (art. 128 do ECA).
Trata-se de uma decisão determinativa ou instável, na qual o juiz realiza uma atividade de adaptação do julgamento a um fato posterior (Antônio Carlos Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria geral do processo, p. 306). Não há, portanto, alteração do julgado, nem exceção à força da coisa julgada.
Não produz coisa julgada a sentença que homologa o arquivamento. Pode o Ministério Público, baseando-se em novos elementos de convicção, propor a ação socioeducativa. aplicando-se a regra do art. 18 d o C P P .
12.13. Prejudicialidade
57

A especificidade dos juízos da infância e da juventude, aos quais se atribui competência para conhecer da comissão de fatos penalmente típicos cometidos por adolescente, pode produzir decisões que afetem outras ordens jurisdicionais.
Além disso, decisões de outros órgãos dotados de jurisdição podem interferir no âmbito das decisões dos juízes da infância e da juventude.
É mesmo possível, num julgamento sobre matéria de direito, que leve em conta exclusivamente normas civis ou penais, que surja como antecedente necessário o conhecimento de um fato cometido por um adolescente. Neste caso. haverá um antecedente lógico ju r íd ico do pronunciamento jurisdicional de mérito, que poderá caracterizar-se como questão prejudicial.
Para que essa possibilidade de interferências recíprocas entre a jurisdição da infância e da juventude possa ser resolvida, deve-se recorrer à noção de prejudicialidade.
Em seu alcance mais amplo, o termo prejudicialidade caracteriza toda matéria que o juiz deve decidir previamente à questão de fundo. Neste sentido, o conceito inclui as exceções e as questões incidentais. Um conceito mais restrito define a questão prejudicial como toda matéria que, suscitada num processo jurisdicional, deve ser resolvida, através de decisão que tenha força de coisa julgada, por um juiz distinto daquele que conhece do processo. Só esta ú l t ima definição, a rigor, caracteriza a questão prejudicial, já que a anterior inclui outros institutos.
As exceções, que podem ser processuais ou materiais, constituem uma “especial maneira de exercitar o direito de contradição ou defesa em geral, que está disponível a todo demandado, que consiste numa oposição a demanda mediante um ataque às razões da pretensão do demandante, com razões próprias de fato ou de direito que tenham por objetivo destruí-la, modificá-la ou adiar seus efeitos” (Hernando Devis Echandía. De la prejudicialidad. Influencia del proceso penal en el civil y viceversa. Revista de Derecho Procesal. p. 419).
As exceções processuais — também chamadas questões previas — referem-se a pressupostos e requisitos processuais. As exceções materiais, por sua vez, são aquelas que se fundam em razões de direito material ou substantivo, isto é, envolvem a introdução de novos fatos no debate, para impedir ou extinguir o direito da parte contrária, provocando, quando procedentes, a improcedência quanto ao fundo. As exceções processuais e a prejudicialidade têm em comum a necessidade de que sejam resolvidas antes da questão de fundo.
Mas os conceitos não se confundem: as questões prévias integram o próprio julgamento (Alfonso Pérez Gordo, Prejudicialidad penal y constitucional en el proceso civil. p. 27), enquanto as prejudiciais “exigem um julgamento de natureza diversa, cuja solução tem que servir de base para a decisão do problema essencial do processo” (Miguel Fenech, El proceso penal, p. 364).
Por outro lado, as questões incidentais surgem durante a tramitação do processo, vinculam-se a seu objeto ou à validade dos atos processuais e necessitam, para sua solução, de um procedimento incidental (Encarnación Marín Pageo, La prejudicialidad civil en el proceso declarativo. Revista de Derecho Procesal, p. 64). Seu objeto é distinto do objeto principal do pleito, ainda que exista em função dele. Ao contrário das prejudiciais, com as quais guardam certa afinidade, não têm caráter devolutivo, ou seja, devem ser julgadas pelo juiz do processo.
Partindo dos estudos de Miguel Fenech, as questões prejudiciais podem constituir dois grandes grupos: as devolutivas e as não devolutivas. A prejudicialidade não devolutiva (incidenter tantum) se produz quando a pretensão prejudicial deve ser resolvida pelo juiz que conhece do processo em que esta pretensão se deduz.
58

As prejudiciais devolutivas são deduzidas diante do juiz ou tribunal competente em razão da matéria (em princípio, dist into do que conhece do processo em que aquela se produz) (Miguel Fenech, Derecho procesal penal, v. 1. p. 562).
O art. 110 do CPC, acolhendo a supremacia da jurisdição penal sobre a civil, dispõe: “se o conhecimento da lide depender necessariamente da verificação da existência de fato delituoso, pode o juiz mandar sobrestar no andamento do processo até que se pronuncie a justiça criminal”. Discorrendo sobre este princípio. James Goldschmidt explica que “a subordinação da jurisdição civil em relação a penal se funda no aforismo francês segundo o qual le criminel tient le civil en état, e se prende à idéia de que a realização de interesses privados não deve ser antecedente à realização da Justiça penal, cuja função é a manutenção da ordem pública; além disso, há uma razão de ordem prática, consistente em que no processo penal cabe a acumulação das pretensões penal e civil, enquanto o processo civil, tomando a dianteira, satisfaz unicamente o interesse civil” (James Goldschmidt. Princípios generales del proceso: problemas jurídicos y políticos del proceso penal. v. 2, p. 186-187). O vocábulo pode não indica uma faculdade do juiz, de modo que a suspensão é obrigatória.
Mas cabe ao magistrado uma atividade de valoração capaz de impedir a ocorrência de casos infundados de suspensão: é que a identidade entre o fato criminoso e o objeto do processo civil deve ser qualificada, isto é, dela tem de depender, com exclusividade, a sentença civil (Alfonso Pérez Gordo, Prejudicialidad penal y constitucional en el proceso civil, p. 74-75).
Os atos infracionais praticados por adolescentes podem constituir uma questão prejudicial de natureza penal. A primeira razão para isto está em que o ECA tem conteúdo formalmente penal, pois estabelece uma verdadeira responsabilidade jurídica para os infratores.
O direito contido no ECA, neste sentido, se refere a uma parcela qualificada do direito penal, em razão de uma circunstância pessoal do agente — a menoridade de idade —, e pela natureza penal das medidas socioeducativas, ainda que este último conceito seja tomado em seu significado mais amplo.
A segunda razão está em que a competência prevista no ECA corresponde a um juiz ordinário, preferentemente especialista, a quem cabe garantir a tutela efetiva dos interesses em conflito. E o último motivo está em que duas ordens jurisdicionais — a penal e a da infância e da juventude — devem apreciar o mesmo fato, sem que, entretanto, a união dos processos por conexão seja possível, já que são diversas as pretensões do processo penal e do processo por ato infracional e tendo em conta que a menoridade inibe a jurisdição penal.
Surge daí a possibilidade de que dois órgãos jurisdicionais — o penal e o da infância e da juventude — tenham de emitir pronunciamentos sobre um mesmo fato, como na hipótese de concurso de agentes entre um adulto e um adolescente. Devendo cada um deles ser julgado por uma ordem jurisdicional distinta, o mesmo fato poderá ser objeto de duas sentenças diferentes; e entre tais decisões não haverá mais que uma diferente localização temporal, com o conseqüente risco de que sejam discrepantes. Pode ocorrer, portanto, que num concreto processo — penal ou de adolescentes — se argumente com a existência de uma sentença transitada em julgado, emanada de outro juiz, sobre o mesmo fato.
Pode acontecer também que existam dois processos autônomos, sobre idêntico assunto, em jurisdições diversas. No primeiro caso, nenhuma norma determina a submissão do juiz penal ou do juiz da infância e da juventude a um pronunciamento de outra ordem jurisdicional.
Buscando resolver o problema, a lei francesa de 1912 (art. 18) estabelecia que os menores envolvidos num delito em que também tenham interferido delinqüentes adultos seriam julgados de acordo com o direito comum (Eugénio Cuello Calón, Tribunales para niños, p. 87). Na Inglaterra, o menor que pratica um delito com um adulto deve submeter-se à instrução perante a justiça de adultos, mas a sentença será proferida pelo juiz de menores (B. A. Roger Smith, Children and the Courts, p. 7-8).
59

Não falta quem sustente a necessidade de união entre o juiz de menores e o juiz criminal — já que ambos são membros de uma mesma Magistratura —, sem que isso venha a ferir o princípio da especialização (esta é a posição de Ordine, apud Eugénio Cuello Calón, Tribunales para niños, p. 87-88).
Estando o processo civil sob a influência de uma prejudicial consistente na prática de ato infracional por adolescente, devem preponderar as regras correspondentes à prejudicialidade penal. Com respeito ao processo penal, as soluções propostas por outros ordenamentos jurídicos não parecem adequadas, já que a jurisdição da in-fância e da juventude não pode julgar adultos, e os adolescentes não podem ser julgados pelo juiz criminal. Aliás, deve-se mesmo evitar o contato do adolescente com as instituições destinadas ao julgamento de adultos.
Duas soluções são aparentemente possíveis. A primeira: cumpre-se o art. 265, IV, do CPC, e o juízo da infância e da juventude suspende o procedimento. A segunda: aplicam-se os arts. 93, § 1º do CPP, e 110, parágrafo único, do CPC, e o juiz da infância e da juventude conhece da prejudicial sem força de coisa julgada.
Parece-me mais razoável a segunda hipótese. É mais conveniente admitir que o juiz criminal possa formar livremente sua convicção com relação a um fato já resolvido pela jurisdição da infância e da juventude e vice versa.
É por isso, aliás, que Andrés de la Oliva Santos sustenta que uma sentença penal que declara a inexistência de um fato parece ter eficácia prejudicial num ulterior processo penal sobre o mesmo fato.
Mas. com apoio em Beling, conclui que, em realidade, tal eficácia não existe: é preferível afastar a possibilidade de que se produzam sentenças contraditórias, ao risco de que o possível erro ao decidir assuntos antigos seja determinante para a resolução de assuntos novos.
Além do mais, “ainda que talvez alguns valores das decisões judiciais tenham que ser sacrificados, nada deve entorpecer ou limitar a liberdade de apreciação dos juízes e tribunais, nem impedir ou restringir a defesa do imputado quando os objetos dos processos respectivos não sejam idênticos.
E, para os casos em que o sejam, busca o ordenamento jurídico que o segundo processo termine o quanto antes, por falta de objeto, ou que, se a identidade se descobre tardiamente, que o processo acabe com a absolvição daquele que não deveria ser réu” (Andrés de la Oliva Santos, Sobre la cosa juzgada, p. 165-172).
Permanece problemática a questão de que os mesmos fatos não podem existir e deixar de existir, para os mesmos órgãos, ao mesmo tempo. Mas não se trata de admitir pura e simplesmente a possibilidade de decisões contraditórias sobre o mesmo fato: antes, pretende-se que um órgão jurisdicional tenha suficiente liberdade para negar aquilo que, sobre o mesmo assunto, afirmou outra jurisdição.
Ao não aceitar como certos os latos já decididos o juiz deverá, como é evidente, fazê-lo motivadamente, de acordo com as provas praticadas no processo respectivo. Com isso se evita a criação de uma regra genérica de vinculação automática de juízes e tribunais aos pronunciamentos de ordens jurisdicionais diversas, permitindo-se que o julgamento anterior possa ser valorado da mesma maneira como são valorados os meios probatórios.
A diversidade de critérios de cada ordem jurisdicional não supõe contradição nenhuma, que seja censu-rável no plano lógico-jurídico, sendo, antes, típica manifestação do exercício da potestade de julgar.
A negação do efeito prejudicial, de resto, coincide com a reafirmação de valores tão essenciais — sobretudo no processo penal — como a livre valoração das provas pelos tribunais e a defesa do imputado (cf. Carmem Senés Motilla, Las cuestiones prejudiciales en el sistema procesal español, p. 31-31, 49 e 51).
12.14. Recursos: Considerações Gerais
60

O processo deve seguir seu curso sob controle judicial e, reciprocamente, sob o controle das partes. Desde a perspectiva das partes, o controle se exerce através dos recursos, que consistem em atos processuais de impugnação de uma decisão judicial gravosa para a parte. Os recursos são, portanto, instrumentos legais postos à disposição das partes e destinados a atacar uma decisão judicial, para provocar sua reforma, anulação ou declaração de nulidade.
Alguns estudiosos consideram o recurso uma ação autônoma. Parece-me preferível afirmar que o recurso não inicia a relação jurídico-processual, mas incide sobre ela e apenas abre uma nova instância ou fase. O processo, neste caso, continua em seu “estado de recurso”. O recurso não rompe a unidade do processo, e a segunda instância é verdadeira continuação da primeira.
Os recursos estão subordinados à concorrência de alguns pressupostos. Em primeiro lugar, o recurso exige legitimidade. Em geral, as partes estão legitimadas a recorrer; mas também podem interpor recurso os terceiros que de alguma forma sejam afetados pela coisa julgada.
Além da qualidade de parte ou de terceiro prejudicado, a legitimidade recursal inclui a existência de prejuízo provocado pela decisão, ou sucumbência. O recorrente deve, ainda que minimamente, ter sofrido um gravame correspondente à diferença entre o que pretendia e o que lhe foi concedido pela decisão.
Também é pressuposto de qualquer recurso a existência de uma decisão recorrível. É que, por um lado, nem todos os atos judiciais são recorríveis (exemplos: arts. 121, § 3°, da CF e 504 do CPC); e, de outro lado, não são recorríveis, em regra, aquelas decisões transitadas em julgado.
O recurso deve corresponder à decisão que se pretende impugnar. Trata-se do pressuposto da adequação, derivado do fato de que a lei estabelece um único recurso para cada espécie de decisão. Só se admite a interposição de um recurso por outro quando não se evidencia erro grosseiro ou má-fé, como, por exemplo, no caso de simples equívoco na denominação do recurso, desde que de seu conteúdo resulte clara a finalidade da parte.
O último pressuposto dos recursos é a tempestividade: os recursos devem ser interpostos no prazo determinado pela lei. Os prazos dos recursos são peremptórios e preclusivos, e seu transcurso provoca a firmeza da decisão.
Em regra, os recursos são resolvidos por um órgão jurisdicional distinto daquele que proferiu a decisão. Nestes casos, a interposição do recurso tem um efeito devolutivo, porque o tribunal superior recupera uma jurisdição que lhe é devolvida pelo órgão inferior. Ao mesmo tempo, enquanto o recurso tramita o juízo a quo permanece privado de sua jurisdição a respeito da questão impugnada.
É também o efeito devolutivo que determina o âmbito do recurso, isto é, deve haver uma coincidência entre o recurso e a devolução: tantum devolutum quantum appellatum.
A interposição do recurso pode, em alguns casos, impedir a execução da decisão recorrida. Atribui-se aos recursos o efeito suspensivo, que consiste em impedir a execução da decisão recorrida. O que acontece, em verdade, é que as decisões têm, em alguns casos, eficácia contida, que dependerá do trânsito em julgado.
Os recursos, e especificamente o agravo, podem ainda ter efeito ativo, ou efeito suspensivo ativo. De fato, as decisões interlocutórias produzem efeitos imediatamente. Como algumas decisões têm conteúdo negativo, não faria sentido suspender-lhes os efeitos. Se a decisão impugnada deixa de conceder uma providência positiva urgente, é possível que o relator antecipe, total ou parcialmente, a tutela que se pretende obter através do recurso (art. 527, III, do CPC, com redação da Lei n. 10.352/2001).
A decisão que resolve o recurso também produz efeitos: quando nega provimento ao recurso, provoca a firmeza do julgamento atacado; quando dá provimento ao recurso, substitui, total ou parcialmente, a decisão recorrida, ou determina a renovação de algum ou de alguns atos processuais.
61

12.15. Os Recursos do ECA
O ECA utiliza o sistema recursal do CPC (art. 198 do ECA), mesmo no procedimento para apuração de ato infracional. Isto significa que são admissíveis todos os meios de impugnação do processo civil, mas sempre interpostos independentemente de preparo (art. 198, I, do ECA), com garantia de preferência de julgamento e com dispensa de revisor (art. 198, III, do ECA).
No sistema do CPC, o Ministério Público tem prazo em dobro para recorrer (arts. 188 e 191). A transposição desta regra ao ECA é controvertida: Cury, Garrido e Marçura sustentam a aplicabilidade do prazo em dobro, argumentando que o ECA adota integralmente o s is tema recursal do processo civil e suas alterações posteriores (art. 198, caput, do ECA) (Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 179). Entendo, no entanto, que o prazo em dobro não se aplica nos casos em que o Ministério Público é parte, sob pena de violar-se a própria igualdade na relação processual prevista no art. 111, II, do ECA.
12.16. Apelação
O vocábulo latino apellatio tem um sentido de chamamento ou reclamação. A apelação é, efetivamente, o meio universal de impugnação da sentença que realiza, “assim histórica como sistematicamente, a técnica política da dupla cognição judicial, dupla discussão e duplo julgamento, um substituto do outro, sobre o mesmo pedido” (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 11, p. 117).
A apelação permite o exame de um mesmo assunto por duas ordens jurisdicionais distintas. O duplo grau de jurisdição representa uma garantia para os cidadãos, porque um julgamento reiterado permite a depuração das decisões.
Não se trata de uma revisão da atividade do juiz de primeiro grau, e menos ainda de fiscalização ou censura de sua operação de julgar: cuida-se, como observa Emilio Gómez Orbaneja, de julgar novamente: a apelação tem por objetivo um novo exame do assunto, mas a partir da sentença impugnada e em conjunto com o material produzido em primeira instância e examinando unicamente as questões propostas nela (Derecho procesal civil, v. 2, p. 158). Com efeito, na segunda instância existe algo que não existia quando se realizou a primeira: a experiência do primeiro processo, ou melhor, sua própria realização.
Com maior ou menor intensidade, eliminaram-se obstáculos e dificuldades do caminho, e percorrê-lo mais facilmente favorece a justiça (Francesco Carnelutti, Instituciones de derecho procesal civil, p. 864-865).
Como regra geral, cabe apelação contra as sentenças proferidas pelo juiz da infância e da juventude (art. 513 do CPC ).
A apelação deve ser interposta perante o juiz que proferiu a sentença no prazo de 10 dias (art . 198, II. do ECA), e a petição de interposição deve estar acompanhada das razões do recurso.
Depois da resposta da parte contrária, que também deverá ser apresentada em 10 dias, o juiz deverá proferir decisão mantendo ou modificando a sentença recorrida (art. 198, VII, do ECA).
Se o juiz confirmar a decisão, o recurso seguira para o tribunal competente e abrirá a segunda instância: se se retratar, a parte que não haja recorrido poderá requerer, por simples petição, que o processo seja examinado em segunda instância.
O conhecimento da apelação compete a um superior hierárquico do órgão jurisdicional que tenha proferido a decisão impugnada. No âmbito do ECA. a apelação deve ser dirigida ao Tribunal de Justiça dos
62

Estados, e, particularmente em São Paulo, nos casos de competência exclusiva do juiz da infância e da juventude, perante a Câmara Especial do TJ, presidida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal e integrada pelos demais vice-presidentes e pelo decano (arts. 14 e 188, do Regimento Interno do TJSP).
A apelação tem efeito devolutivo necessário. Os limites deste efeito devolutivo se vinculam à regra tantum devolutum quantum appellatum. Por isso, a matéria sobre a qual pode incidir a atividade de conhecimento elo tribunal ad quem é estabelecida pelo apelante, que determina os extremos da decisão apelada e o sentido e o alcance da reforma que pretende.
A apelação não pode versar sobre pretensões não introduzidas em primeira instância; mas para decidir o tribunal pode apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro (art. 515, § l°, do CPC). O âmbito da devolução se subordina à proibição da reformatio in pejus, isto é, o tribunal não pode proferir decisão mais gravosa para o apelante que a decisão recorrida, salvo quando também haja apelado a parte contrária.
Aliás, quando o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito, a apelação pode, a pedido do autor, permitir que o tribunal julgue até mesmo matéria de fato (art. 515, §3°, do CPC).
O recebimento da apelação no efeito suspensivo é excepcional, limitado ás hipóteses de adoção por estrangeiro ou de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (arts. 198, VI e 215, do ECA).
12.17. Agravo de Instrumento
O agravo de instrumento é o recurso destinado a atacar as decisões interlocutórias.
O agravo será dirigido diretamente ao tribunal competente, que por sua vez poderá:
a) converter o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de provisão jurisdicional de urgência ou houver perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, remetendo os respectivos autos ao juízo da causa, onde serão apensados aos principais, cabendo agravo dessa decisão ao órgão colegiado competente;
b) atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 527, II e III, do CPC).
Em seguida, o tribunal: a) poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 dias (art. 527, IV, do CPC); b) mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de 10 dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender convenientes (art. 527, V, do CPC). O juiz de primeiro grau pode exercer o juízo de retratação, modificando sua decisão, e neste caso o recurso será considerado prejudicado (art. 529, do CPC). Mantida a decisão recorrida, o tribunal deverá proferir julgamento.
O prazo para interpor o agravo e para responder é de 10 dias. Neste particular, a Lei n. 9.139/96, que reformou o CPC, alterou os incisos II e IV do art. 198 do ECA. Os incisos VII e VIII do mesmo art. 198 também foram revogados, porquanto incompatíveis com a sistemática atual do agravo.
12.18. Outros Meios de Impugnação do ECA
Adotado expressamente o sistema recursal do CPC. as decisões dos processos fundados no ECA também se sujeitam aos embargos infringentes (arts. 530 a 534 do CPC), aos embargos de declaração (arts. 535 a 538 do CPC). ao recurso especial e ao recurso extraordinário (arts. 541 e 545 do CPC) e aos embargos
63

de
divergência em recurso especial e recurso extraordinário (art. 546 do CPC). Em todos estes casos, o prazo para interpor e para responder é de 10 dias, não se aplicando a regra dos arts. 508 e 536 do CPC (neste sentido, Munir Cury, Paulo Afonso Garrido de Paula e Jurandir Norberto Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 179).
É necessário reconhecer a possibilidade de impetração de habeas corpus em favor de criança ou adolescente que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5°, LXVIII, da CF).
Considerando-se que as medidas socioeducativas tem caráter de pena, e que a sentença que as aplica contém um provimento condenatório, não ha razão para negar-se ao adolescente a revisão dos processos de apuração de ato infracional, desde que configurada alguma das hipóteses do art. 621 do CPP. Por último, as sentenças proferidas no âmbito do ECA estão sujeitas a ação rescisória, nos limites do art. 485 do CPC.
12.19. Execução
O processo tem, em regra, uma fase de cognição e uma fase de execução. No processo penal, a primeira fase serve para resolver se o imputado deve ser castigado. A segunda fase só começa depois que é pronunciada contra o acusado uma sentença condenatória que lhe impõe o cumprimento de uma pena.
O ECA não estabelece um sistema de execução das medidas socioeducativas. Não obstante, é possível encontrar algumas características inerentes ao sistema de cumprimento daquelas medidas: a precariedade, a fungibilidade e a cumulatividade.
A medida socioeducativa é sempre imposta a título precário “de modo que cumpridas suas finalidades desaparece a justificativa, podendo, em conseqüência, ser revogada a qualquer tempo” (Paulo Afonso Garrido de Paula, Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada, p. 138).
Por outro lado, as medidas socioeducativas são essencialmente fungíveis. De fato, o ECA permite expressamente a substituição de qualquer medida por outra que se afigure mais adequada (arts. 99 e 113).
A substituição pode produzir-se in mellius ou in pejus, isto é, o ECA admite a substituição da medida por outra mais branda ou por outra mais grave.
A progressão para sanções menos graves é da essência das medidas socioeducativas. Primeiro, porque é expressamente autorizada como transição da internação para a liberdade, aplicando-se uma medida intermediária de semiliberdade ou liberdade assistida (art. 121, § 4°, do ECA). Depois, porque o sistema progressivo de cumprimento das penas é um dos fundamentos da execução penal pátria (art. 112 da Lei n. 7.210/84). Por sua vez, a regressão pode ser determinada por sentença sempre que a medida mais branda resulte inadequada ao adolescente infrator.
A regressão estará sempre condicionada à possibilidade jurídica da incidência da medida mais grave (Paulo Afonso Garrido de Paula, Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada, p. 138). Convém apenas não confundir a regressão, que é substituição de uma medida por outra, com a sanção pelo descumprimento de medida anterior (art. 122, III, do ECA).
Neste ú l t imo caso, a internação é instrumental, porque tem a finalidade de exigir que o adolescente cumpra a medida original, e não a de substituir esta medida (Munir Cury, Paulo Afonso Garrido de Paula e Jurandir Norberto Marçura, Estatuto da Criança e do Adolescente anotado, p. 111).
A terminação da execução depende da medida aplicada. A advertência é medida de execução instantânea, e se considera cumprida com a simples assinatura do termo respectivo.
64

A obrigação de reparar o dano se esgota com a restituição da coisa ou com o ressarcimento à vítima.
A prestação de serviços à comunidade deve ser extinta quando, a critério do juiz. o tempo de cumprimento for considerado suficiente pelo juiz, mas sua duração nunca poderá exceder a 6 meses (art. 117 do ECA). A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, findos os quais poderá ser extinta, prorrogada ou substituída, ouvidos o orientador, o Ministério Público e o defensor (art. 118, § 2°, do ECA).
A semiliberdade e a internação são aplicadas por prazo indeterminado, que nunca poderá ser superior a 3 anos (arts. 120, § 2°, e 121, § 3°, do ECA), devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão judicial fundamentada, no máximo a cada 6 meses (art. 121, § 2°, do ECA).
Esgotado o prazo de 3 anos, o adolescente submetido a internação será liberado, colocado em semiliberdade ou em liberdade assistida (se for submetido a semiliberdade, será liberado ou posto em liberdade assistida).
A execução também termina quando ocorre a morte do infrator, quando este completa 21 anos de idade, quando sobrevêm a prescrição ou quando, por qualquer motivo, o título executivo é anulado.
Assim como o processo de conhecimento, a execução tem caráter jurisdicional. De fato, a execução do julgado é uma das funções do juiz, cujas decisões são sempre recorríveis. Os incidentes que possam ocorrer durante a fase da execução são resolvidos por decisão sujeita a agravo, por analogia com a Lei de Execução Penal.
13. A DEFESA DOS INTERESSES METAINDIVIDUAIS
13.1. Considerações Gerais
Os interesses de grupos sempre existiram. Só recentemente, porém, eles passaram a ser disciplinados por nosso ordenamento jurídico e, por conseguinte, adquiriram a força necessária a uma adequada defesa em juízo.
A iniciativa pioneira partiu dos Professores Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe ,e Waldemar Maríz de Oliveira Júnior, autores de um anteprojeto de lei de defesa dos interesses transindividuais que, tendo como relator o Professor José Car los Barbosa Moreira, foi apresentado como tese no I Congresso Nacional de Direito Processual (Porto Alegre, 1983).
Este mesmo texto serviu de base para os estudos dos então promotores de justiça Antônio Augusto Mello de Camargo Fe r r az , Edis Milaré e Nelson Nery Júnior, autores da proposta que, em linhas gerais, se converteu na Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347, de 24-7-1985 — LACP).
A LACP alcançou a proteção do meio ambiente, do patrimônio cultural e do consumidor (o texto original, na parte em que previa a defesa de outros interesses difusos ou coletivos, foi vetado). Nela aparecia pela primeira vez um conceito de ação civil pública, caracterizada como a ação proposta pelo Ministério Público ou por um dos outros co-legitimados, com a finalidade de tu te la r os interesses transindividuais ali disciplinados. Foi também nesta Lei que surgiram pela primeira vez as noções de inquér i to civil e de legitimação para a ação civil pública.
A CF de 1988 consolidou aqueles conceitos da LACP e os ampliou, resgatando o texto vetado da Lei n. 7.347/85 e estendendo a proteção a qualquer interesse difuso ou coletivo (art. 129, III). Além disso, reconheceu as formas de legitimação coletiva (associações, sindicatos, mandado de segurança coletiva. conforme arts. 5°, XXI e LXX, e 232).
65

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-1990 — CDC) reproduziu a abrangência constitucional. Suas inovações consistiram na admissão do litisconsórcio entre Ministérios Públicos, na criação do compromisso de ajustamento e em ampliações e aperfeiçoamentos introduzidos na LACP.
13.2. Conceito de Interesse
Carnelutti considerava a l ide um pressuposto do processo (Instituciones de derecho procesal civil, p. 130). Segundo ele, a lide podia ser definida como o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Assim, quando alguém pretende fazer algo e é impedido produz-se um choque entre uma pretensão e uma resistência. Este conflito de interesses passa a ser um litígio quando uma dessas duas pessoas formula contra a outra uma pretensão e esta lhe opõe resistência. Quando a pretensão encontra resistência e não consegue vencê-la por si própria, o conflito deve ser resolvido através do processo. Decompondo-se este conceito, tem-se que a pretensão é a exteriorização da vontade de alguém de exigir seu direito em juízo, e a resistência a pretensão caracteriza o conflito de interesses. Os interesses consistem, segundo a concepção clássica, em qualquer vantagem de ordem pecuniária ou moral.
O termo interesse tem, em verdade, duas acepções. A primeira. em sentido leigo, indica qualquer desejo situado no plano fático: corresponde á idéia de querer, desejar, aspirar, mas não á possibilidade de exigir seu cumprimento.
A segunda acepção é técnica. Tradicionalmente, o Estado e o indivíduo eram os únicos pontos de referência do direito. Por isso, os interesses eram rigorosamente separados em públicos e privados; e o próprio direito se dividia em público e privado. Ao longo do tempo esta dicotomia foi se tornando mais fluida e deixou de ser suficiente para explicar a questão dos interesses, ao não abranger determinados interesses que, pertencendo a grupos de pessoas, apresentavam peculiaridades especialmente quanto a legitimação e a extensão da coisa julgada.
De fato, numa lide há sempre dois interesses contrapostos. Contudo, alguns desses interesses se inserem numa faixa intermediária entre o interesse público e o privado. Ultrapassam o âmbito de proteção individual, mas não atingem o status de interesses públicos. São aqueles interesses compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas. Por isso, a lei reconhece que a defesa de tais interesses deve ser diferente; e o acesso individual é substituído por um acesso coletivo à justiça, que vai permitir uma tutela coletiva dos interesses.
Esses interesses são chamados de interesses transindividuais, metaindividuais ou coletivos em sentido amplo.
As principais propriedades da tutela coletiva podem ser esquematizadas assim: a) a controvérsia envolve interesses de um grupo, e não interesses individuais; b) a legitimação é extraordinária, porque aquele que pede a proteção jurisdicional defende não apenas interesses próprios, mas também interesses alheios; c) em regra, a reparação do dano é destinada a um fundo comum, e não diretamente aos lesados; d) a coisa julgada tem efeito erga omnes, isto é, não se restringe às partes em conflito; e) o acesso à justiça é, normalmente, facilitado pela presença de litigantes habituais (como o Ministério Público, p. ex.), ao invés de litigantes ocasionais.
13.3. Categorias de Interesses Metaindividuais
O CDC contém a conceituação mais usual de três espécies ou categorias de interesses metaindividuais (art. 81, parágrafo único): os interesses difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogéneos.
66

Segundo o CDC, os interesses difusos são aqueles interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (art. 81, parágrafo único, I).
Assim, esquematicamente, pode-se dizer que os interesses difusos têm os seguintes elementos:
a) seus titulares são grupos de pessoas;
b) estas pessoas não podem ser determinadas:
c) os integrantes do grupo estão unidos por uma situação de fato: há, evidentemente, uma relação jurídica a caracterizar o interesse, mas a união do grupo é determinada por uma situação fática (e por isso o interesse difuso é fugaz, mutável: desaparecido ou modificado o fato, desaparece ou muda o interesse); d) o objeto da tutela é indivisível, o que significa que a tutela será igual para todos os integrantes do grupo.
Os interesses coletivos, em sentido amplo, abrangem todos os interesses de grupos, classes ou categorias de pessoas. Em sentido estrito, constituem espécie do gênero interesses transindividuais.
Segundo o CDC (art. 81, parágrafo único, II), os interesses ou direitos coletivos são aqueles interesses transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
Os interesses coletivos não podem ser confundidos com os interesses pessoais do grupo, que não são propriamente interesses coletivos. O que caracteriza o interesse coletivo é a síntese de interesses individuais, que se agrupam para constituir um novo ente.
Esquematicamente, os interesses coletivos: a) têm como titulares grupos de pessoas; b) estas pessoas são determinadas ou determináveis; c) os integrantes do grupo estão unidos por uma situação jurídica: aqui também há uma situação de fato que caracteriza o interesse, mas, ao contrário do que acontece nos interesses difusos, a união do grupo é determinada por uma relação jurídica; d) o objeto da tutela também é indivisível, o que significa que a tutela será igual para todos os integrantes do grupo.
Os interesses individuais homogêneos são definidos pelo CDC (art. 81; parágrafo único, III) como aqueles decorrentes de origem comum. Trata-se, em verdade, de interesses de grupos, categorias ou classes de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilham prejuízos divisíveis cuja origem é comum.
Também é possível dizê-lo de modo esquemático: a) os interesses individuais homogêneos têm como titulares grupos de pessoas; b) estas pessoas são determinadas ou determináveis; c) os integrantes do grupo estão unidos por uma situação de fato ou de direito de origem comum; d) objeto da tutela, aqui, é divisível, o que significa que a tutela poderá ser distinta para cada um dos interessados.
O que define a espécie de interesse e a pretensão existente em cada ação proposta. Noutras palavras, o mesmo lato pode provocar diferentes causas de pedir e diferentes pedidos, e, consequentemente, produzir interesses difusos, colemos, individuais homogêneos e puramente individuais.
13.4. Legitimação e Interesse
Tradicionalmente, o processo civi l foi concebido como um instrumento de exercício de direitos subjetivos, quer exercidos individualmente, quer exercidos coletivamente.
O reconhecimento dos direitos coletivos produz, por isto, algumas indagações: como sustentar a existência de legitimidade se falta a correlação entre o titular da pretensão e aquele que a deduz em juízo? Como explicar que a coisa julgada produz efeitos em relação a pessoas que não integraram a relação processual? Como explicar que o Poder Judiciário exerça funções de controle que, eventualmente, podem colidir com a noção de sistema político representativo? São questões que só podem ser respondidas mediante uma permanente atualização dos conceitos envolvidos.
67

Segundo o CPC, para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (art . 3°), aos quais se soma, por força (do art. 267, VI, a possibilidade jurídica do pedido. O interesse de agir tem o sentido de interesse processual. Não se confunde, portanto, com o interesse material, ou com os conceitos de interesse vistos até agora. Exis te interesse de ag i r quando a ação judicial é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.
Noutras palavras, trata-se de uma situação em que o autor, não fosse a tu te la ju r i sd i cional, sofreria um prejuízo. A tutela dos interesses transindividuais pressupõe o reconhecimento de que há interesse processual a par t i r da necessidade de tutela a interesses socialmente relevantes. Aqui, a necessidade surge de uma preferência pela defesa coletiva em detrimento da defesa individual, isto é, requer-se uma superioridade da ação coletiva em relação a outros meios de solução do litígio.
O interesse existe, portanto, quando a prestação jurisdicional decorrente da ação coletiva e mais eficaz que aquela que seria obtida mediante ações individuais.
A legitimidade é tradicionalmente associada a pertinência subjetiva da ação. Em geral, tem legitimidade para agir aquele a quem a lei atribui tal poder, segundo a titularidade do direito deduzido em juízo.
É, enfim, o poder de exercer a ação judicial. Ocorre que, tendo melhores condições de suportar os custos e a demora do litígio, as pessoas ou organizações que possuem recursos financeiros consideráveis têm evidentes vantagens na busca ou na defesa de seus interesses. Além disso, a falta de conhecimento de como fazer uma reclamação compromete o acesso á justiça.
O mesmo ocorre quando se comparam os litigantes ocasionais e os li t igantes repetitivos, isto e, respectivamente aqueles que têm contatos isolados e pouco freqüentes com o sistema judicial e as organizações com longa experiência judicial.
Uma das soluções para o acesso à justiça está na cumulação de reclamações, de modo que as pessoas comuns, unidas por alguma situação que possa provocar a atividade jurisdicional, possam exercitar seus direitos e contrariar as vantagens das organizações que têm de enfrentar. Assim, outras pessoas, que abandonam seus papéis tradicionais, passam a ser dotadas de legitimação para exercer a defesa de interesses difusos e coletivos. A legitimidade, portanto, já não pode ser resolvida pela titularidade da pretensão.
De fato, como não há vínculo jurídico entre os titulares dos interesses — aliás, esses ti tulares podem mesmo ser indeterminados, como acontece nos interesses difusos —, é necessário ampliar o conceito de legitimação. E, no caso dos interesses transindividuais, será necessário reconhecer a existência de uma legitimação extraordinária.
De fato, em regra, a legitimação é ordinária, isto é, a própria pessoa lesada defende seu interesse, como ocorre, por exemplo, numa ação individual de cobrança de um crédito. A legitimação é extraordinária quando alguém, em nome próprio, defende em juízo interesse alheio.
Nos termos do art . 6° do CPC, a legitimação extraordinária é excepcional e depende de autorização legal. Neste caso, verifica-se a figura da substituição processual: quem l i t iga é o substituto processual, que, em nome próprio, defende direito alheio. A legit imação extraordinária não se confunde com a representação: nesta, alguém, em nome alheio, defende interesse alheio, como ocorre com os mandatários.
13.5. Legitimados
Assentada a idéia de que alguém deve estar legitimado a defender interesses alheios em nome próprio, surge a questão de quais devem ser esses legitimados.
68

No Brasil, a LACP foi a primeira a disciplinar a matéria. A legitimação para as ações coletivas foi atribuída ao Ministério Público; à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal; às autarquias, às empresas públicas, às fundações e sociedades de economia mista; às associações civis que, constituídas há pelo menos um ano, tenham como finalidades institucionais a defesa dos interesses questionados.
A esta relação o CDC acrescentou as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código.
A CF atribuiu aos sindicatos, entidades de classe ou associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, bem como aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional (arts. 5°, XXI), e declarou legitimadas também as comunidades e organizações indígenas para a defesa dos interesses de seus membros (art. 232).
13.6. Adequação da Representação
As associações legitimadas para as ações coletivas se subordinam a dois requisitos.
O primeiro é a constituição há mais de um ano, excetuados os entes públicos, dispensado o prazo pelo juiz se houver interesse social evidenciado pela extensão do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.
O segundo é a relação entre os fins institucionais e o interesse a ser defendido, requisito que não pode ser dispensado pelo juiz. Não se exige este segundo requisito do Ministério Público, da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
As associações ou corporações só podem ajuizar ação civil pública quando autorizadas por seus estatutos ou por deliberação em assembléia geral. Neste último caso, eventual procedência do pedido se estenderá a todos os associados, ainda que nem todos eles, na assembléia, hajam concordado com a autorização.
Os sindicatos podem defender os interesses da respectiva classe, por meio de ação coletiva, bastando-lhes o registro no Ministério do Trabalho. Os sindicatos podem defender os interesses de toda a categoria, e não apenas de seus sindicalizados, operando-se, neste caso, verdadeira substituição processual.
As fundações privadas, ainda que falta menção expressa na lei, também têm legitimação para defender interesses transindividuais compatíveis com seu objeto.
Por último, o Ministério Público tem legitimidade para defender em juízo os interesses transindividuais. O reconhecimento definitivo desta condição de tutor dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos veio com a Constituição de 1988 (art. 127). A legitimação para a defesa dos interesses transindividuais é concorrente e disjuntiva. Cada um dos legitimados pode ajuizar as ações pertinentes, isoladamente ou em litisconsórcio, uns com os outros.
13.7. Formas de Proteção no ECA
Mantendo a LACP como referencial e prevendo sua aplicação subsidiária, o ECA disciplina, nos arts. 208 e seguintes, as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não-oferecimento ou oferta irregular:
a) do ensino obrigatório; b) de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
c) de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 6 anos de idade;
d) de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
69

e) de programas suplementares de oferta de material didático-escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental;
f) de serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem;
g) de acesso às ações e serviços de saúde;
h) de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Trata-se de enumeração exemplificativa, que não exclui da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei. A proteção dos direitos e interesses protegidos pelo ECA pode ser exercida por meio de qualquer ação pertinente, aplicadas as normas do CPC. Destacam-se a ação mandamental e a ação civil pública.
A ação mandamental eqüivale ao mandado de segurança coletivo (art. 5°, LXX, da CF). No âmbito do ECA, é cabível contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem direito líquido e certo, e se rege pelas normas do mandado de segurança (art. 212).
A ação civil pública prevista no ECA tem a peculiaridade de permitir a defesa de interesses individuais de crianças e adolescentes (art. 201, V). Aqui, entretanto, é necessário esclarecer: o Ministério Público só pode defender aqueles interesses individuais de especial relevância, como são aqueles previstos na CF e no ECA.
Só se admite esta forma de tutela, portanto, quando o interesse lesado transcende da simples esfera privada ou disponível e adquire o status de interesse público. Além disso, a atuação do Ministério Público estará restrita aos limites de sua finalidade institucional. Ainda seguindo a disciplina geral da Lei n. 7.347/85, o ECA prevê que o Ministério Público poderá instaurar inquérito civil, instaurado sob sua presidência, com a finalidade de instruir eventual ação (arts. 223 e s.).
A investigação pelo MP se subordina a um controle interno, atribuído ao Conselho Superior da instituição, e que consiste na revisão de todos os arquivamentos de inquérito civil. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Procedentes as ações fundadas no ECA, e obtida condenação em multa, os valores apurados reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo Município.
As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária (art. 214 e parágrafos do ECA). Nas ações fundadas no ECA não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas (art. 219).
70