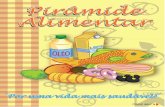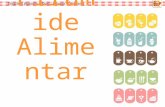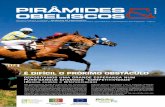Classes Sociais, Peculiaridades na Base da Pirâmide e a Possibilidade de Esquemas Classificatórios
Click here to load reader
Transcript of Classes Sociais, Peculiaridades na Base da Pirâmide e a Possibilidade de Esquemas Classificatórios

1
Classes Sociais, Peculiaridades na Base da Pirâmide e a Possibilidade de Esquemas Classificatórios.
Autoria: Cecilia Lima de Queiros Mattoso Resumo O presente trabalho tem como objetivo trazer para a academia as seguintes discussões: (1) como as classes sociais influenciam o consumo contemporâneo, (2) se as evidências empíricas apontam para peculiaridades no consumo da base da pirâmide, (3) se se faz necessário a criação de um esquema classificatório que atenda as necessidades do marketing. A discussão sobre classes sociais e consumo vem de longa data, mas restringe-se ao papel do consumo como marcador social apenas (WEBER, 1904 ; VEBLEN, 1899; SIMMEL, 1904). A relação mais ampla com o consumo, incluindo o aspecto simbólico do consumo é mais recente (BOURDIEU, 1979; DOUGLAS E ISHERWOOD, 1996; BARBOSA, 2004; ROCHA E BARROS, 2007) e o estudo de seu impacto no consumo das classes mais baixas está começando. Portanto, o debate sobre peculiaridades do consumo das camadas populares é um tema que merece discussão. Pretende-se aqui apenas listar alguns aspectos do consumo na base da pirâmide com o propósito de se discutir a necessidade da criação de um esquema classificatório que atenda às necessidades do marketing. A proposta aqui, ao se buscar peculiaridades no consumo da base da pirâmide, não é mostrar uma cultura reificadora, criada no vácuo e estanque, ao contrário, mostrar suas características mutantes e permeada pela cultura maior, com trocas e resignificações. Diversos estudos (MATTOSO, 2005; PARENTE, BARKI E KATO, 2005; BARROS, 2007; CHAUVEL e MATTOS, 2007) têm mostrado motivações e referências na base da pirâmide distintas das demais camadas como é o caso das decisões de alocação de gastos familiares, o uso de marcas, as formas de distinção e a influencia da religião. A posição social parece ter influencia determinante no consumo e o consumo da base da pirâmide ainda carece de estudos, entretanto, onde estão os limites das posições sociais? Como separar a emergente e crescente classe C da base da pirâmide? Propõe-se que estudos sejam feitos na academia de marketing no sentido da delimitação de fronteiras, pois a principal área de contribuição teórica com relação a classes sociais, a sociologia, não tem como objetivo necessariamente mensurar consumo, ficando esta pauta com a academia de administração. A terceira e última parte deste trabalho faz uma revisão na literatura internacional e nacional sobre esquemas classificatórios (WARNER, 1949; EDGELL, 1993; COLEMAN E RAINWATER, 1978; SARTI, 1996; FIGUEIREDO SANTOS, 2002) com o intuito de colocar subsídios para a confecção de um modelo brasileiro, principalmente para estudos quantitativos. A proposta é que o modelo tenha métricas que auxiliem as pesquisas acadêmicas e ao mercado também, um critério de fácil aplicação, uma vez que seu uso maior será em abordagens quantitativas para substituir o Critério Brasil. A idéia é fazer algo semelhante a proposta de Coleman (1983), um Índice de Status Computadorizado, que significa a indexação de diversas ocupações com pontuações que seriam ligadas a educação formal (escolaridade) para gerarem pontuações. Introdução:
A discussão sobre a importância de se estudar a base da pirâmide parece desnecessária, pois um consenso começa a se formar na academia de marketing com relação à necessidade de se estudar a base da pirâmide, não só por ter sido um tema finalmente valorizado em termos globais (PRAHALAD, 2005; VISWANATHAN, ROSA e HARRIS, 2005; VACHANI E CRAIG, 2008), mas também pela questão econômica, uma vez que no Brasil somente a classe C, representava 45% da população brasileira em 2008, reunindo mais de 86 milhões de pessoas (Agência Estado, 2008).
Hoje a questão parecer estar mais focada em: como se dá este consumo? Que referências este segmento adota? Qual o papel do consumo na formação das múltiplas

2
identidades dos pertencentes a base da pirâmide? Como a posição social influencia o consumo? Para responder estas questões faz-se necessário estudar antes os determinantes de classes sociais e suas ligações com o consumo.
Discussões dos clássicos
Os estudos seminais de Marx (EDGELL, 1993) e Weber (1976) mostram as classes sociais como determinantes para a apropriação dos meios de produção e para as oportunidades de vida respectivamente. A contribuição de Marx para o entendimento dos elementos estruturantes das classes sociais não se deu de forma clara uma vez que ele aponta para apenas duas classes e sua preocupação maior era mostrar a natureza destrutiva do capitalismo, embasado no aumento do proletariado, que se oporia naturalmente à classe capitalista e desta oposição emergiria uma nova sociedade caracterizada pela ausência de classes (Edgell, 1993). Já Weber contribuiu não só com a descrição dos elementos formadores de classe como também introduziu a idéia de estilo de vida. As camadas sociais se expressariam também por “estilos de vida”, que variariam de acordo com seus valores honoríficos. As sociedades se segregariam em diferentes grupos de reputação baseados não apenas em posições econômicas, mas também em critérios não econômicos como moral, cultural e de estilo de vida, que seriam sustentados através da interação das pessoas com seus pares. Ao contrário das outras duas dimensões, econômica e poder, o prestígio era visto como um recurso cuja distribuição deveria ser necessariamente desigual para que o mesmo pudesse existir (Weber, 1976; Johnson, 1997). Weber começa a difundir as idéias de que os estamentos ou classes têm valores e estilos próprios que se distinguem dos demais.
A influência das classes no consumo, apesar de não ser o foco do trabalho de Weber, aparece em seu seguidor Warner (1949). Seus estudos contêm elementos importantes do modelo de classes sociais de Weber, como, por exemplo, a tendência de as pessoas se associarem e se identificarem com outras de mesma origem social e a constatação de que a maioria das pessoas seria capaz de se posicionar e de posicionar os outros socialmente (Harris, 2002).
Warner começa a fazer correlações diretas entre classe e consumo chegando mesmo a fazer constatações como a de que o comportamento de compra era uma das mais importantes expressões de determinada posição de status em uma comunidade. Cada classe social tinha motivações e comportamentos de compra únicos e distintos das demais classes. As classes, por serem grupos motivacionais e categorias de status, não estavam apenas correlacionadas, mas eram a causa da escolha no consumo. Ele deu exemplos de produtos consumidos por classes distintas e sugeriu que a variável “classe social” fosse uma forma de predizer o consumo. O foco era a classe como determinante direta de consumo de objetos específicos, idéia esta que foi criticada mais tarde.
Ainda dentro da visão de consumo como marcador social são seminais os trabalhos de Veblen (1994) e Simmel (1957) mostrando o papel do consumo nas distinções sociais e não apenas na visão utilitária do discurso economicista. Veblen com sua idéia de consumo conspícuo mostra o prestígio social e o poder político “obrigando” os cidadãos a "gastos suntuários de representação" e a uma acirrada luta em torno de signos distintivos. Simmel traz a idéia da lógica da imitação e da diferenciação com a conhecida teoria trickle-down que explica a necessidade de diferenciação por parte das elites em relação às massas e estas de imitar as elites. Este teoria trouxe uma importante contribuição na análise da difusão de moda onde os grupos socialmente abaixo das elites buscariam status adotando as roupas dos socialmente acima. Posteriormente esta teoria foi enfraquecida por reduzir o consumo a

3
apenas demarcador social e também com a idéia do trickle-up quando as camadas populares criam modas, como o rip-rop e o funk, e estas são copiadas nas camadas superiores, com a devida adaptação, num movimento de cooptação, mostrando consumidores com um papel ativo e não apenas um receptáculo de modas.
Bourdieu (1999 e 1979) também teve contribuição marcante na visão do consumo
como distinção social. Ele concebeu o mundo do consumo como o campo das relações de poder. Este campo seria um espaço multidimensional de posições e localizações, nas quais as coordenadas das pessoas seriam determinadas pela quantidade de “capital” que elas possuíssem, capital econômico (recursos financeiros), capital social (recursos de relacionamentos) e o capital cultural (recursos de origem social, com a formação educacional formal). Os membros de uma classe social se envolveriam deliberada ou objetivamente em relações simbólicas com indivíduos de outras classes, e com isso exprimiriam diferenças de situação e de posição, que seriam as marcas de distinção (Bourdieu, 1979). As classes mais desfavorecidas jamais interviriam no jogo da divulgação e da distinção, pois o jogo se organizaria em relação a elas. O jogo das distinções simbólicas se realizaria, segundo Bourdieu, no interior dos limites estreitos definidos pelas coerções econômicas e, por este motivo, permaneceria um jogo de privilegiados.
Uma diferença marcante da relação posição social e consumo entre Warner e Bourdieu
seria a de que, para Warner, os indivíduos de diferentes classes escolheriam produtos e marcas distintos para se diferenciarem (Holt, 1998). Já para Bourdieu (1979), a distinção se daria através da maneira pela qual os objetos seriam consumidos de forma inacessível àqueles com menos capital cultural. Para Bourdieu, fornecer ao sistema de classificação dominante o conteúdo mais adequado para valorizar o que se tem é uma forma de se criar uma identidade social que valorize quem determinou a classificação.
Apesar de toda a crítica a estes autores, suas contribuições foram fundamentais ao
começarem a colocar o consumo como uma espécie de código ou gramática, trazendo a idéia do consumo simbólico que se consolida com a contribuição da cultura do consumo (McCracken, 1988; Douglas e Isherwood, 1996; Baudrillard, 1973; Slatter, 2002). Os objetos são “a parte visível da cultura” (Douglas e Isherwood, 1996, p. 38) e através deles é possível construir-se fronteiras simbólicas, estabelecendo-se teias de significados, e isto não seria diferente para os menos abastados.
Uma vez que a posição social influencia o consumo, a seguir será feito um breve
levantamento de diversas formas desta influencia na base da pirâmide.
Peculiaridades no consumo da base da pirâmide. Os antropólogos (ZALUAR, 1985; SARTI, 1996; BARBOSA, 2004), com sua preocupação em evitar o etnocentrismo, sempre alertaram para o perigo de se olhar para as camadas populares como uma cultura isolada e estanque, como a tão criticada “cultura da pobreza” nos anos de 1960. A proposta aqui, ao se buscar peculiaridades no consumo da base da pirâmide, não é mostrar uma cultura reificadora, criada no vácuo e estanque. Ao contrário, ao se conhecer melhor esta camada percebe-se, como bem apontaram Castilhos e Rossi (2009), que “há uma matriz de disposições e percepções comum que organiza as preferências dos indivíduos e legitima socialmente inclusive as práticas e o consumo demarcatório (p.73)”. Estas escolhas são influenciadas pela sociedade mais ampla e estão constantemente sendo revistas e modificadas. Estes autores ao discutirem o Habitus (coletivo ou não) reforçam a

4
idéia de percepções comuns originadas por condições estruturantes semelhantes, como proposto primeiramente por Weber. Isto posto, é de extrema importância para o marketing evidenciar as respostas peculiares para que se possa servir a estas camadas de forma mais eficiente como propuseram Rocha e Silva (2009), lembrando que ainda é muito pequeno o conhecimento disponível sobre o comportamento dos consumidores pobres e sobre a eficácia e adequação dos instrumentos de marketing na base da pirâmide. Negar uma alteridade é negar uma forma melhor e mais específica de atender às necessidades destes consumidores. A seguir serão expostos alguns achados interessantes que evidenciam algumas formas específicas de consumo na base da pirâmide. Não se pretendeu fazer um levantamento exaustivo, ou mesmo buscar algum critério relevante de escolha, foram pinçados simplesmente exemplos emblemáticos por suas diferenças em relação a classe média ou por expor o ainda grande desconhecimento da academia com relação a estes consumidores. Um exemplo de nossa falta de conhecimento é a suposição de que as camadas inferiores copiam as superiores, quando os estudos de campo mostram que os pobres usam como referência seus pares (BARROS, 2006). O estudo de Mattoso (2005) e o de Barros (2006) revelam as formas sutis de distinção entre os iguais, como “emprestar o nome” para mostrar que “estou podendo mais que o vizinho” e a adoção de costumes da patroa pelas empregadas domésticas com a finalidade de se distinguir dentro de seu meio social. Esta estratégia remete à idéia de pobreza como uma noção relativa. O pobre é sempre o outro ao qual eu me comparo. Sarti (1996) diz que em seu estudo de campo não encontrou ninguém que se definisse como pobre. Nos bairros da periferia de São Paulo os pobres eram os que moravam na favela; já na favela os pobres eram os que moravam embaixo da ponte. A autora disse não ter entrevistado os moradores de debaixo da ponte, mas que certamente se o fizesse estes achariam alguém “inferior” a quem se comparariam. Ainda dentro deste contexto de relatividade, Barbosa e Giglio (2005) comentam que os pobres só se referem a si mesmos como pobres quando isso estava vinculado - e era compensado - por uma posição superior em um sistema de classificação social ou moral. "Sou pobre, mas honesta". "Sou pobre, mas limpa" ou "Sou pobre, mas abençoada por Deus". Os autores criticam o desconhecimento dos pesquisadores que lidam com estas camadas e usam com metodologias inadequadas, que não captam a lógica e o ponto de vista do entrevistado.
Chauvel e Mattos (2008) analisaram diversos estudos brasileiros sobre consumidores de baixa renda e chamaram a atenção para o discurso racional dos informantes de diversos estudos (MATTOSO, 2005; BARROS, 2007; MATTOS, 2007). É interessante perceber que por trás de declarações como “eu não estou nem ai para marcas, eu quero é preço” escondem-se consumidores extremamente leais a marcas. Na verdade este discurso racional revela uma preocupação dos entrevistados em mostrar que fazer render o dinheiro é importante e a dona de casa que atinge este objetivo é bastante valorizada. O trabalho de Parente, Barki e Kato (2005), que estudou a motivação do consumidor de baixa renda para escolha do varejo mostra como a idéia de que esta camada busca somente preço é equivocada. O atendimento e o trabalho de visual merchandising são extremamente importantes na construção de valor. Esses fatores podem ser tão ou mais importantes do que os preços dos produtos, o que é comprovado pela preferência dos consumidores na região de estudo pelo supermercado que pratica os maiores preços, mas que elabora um trabalho exaustivo, competente e sinérgico nos outros componentes do mix de marketing.

5
No tocante ao orçamento doméstico, Chauvel e Mattos (2008) perceberam que diversos estudos tinham a escassez de recursos como um dos eixos em torno dos quais se organizam a gestão do orçamento e as escolhas de compra e consumo. Entretanto percebe-se que a variável renda isoladamente não é suficiente para explicar a alocação de recursos. O estudo de Silva e Parente (2007) sobre orçamento familiar focou em família com a mesma faixa de renda, entre U$200 a U$500, e o resultado mostrou uma heterogeneidade enorme dentro deste mesmo segmento em termos de alocação de recursos, o que levou os pesquisadores a criar cinco novos sub-segmentos. Mattoso e Barros (2008) em pesquisa na Baixada Fluminense, com famílias evangélicas e católicas, perceberam que havia diferenças substanciais na alocação de recursos das famílias evangélicas. Estas primavam por um rigor em seus gastos, chegando mesmo a desdenhar dos que eram apegados a marcas e gastos supérfluos. Os gastos com escolaridade também pareceram ter mais prioridade do que junto às famílias católicas. A influencia dos pastores na gestão do orçamento era tão direta que, em alguns casos, era comum ter cursos de planejamento de vida de cinco anos com estratégias de metas financeiras. Um informante disse ter quebrado seus cartões depois que ouviu seu pastor dizer que “cartão é ilusão e o Senhor não gosta de endividados”. É importante ressalvar que este estudo foi de natureza interpretativa, com apenas nove famílias em um bairro do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.
Outro aspecto interessante desta pesquisa (MATTOSO E BARROS, 2008) foi a
orientação temporal, com o núcleo das famílias evangélicas mostrando um horizonte de tempo bem mais longo que no núcleo católico. Barros (2007) já havia percebido a influencia da religião em seu estudo com empregadas domésticas, lembrando que no ethos protestante aqueles que alcançaram riqueza material através do trabalho árduo podem considera-se eleitos de Deus. Esta moral weberiana explica em parte a distância do fatalismo, muitas vezes presente no discurso dos católicos, “Deus quis assim”.
Rocha e Silva (208) também fizeram uma revisão sobre o consumo de pobres na
literatura internacional e na brasileira evidenciando diversos aspectos reveladores como o significado das marcas, os gastos familiares, uso do crédito e o significado dos bens. Os autores abrem uma sessão com esta pergunta, quem são os consumidores pobres? Sugerem algumas formas de classificação dos pobres como a proposta por Sachs (2005) e por Castilho (2007), mas pode-se dizer que também a resposta a esta pergunta deve entrar na agenda dos pesquisadores. A terceira e última parte deste trabalho faz uma revisão na literatura sobre esquemas classificatórios com o intuito de colocar subsídios para a confecção de um modelo brasileiro, principalmente para estudos quantitativos.
Classes sociais: Existe a necessidade de criação de um esquema classificatório?
Para a antropologia a existência de uma métrica que identifique quem são as camadas populares não é fundamental, uma vez que seus métodos de coleta de dados incluem um trabalho de campo com observações diretas, entrevistas em profundidade e uma imersão dentro de um contexto amplo e abrangente, proporcionando assim dados mais que suficientes para uma identificação ou classificação de posição social.

6
Já nos estudos de marketing, como medir o tamanho de um mercado sem uma métrica? Como estabelecer fronteiras entre as classes D e C por exemplo? Ainda que as fronteiras nunca exerçam um papel claro na delimitação, pode-se lidar de forma separada com os casos fronteiriços, como acontece na psicologia, por exemplo. Para auxiliar na discussão sobre que modelo utilizar para classificar nossos consumidores segundo suas posições sociais, serão expostos primeiramente alguns critérios utilizados em outros países e em seguida serão discutidos alguns dos critérios mais utilizados no Brasil. Nos estudos de classes sociais de Warner, a identificação de status era obtida através de extensas entrevistas, numa comunidade, sobre a reputação individual e de grupos. A isto era somada a elaboração de quadros formais e informais de padrões de interação, através da Participação Avaliatória e de medidas de associação ou sociométricas, que contavam o número e a natureza dos contatos pessoais das pessoas em seus relacionamentos informais (ENGEL et al., 2000). O índice de Warner considerava quatro fatores sócio-econômicos: ocupação, fonte de renda, tipo de moradia e local da moradia. Uma crítica a este esquema classificatório foi posteriormente levantada por Coleman (1983), que argumentou que a metodologia de Warner só podia ser utilizada em pequenas comunidades e com fundos ilimitados. No mundo real, de orçamento limitado, os pesquisadores teriam que se contentar com menos, dependendo do objetivo da pesquisa. Coleman e Rainwater (1978) introduziram um esquema de posições para as classes onde o status econômico teria o papel mais importante, a influência da educação, da ocupação e dos padrões de comportamento teriam papel secundário, embora também importante. O sistema de classes de Coleman e Rainwater (1978), basicamente quanto à ocupação e afiliações sociais, se dividia em três grupos distintos: 1 – a classe alta ; 2 – a classe média (70%), que se dividia em classe média propriamente dita, constituída por trabalhadores manuais e não manuais de renda média com moradia em bairros melhores, e classe operária, composta também por trabalhadores manuais com renda média, mas que tinham um "estilo de vida proletário"; e 3 – a classe baixa, que estava dividida em dois grupos, um dos quais vivia apenas um pouco acima do nível de pobreza, sendo o outro visivelmente miserável. Gilbert e Kahl (1982) usaram uma abordagem “funcional”, dando maior atenção à propriedade capitalista e à divisão ocupacional do trabalho, para variável de definição, e consideraram prestígio, valores e associações como fatores derivados. As divisões de classes de Warner (1994), Gilbert e Kahl (1982) e Coleman e Rainwater (1978) apesar de partirem de pontos diferentes, chegaram à divisão em três classes sociais bem próximas. A distribuição da população americana que mais se diferenciou foi a de Warner, o que é atribuível a diferenças metodológicas e distância no tempo. Portanto, pode-se dizer que apesar de não se conseguir uma padronização das métricas alguns parâmetros sendo comuns, chega-se a resultados semelhantes. Coleman (1983) reconheceu que o tipo de instrumento e pontuação utilizados pelas pesquisas de massa não conseguiam captar as nuanças necessárias para uma classificação mais fidedigna. Sugeriu que se utilizasse medida aproximada, como por exemplo o CSI (Computerized Status Index – Índice de Status Computadorizado ), mas sugeria também que se o objetivo da pesquisa fosse um estudo profundo da relação entre classes sociais e escolhas

7
de consumo, a distribuição dos grupos em classes deveria ser feita de forma qualitativa com o julgamento de um especialista. Para Hawkins et al. (2007) nem todas as características que diferenciavam as classes seriam relevantes para o marketing. As dimensões importantes para cada produto ou serviço teriam que ser avaliadas. O esquema de categorização proposto por estes autores foi:
Fatores Socioeconômicos Posição Social Comportamentos Peculiares
Uma outra forma de classificação mais moderna foi proposta por Sivadas et al (1997) com o uso de banco de dados secundários com informações sobre os bairros ao invés de informações sobre os indivíduos. Estes bancos de dados faziam parte de sistemas geodemográficos que podiam ser utilizados em diversos níveis até chegar ao nível de um domicílio. Os autores buscaram, em sua pesquisa, proporcionar uma justificativa teórica para o uso dos dados daqueles bancos geodemográficos, já amplamente utilizados na prática empresarial. Esquemas Classificatórios para Estudo de Classes Sociais no Brasil
Segundo Silva (1986), os cientistas sociais brasileiros utilizaram basicamente dois métodos para definir a estrutura de classes, um baseado no nível de renda e outro na ocupação. Todavia, nem um nem outro, isolados, parecem oferecer alicerces sólidos à compreensão da pirâmide social.
Para Zaluar (1985) e Sarti (1996), a utilização da renda como critério de demarcação
de classes sociais foi considerada insatisfatória, por confinar a classificação a um único eixo, reduzindo seu significado social. Sociólogos como Pastore (1979) buscaram um ponto de apoio para o estudo da estratificação através das ocupações e da posição na ocupação, distribuída pelos diferentes setores de atividade – agricultura, indústria e comércio e serviços.
Figueiredo Santos (2002), em seu estudo sobre a estrutura de posições de classe no Brasil, constatou não haver, na sociologia brasileira, tradição de investigação empírica voltada para a construção de “mapas de classe” . O autor mostrou também que a estrutura de classe no Brasil era diferente daquela existente em países desenvolvidos, mas não tanto a ponto de abandonar o esquema de análise de classes da literatura internacional. Ele utilizou o esquema de classes de Wright (1978), onde uma das determinações da posição de classe na vida dos indivíduos viria do modo como esse fator determinasse o acesso aos meios de produção ou aos recursos materiais e afetasse o caráter das experiências de vida nas esferas do trabalho e do consumo.
Sua proposta de mapeamento da disposição estrutural e dos perfis específicos das posições e segmentos de classe no Brasil recorreu à base de microdados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, e a uma tipologia derivada do esquema de classes de Wright, porém adaptada.
O mapeamento de Figueiredo Santos, por seu cuidado na classificação das camadas populares, chamadas por ele de trabalhadores, poderia ser uma boa base para a escolha de critérios a serem adotados no marketing, a exemplo do que se deu nos EUA. Além do mapeamento das posições de classes feito por sociólogos brasileiros, profissionais de marketing também buscaram classificações para mapear nossa população visando muito mais o poder aquisitivo do que critérios estruturantes. Este seria o caso do Critério Brasil. Até 1970 não havia no Brasil um critério de estratificação único que permitisse às empresas adotar determinadas práticas de marketing como a segmentação.

8
Preocupada com este problema a Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) estabeleceu o primeiro critério padronizado de classificação sócio-econômica no Brasil, chamado de critério ABA. Este sistema-padrão de classificação sócio-econômica baseava-se no cômputo de pontos calculados a partir da posse de itens e na premissa da existência de quatro classes. O sistema foi adotado até que, quatro anos após sua adoção, começaram a surgir críticas de que as classes mais altas apresentavam, pelo critério, uma dimensão maior do que seu real tamanho. As pressões por aprimoramento cresciam, mas também aumentavam a argumentação de que, com uma mudança, poderia se perder a continuidade e possibilidade de comparação no tempo.
Esta discussão permanece até hoje, embora o critério tendo sido revisto em 2008. O problema deste critério, como bem colocou Mattar (1995) ao fazer uma análise crítica sobre o critério mais utilizado pelos profissionais de marketing, o Critério Brasil, é que a definição de classe utilizada foi o poder aquisitivo das famílias, operacionalizado como renda familiar. A justificativa para esta escolha foi a de que a variável aptidão para consumo implicava ter poder aquisitivo, mas implicava também condições culturais e de estilo de vida que predispusessem ao consumo. Entretanto, como estas variáveis eram de difícil operacionalização, o critério limitou-se à renda estimada através dos itens de posse. Esta escolha, segundo Mattar, peca na essência, referindo-se a determinados problemas metodológicos, como por exemplo os indicadores de posse de bens utilizados, que teriam perdido seu valor com o passar do tempo e também porque alguns estudos mostraram não haver correlação entre as classes, conforme estabelecido através do critério ABA-Abipeme, e a renda. Em função destas críticas e outras mais, o autor considerou que seria “necessário e urgente o desenvolvimento de um novo método compreendendo variáveis mais estáveis e precisas – não somente reformulações em um método que já se mostrou inadequado” (Mattar, 1995, p. 67). O autor propôs um novo modelo de estratificação social que deveria possuir estabilidade, precisão, comparabilidade, validade e facilidade de aplicação. As variáveis que estavam sendo estudadas compreendiam: educação, renda familiar, ocupação e moradia. Os estudos que utilizam somente a renda buscam o levantamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) através do censo, cuja periodicidade é decenal, e através da PNAD, cuja periodicidade é anual. Se a questão da classificação social em geral permanece aberta, a discussão sobre quem é pobre parece ter um pouco mais de estrutura como mostram os estudos de Rocha (2003), que estudou a questão da pobreza no Brasil, principalmente com relação à sua definição e mensuração. Seu objetivo foi estabelecer um quadro de referência para análise e aplicação de políticas sociais contra a pobreza. A autora mostrou a necessidade de se contextualizar a definição e mensuração da pobreza dentro de uma realidade social específica. As principais abordagens seriam a pobreza absoluta e a pobreza relativa. A pobreza absoluta refere-se a questões de sobrevivência física ou ao mínimo vital. O conceito de pobreza relativa refere-se às necessidades a serem satisfeitas em função do modo de vida predominante na sociedade em questão visando à redução das desigualdades. Ainda segundo Rocha (2003), no Brasil a maioria dos estudos sobre pobreza adota o salário mínimo ou um de seus múltiplos como linha de pobreza. A autora chama atenção para o fato de que nem em 1940, quando o salário mínimo foi criado, os valores estabelecidos refletiam o custo do atendimento das necessidades básicas. Seriam considerados pobres os indivíduos cuja renda fosse inferior a ¼ ou ½ salário mínimo per capita ou dois salários

9
mínimos para uma família de quatro pessoas e não-pobres os demais. A abordagem da pobreza, como insuficiência de renda, não reflete uma estrutura de consumo otimizado ou padrão, mas essencialmente, a estrutura de consumo observada em populações de baixa renda a partir de pesquisas de orçamentos familiares. A falta de uma discussão sobre critérios de definição e mensuração de classes sociais dentro do marketing fica bastante evidente também no número de terminologias que os autores utilizam ao se referirem aos que estão nas posições mais baixas hierarquicamente falando.
O termo “pobre” segundo o dicionário Aurélio, é aquele que não tem o necessário à vida ou cujas posses são inferiores à sua posição ou condição social, ou seja, é uma definição que remete à condição material e a uma categoria social. Outros termos, tais como “camada popular”, “classe trabalhadora” e “população de baixa renda” são também usados para designar os pobres. O termo “camada popular” traz conotações políticas, designando uma classe de pessoas, que, por apresentarem condições de vida homogêneas, deveriam desenvolver uma consciência de classe (SARTI, 1996). O uso do termo “classe trabalhadora”, por sua vez, levaria a pensar o pobre em relação ao trabalho, privilegiando o aspecto econômico. Por sua vez, a expressão “população de baixa renda” também se encontra associada a condições econômicas.
O campo do marketing e do comportamento do consumidor deveria fugir de
considerações de caráter puramente material ou econômico. Para Sarti, “pobres” são os destituídos dos instrumentos que, na sociedade capitalista, conferem poder, riqueza e prestígio, o que descreve bem esta parcela “invisível” de nossa sociedade, entretanto, pensando-se internacionalmente, o termo base da pirâmide parece ser bem apropriado, por remeter aos pobres do mundo, sem o sentido pejorativo que se dá ao termo pobre.
Propõe-se aqui que seja criado um critério de fácil aplicação, uma vez que seu uso será
em abordagens quantitativas para substituir o Critério Brasil. A idéia é fazer algo semelhante a proposta de Coleman (1983), um Índice de Status Computadorizado, que significa a indexação de diversas ocupações com pontuações que seriam ligadas a educação formal (escolaridade) para gerarem pontuações. O levantamento e a pontuação das ocupações já foram mapeados por Figueiredo Santos (2002). Esta proposta estaria alinhada com a proposta de Mattar no sentido de que tem estabilidade, precisão, comparabilidade, validade e facilidade de aplicação, as demais variáveis por ele propostas e não incluídas seriam renda familiar e moradia. A renda é uma variável difícil de levantar em levantamentos de intercepção em shopping por exemplo e também muito sujeita respostas falsas e moradia teria que se pensar em uma forma de operacionalizar..
Conclusão A posição social parece ter influência determinante no consumo. O consumo da base da pirâmide mostra-se rico em aspectos específicos e peculiares, entretanto, onde estão as fronteiras? Como separar a emergente e crescente classe C da base da pirâmide? Propõe-se que estudos sejam feitos na academia de marketing, pois a principal área de contribuição teórica com relação a classes sociais, a sociologia, tem como objetivo mensurar mobilidade social e não tem necessariamente como foco o consumo, ficando esta pauta para dentro de casa. O presente estudo já deu um primeiro passo no sentido de reunir alguns dos principais

10
critérios e elementos estruturantes encontrados na literatura, resta propor um modelo com métricas que auxiliem as pesquisas acadêmicas e ao mercado também. REFERÊNCIAS BARBOSA, L. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004. BARROS, C; Consumo, hierarquia e mediação: um estudo antropológico no universo das empregadas domésticas. Anais... Brasília: ANPAD, 2006. BARROS, C; ROCHA, E. Lógica de consumo em um grupo das camadas populares: uma visão antropológica de significados culturais. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. BAUDRILLARD, J. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 1973. BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1999. ____. La distinction, Paris: Minuit, 1979. CASTILHOS, R. B. Subindo o morro: consumo, posição social e distinção entre famílias de classes populares. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. CASTILHO, R,; ROSSI, C.A. Subindo o morro: consumo, posição social e distinção entre famílias de classes populares. In ROCHA, A.; SILVA, J. Consumo na base da pirâmide. Rio de Janeiro, Mauad X, 2009. CHAUVEL, M.; MATTOS, M. Consumidores de baixa renda: Uma revisão dos achados de estudos feitos no Brasil. Cadernos EBAPE, BR, v. 6, n.2, junho de 2008. COLEMAN, R. The continuing significance of social class to marketing. Journal of Consumer Research, Chicago, v. 10, n. 3, p. 265-280, Dec. 1983. ____. The significance of social stratification in selling in marketing: a maturing discipline. In: AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, 43., 1960, Chicago; NATIONAL CONFERENCE, 43., 1960, Chicago. Proceedings… Chicago: American Marketing Association,1960. ____; RAINWATER, L. Social standing in America: new dimensions of class. New York: Basic Books, 1978. DOUGLAS, M.; ISHERWOOD, B. The world of goods – towards an anthropology of consumption. Routledge: London, 1996. EDGELL, S. Class. London: Routledge, 1993. GILBERT, D.; KAHL, J. The American class structure: a new synthesis. Homewood, IL: The Dorset, 1982. HARRIS, J. Social status and product perceptions. 2002. Tese (Marketing PHD Thesis) – Department of Business Administration, College of Business, University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL, 2002. HAWKINS, D.; MOTHERSBAUGH, D.; BEST, R. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2007. HOLT, D. Does cultural capital structure American consumption? Journal of Consumer Research, Chicago, v. 25, n. 1, p. 1-25, June 1998. ____. Social class and consumption: challenging postmodern images. Advances in Consumer Research, Duluth, v. 25, n. 1, p. 219-220, 1998. JOHNSON, A. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997. MATTAR, F. Análise crítica dos estudos de estratificação sócio-econômica de ABA-Abipeme. Revista de Administração, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 57-74, 1995.

11
MATTOSO, C. Me empresta o seu nome: um estudo sobre os consumidores pobres e seus problemas financeiros. Rio de Janeiro: Mauad, 2005. MATTOSO, C. Q; ROCHA, A. Significados associados às estratégias para solução de problemas financeiros dos consumidores pobres. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 29., 2005, Brasília. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2005. MATTOSO, C.; BARROS, C. A study of family expenditure hierarchy within the low income strata in Brazil. Anais… Rio de Janeiro: Academy of World Business, July 14-17, 2008. MARX, K. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, 1985. McCRACKEN, G. Culture and consumption. Bloomington: Indiana University Press, 1988. PARENTE, J. , EDGARD ELIE ROGER BARKI, HEITOR TAKASHI KATO PASTORE, J. Desigualdade e mobilidade social no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1979. PRAHALAD, C. The fortune at the bottom of the pyramid: eradicating poverty through profits. Upper Saddle River: Pearson Education, 2005. ROCHA, A.; SILVA, J. Consumo na base da pirâmide. Rio de Janeiro, Mauad X, 2009. ROCHA, S. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata? Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2003. SACHS, J. D. The end of poverty: economic possibilities for our time. New York: Penguin, 2005. SARTI, C. A família como espelho: um estudo sobre a moral dos pobres. Campinas: Autores Associados, 1996. SILVA, B. (Ed.) Dicionário de ciências sociais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. SIMMEL, G. Fashion. American Journal of Sociology, Chicago, v. 62, n. 6, p. 541-558, May 1957. SLATER, D. Cultura, consumo e modernidade. São Paulo: Nobel 2002. VEBLEN, T. The theory of the leisure class. New York: Dover Publications, 1994. SILVA, H.M.; PARENTE, J.G, O Mercado de Baixa Renda em São Paulo: estudo de segmentação baseado no orçamento familiar. In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. VACHANI, S; CRAIG, N. C. Socially responsible distribution: distribution strategies for reaching the bottom of the pyramid. California Management Review, v. 50, n. 2, p. 52-84, 2008. VISWANATHAN, M.; ROSA, J.E.; HARRIS, J.E. Decision making and coping with illiterate consumers and some implications for marketing management. Journal of Marketing, 69, (January) :15-31, 2005. WARNER, W. L Social class in America: an evaluation of status. New York: Harper and Row, 1960. WEBER, M. Classe, status, partido. In: VELHO, O.; PALMEIRA, M.; BERTELLI, A. Estrutura de classes e estratificação social. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1976. p. 61-83. WRIGHT, E. Race, class, and income inequality. American Journal of Sociology, Chicago, v. 83, n. 6, p. 1368-1397, May 1978. ZALUAR, A. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1985. AGÊNCIA ESTADO, instituto de pesquisas Ipsos Public Affairs, IN http://www.empreendedor.com.br/franquias, 2008.