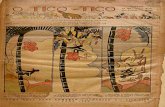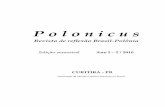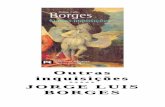CN016.pdf
-
Upload
paulo-costa -
Category
Documents
-
view
16 -
download
5
Transcript of CN016.pdf

Os artigos publicados nos
são indexados porThe Philosopher’s Index,
Clase e Geodados
cadernosNietzsche
São Paulo – 2004
No 16ISSN 1413-7755
cadernosNietzsche

no 16 – São Paulo – 2004ISSN 1413-7755
Editor / Publisher: GEN – Grupo de Estudos NietzscheEditor Responsável / Editor-in-Chief
Scarlett Marton
Editor Adjunto / Associated EditorAndré Luís Mota Itaparica
Conselho Editorial / Editorial AdvisorsErnildo Stein, Paulo Eduardo Arantes, Rubens Rodrigues Torres Filho
Comissão Editorial / Associate EditorsAlexandre Filordi de Carvalho, Carlos Eduardo Ribeiro, Clademir Luís Araldi,Fernando de Moraes Barros, Ivo da Silva Júnior, Márcio José Silveira Lima,
Sandro Kobol Fornazari, Vânia Dutra de Azeredo, Wilson Antônio Frezzatti Júnior
Endereço para correspondência / Editorial Officescadernos Nietzsche
Profa. Dra. Scarlett MartonA/C GEN – Grupo de Estudos Nietzsche
Departamento de Filosofia – Universidade de São PauloAv. Prof. Luciano Gualberto, 315
05508-900 – São Paulo – SP – BrasilTel.: 55-11-3091.3761 – Fax: 55-11-3031.2431
e-mail: [email protected] – Home page: www.fflch.usp.br/df/gen/gen.htm
Endereço para aquisição / Administrative OfficesAv. Prof. Luciano Gualberto, 315 – Sala 1005
05508-900 – São Paulo – SP – BrasilTel./FAX: 55-11-3814.5383
cadernos Nietzsche é uma publicação do
Projeto gráfico e editoração / Graphics Editor: Guilherme Rodrigues NetoFoto da capa / Front Cover: C. D. Friedrich – Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818
Revisão: Mariana Nassar1.000 exemplares / 1.000 copies
GEN
cadernosNietzsche
Apoio:

Fundado em 1996, o GEN – Grupo de EstudosNietzsche – persegue o objetivo, há muito acalenta-do, de reunir os estudiosos brasileiros do pensamen-to de Nietzsche e, portanto, promover a discussão acer-ca de questões que dele emergem.
As atividades do GEN organizam-se em torno dosCadernos Nietzsche e dos Encontros Nietzsche, que têmlugar em maio e setembro sempre em parceria comdiferentes departamentos de filosofia do país.
Procurando imprimir seriedade aos estudos nietzschia-nos no Brasil, o GEN acolhe quem tiver interesse, porrazões profissionais ou não, pela filosofia de Nietzsche.Não exige taxa para a participação.
Scarlett Marton

GEN – Grupo de Estudos Nietzsche – was founded in1996. Its aim is to gather Brazilian researchers onNietzsche’s thinking, and therefore to promote the dis-cussion about questions which arise from his thought.
GEN’s activities are organized around its journal andits meetings, which occurr every May and Septemberin different Brazilian departments of philosophy.
GEN welcomes everyone with an interest in Nietzsche,whether professional or private. No fee for member-ship is required.
Scarlett Marton

Sumário
Nietzsche: a vida e a metáfora 7Eric Blondel
Nietzsche e a leitura de Do Belo Musicalde Eduard Hanslick 53Anna Hartmann Cavalcanti
Schopenhauer, Nietzschee a crítica da filosofia universitária 85Jarlee Oliveira Silva Salviano
Sobre a Metamorfoseabilidade daExperiência em Die Geburt der Tragödiede Nietzsche 99Nuno Venturinha
Nietzsche:o pluralismo e a pós-modernidade 121Marco Parmeggiani


Nietzsche: a vida e a metáfora
7cadernos Nietzsche 16, 2004 |
* Tradução de Fernando de Moraes Barros.** Professor da Universidade Paris I – Panthéon – Sorbonne.
Nietzsche:a vida e a metáfora*
Eric Blondel**
Resumo: O presente artigo possui um duplo objetivo: trata-se, desde logo,de desmascarar o mecanismo engendrador a partir do qual o homemmoralmente determinado acedeu, de acordo com Nietzsche, aos chama-dos construtos superiores da cultura – ciência, moral, religião etc. – para,a partir de uma inovadora teoria da metáfora e da imagem central da vitafemina, trazer finalmente à luz aquilo que, para o filósofo alemão, designao efetivo plano da imanência e o seu jogo fundamentalmente extramoral.Palavras-chave: metáfora – linguagem – pulsões – vida – morte
Concede-se, de bom grado, que a linguagem de Nietzsche étão-somente “koenigsberguiana.” Ele, de sua própria parte, procla-mou: “Depois de Lutero e Goethe, restaria ainda um terceiro passoa ser dado.”1 Mas então há que se arrancar dessa particularidade,rara entre os filósofos, todas as conseqüências metodológicas quelhe poderiam resultar? Insistiu-se, até o momento, em considerar aescrita “poética” e metafórica de Nietzsche, ora como a simples or-namentação da prosa filosófica – não raro insípida – por parte deum poeta genial, ora como uma decoração que os “literários” tantoprivilegiam e que os filósofos se esforçam desesperadamente para

Blondel, E.
8 | cadernos Nietzsche 16, 2004
pôr de lado. Seria, no entanto, muitíssimo sensato, ou, então, assazfilosófico indagar se o “estilo” de Nietzsche não encarnaria, por suadeliberada escolha pela polissemia metafórica em oposição à neu-tralidade conceitual, a exigência mesma de uma preferência filosó-fica determinada, análoga, até mesmo em sua escrita, àquela dosPré-socráticos. Já que, para Nietzsche, “a metáfora não constitui,para o verdadeiro poeta, uma figura de retórica, mas, antes, umaimagem substitutiva que, no lugar de uma idéia, paira realmentediante de seus olhos” (GT/NT § 8).
“Fomos capazes de criar formas muito antes de saber criar con-ceitos” (XI 25 [463]). E por que não aplicar, desde logo, tambémesse comentário a Nietzsche e a sua filosofia, como muitas vezes jáse fez, sob o modo biográfico ou filosófico, em relação a outras ob-servações bem menos fundamentais? Pois, até agora, prestou-sedemasiada ou pouquíssima atenção às metáforas, às imagens, e, emlinhas gerais, às formas de discurso em Nietzsche. Dá-se atençãoem demasia seja por força de considerar a idiossincrasia de seuestilo como busca poética ou pura literatura destinada a seduzir osfilólogos ou entusiasmar os adolescentes – donde o exorbitante pri-vilégio conferido a Assim falava Zaratustra pelos leitores apressa-dos2 –, seja pelo fato de que se abstrai, nesse caso, a expressão dopróprio pensamento: o filósofo se acha “esmagado pela estátua”3
do poeta. Dá-se muito pouca atenção porque, sob o pretexto de ri-gor filosófico ou “cientificidade”, tais metáforas não parecem ja-mais terem sido consideradas nelas mesmas, a não ser enquantovestimenta retórica a ser arrancada a fim de que se alcance, pois,conceitos falsamente vaporosos por si próprios.
Baseando-se em alguns exemplos e reconduzindo suas “ima-gens” – ou metáforas – ao seu rigor coerente, pretende-se aquimostrar, de maneira inversa, que a metafórica de Nietzsche se im-põe por uma necessidade especificamente filosófica e que seu dis-curso é intrinsecamente metafórico em virtude de ser pensamento

Nietzsche: a vida e a metáfora
9cadernos Nietzsche 16, 2004 |
da metá-fora; se se entende, desta feita, tal palavra em seu sentidoprimevo:4 transporte, transposição, a fim de designar, com Nietzsche,o descompasso corpo-pensamento que estrutura, em termos de suaorigem, o desenrolar da cultura. No caso em questão, trata-se daimagem central de um tal pensamento metafórico da metá-fora: avita femina, aquela que irá prescrever a própria ordem metafóricaque se deseja, pois, perseguir e trazer à plena luz.
* * *
Impõe-se a Nietzsche, fundamentalmente, o problema da cultu-ra:5 seu nascimento, seu desenvolvimento, seu mal-estar e seudeclínio – o niilismo –, que coincide, talvez, com seu nascimento.Ora, no seu entender, a cultura se constitui, em sua origem, sob aforma e por meio de um tipo de descompasso (a metá-fora) entre osinstintos (o “corpo”) e o pensamento ou a expressão. Enquanto serda cultura, o homem é normalmente doente: “considerado de ma-neira relativa, o homem é o mais mal-sucedido dos animais, o maisenfermo, o mais perigosamente desviado de seus instintos” (AC/AC§14). Com efeito, o corpo não se manifesta, a seu ver, de maneiraimediata, mas deve, na economia da cultura, significar-se a si mes-mo, por assim dizer, pela via – pela voz – de uma linguagem sintomá-tica: o consciente ou “espírito”: “‘o espírito’, o tomar-consciêncianos aparece cabalmente como sintoma de uma relativa imperfeiçãodo organismo, como um ensaiar [Versuchen], tatear, cometer equí-vocos [Fehlgreifen], um penoso trabalho em que, inutilmente, lan-ça-se mão de demasiada força nervosa – nós negamos que se possafazer algo de modo perfeito enquanto se continue a fazê-lo de modoconsciente” (Ibid.). A “natureza” (cultural) do homem se define,então, enquanto não-natureza, já que se funda sobre a distância e acisão: linguagem e pensamento surgem, pois, como superfíciesepidérmicas, como a pele que esconde e manifesta as vicissitudes

Blondel, E.
10 | cadernos Nietzsche 16, 2004
do corpo.6 A cultura como doença originária do homem e o homemcomo ser cultural despontam, então, como que a pele do corpo ouda Terra: “A Terra possui uma pele: e tal pele possui enfermida-des. Uma dessas enfermidades chama-se, por exemplo: ‘homem’”.(Za/ZA II Dos grandes acontecimentos). E, “se é normal a condiçãodoentia do homem” (GM/GM III §14), pode-se colocar, comNietzsche, “a grande questão de saber se podemos prescindir dadoença” (FW/GC §120), assim como – e por motivos ainda maisfortes – dessa doença constitutiva e constitucional que é a má cons-ciência: “é uma doença a má consciência, quanto a isso não hádúvida, mas uma doença tal como a gravidez” (GM/GM II §19),“um verdadeiro ventre de acontecimentos espirituais.” (GM/GM II§18) Por meio da má consciência, a vida se torna, pois, “grávida”da cultura: o homem, como doença cultural, nasce então pela e namá consciência, que inaugura o discurso descompassado, meta-fórico, quase-histérico, isto é, a conversão à linguagem sintomáticado corpo.7
O homem, enquanto ser necessariamente cultural, nasce, a serassim, da dor de uma ruptura original, de uma cisão a qual se pode,em sentido próprio, denominar de matricial, já que ela constitui a“razão” ou a condição estrutural de tudo aquilo que, secundaria-mente, irá sucedê-la e repeti-la. Com efeito, Nietzsche fala em “rup-tura”, em “salto” (GM/GM II §17) em “divórcio com o passadoanimal” (GM/GM II § 16), em “um pulo e uma queda” (Ibid.). Ora,essa “dor puerperal” que acompanha a culturalização do homem ea ruptura dolorosa com os instintos por ocasião do nascimento dohomem na cultura decorre, pois, da má consciência enquanto metá-fora originária do corpo.
Se acompanharmos a imagem de Nietzsche, iremos perceberque o “trabalho” da má consciência é caracterizado como umrecalcamento originário por meio da interiorização do corpo e da“liberdade” dos instintos. Essa volta da “animalidade” sobre si

Nietzsche: a vida e a metáfora
11cadernos Nietzsche 16, 2004 |
mesma implica, igualmente, uma cisão: ela rompe a unidade instin-tual do corpo, ela quebra o sentido imediato dos “velhos guias, osimpulsos reguladores e inconscientemente infalíveis” (Ibid.). Eis quenasce, pelo paradoxal movimento de um recalcamento, a falibilida-de do próprio consciente: “Estavam reduzidos, os infelizes, a pen-sar, inferir, calcular, combinar causas e efeitos, reduzidos à sua‘consciência’, ao seu órgão mais frágil e mais falível!” (Ibid.). Aconseqüência do recalcamento dos instintos, de sua separação doinconsciente, constitui, com efeito, o nascimento do consciente:“Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se paradentro – isto é o que chamo de interiorização do homem: é assimque no homem cresce o que depois se denomina sua ‘alma’” (Ibid.).Do bloqueio operado pela interiorização resulta a amplificação dareflexão, o desvio ou giro, a mudança de direção: o consciente (ou“espírito”) – universo de sintoma – constitui, a ser assim, o novocampo aberto por essa transladação, a qual nós podemos denomi-nar, com Nietzsche, como metá-fora (meta-fÒra) originária instau-radora da cultura. “Além disso, os velhos instintos não cessaramrepentinamente de fazer suas exigências! Mas era difícil, raramentepossível, dar-lhes satisfação: no essencial tiveram de buscar gratifi-cações novas e, digamos, subterrâneas (...) Todo mundo interior,originalmente delgado, como que entre duas membranas, foi seexpandindo e se estendendo, adquirindo profundidade, largura ealtura, na medida em que o homem foi inibido em sua descargapara fora” (Ibid.).
Mas essa ruptura dos instintos ocasionada pela má consciênciaem sua primeira etapa,8 tal cisão engendradora do descompassoconsciente-inconsciente é, pois, nitidamente introduzida porNietzsche como sendo originária, estrutural, quer dizer, constitutivada humanidade (ou culturalidade) atinente ao homem, ao “homemdoente do homem, doente de si mesmo” (Ibid.). Ela condiciona, emrealidade, todos os outros descompassos ulteriores como se fosse

Blondel, E.
12 | cadernos Nietzsche 16, 2004
seu próprio princípio, sua promessa, sua “razão”, “como se comela algo se anunciasse, algo se preparasse, como se o homem nãofosse uma meta, mas apenas um caminho, um episódio, uma ponte,uma grande promessa” (Ibid.). E, de fato, se a cisão que representaa má consciência introduz a culturalidade do homem como nature-za de uma não-natureza, como promessa de futuro, como “a maisinquietante das doenças, da qual até hoje não se curou a humani-dade” (Ibid.), esse texto de Para a genealogia da moral anuncia,inversamente, e como que “no vazio”, o Übermensch, isto é, um serpara além (über) do homem, curado da “doença homem” e que,para falar com propriedade, já não seria, nesse sentido, um homem.
Pode-se perguntar, no momento, se Nietzsche não teria aquianunciado e enunciado aquilo que Freud irá, depois, chamar de“recalcamento originário” (Urverdrängung), hipótese teórica destina-da a dar conta, por recorrência, dos sucessivos recalques do desen-volvimento onto-genético. Mais ainda: à metá-fora originária descritapor Nietzsche, ao deslocamento decorrente da cisão consciente-in-consciente, bem que poderia corresponder o surgimento, em Freud,de uma tópica, a saber, a “cisão” do psiquismo em diversas instân-cias, correlata, na maioria dos casos – tal como em Nietzsche –, dapressão da realidade: “As peias da sociedade e da paz” (Ibid.). Comefeito, o recalcamento “se produz nos casos em que a satisfação deuma pulsão, suscetível por si mesma de visar ao prazer, ameaçariaprovocar desprazer relativamente a outras exigências”.9 Trata-se deum mecanismo de defesa, do mesmo modo que a conversão: umatal Urverdrängung é a “razão” derradeira ou originária (Ur) dosrecalques ulteriores e propriamente ditos.
Ora, essa “doença da ordem da gravidez” considerada comooriginária e matricial torna a vida “rica em promessas de futuro”,faz, pois, da vida a “mãe” da cultura. Por conseguinte, ela torna opróprio homem, por sua vez, doente e fértil. Ela produz, em reali-dade, aquilo que Nietzsche designa “pessoa-mãe”: “Alguém conti-

Nietzsche: a vida e a metáfora
13cadernos Nietzsche 16, 2004 |
nuamente criador, uma ‘pessoa-mãe’, no sentido maior da palavra,alguém que sabe e quer saber apenas das gravidezes e dos partosde seu espírito” (FW/GC § 369). Assim, por conversão – sublima-ção, regressão etc. – os instintos, desde logo deslocados, anunciame dão à luz “filhos”, para utilizar aqui a expressão freudiana – curio-samente correspondente.10 Nietzsche exemplifica-os num dos textospóstumos: “A interiorização se produz quando os potentes instintoscuja satisfação é vetada pela organização da paz e da sociedade,esforçam-se para obter uma compensação interna sob o amparo daimaginação.11 A necessidade de hostilidade, crueldade, vingança,violência, volta-se sobre si, ‘regressa’; há, na vontade de conhecer,cupidez e conquista; no artista, a força de dissimulação e de vin-gança reprimida reaparece” (XII 8[4]). Desse modo, pode-se afir-mar que a má consciência é a mãe ou a condição originária da su-blimação, assim como o recalcamento originário torna possível,desde o início, a sublimação em Freud (e, de resto, a regressão e afixação). Ora, se se tem em conta que Freud descreve como ativida-des de sublimação, sobretudo, a atividade artística e a investigaçãointelectual, encontrar-se-á uma justificação para as aproximaçõesprecedentes numa outra passagem de Nietzsche: “Quando um ins-tinto se intelectualiza, ele assume um novo nome, um encanto novo,uma nova importância. Ele se opõe, com freqüência, ao instinto quese achava em primeiro lugar, como se lhe fosse o contrário (a cruel-dade, por exemplo).12 Muitos instintos, como, por exemplo, o ins-tinto sexual, são suscetíveis à purificação por meio da inteligência(amor pela humanidade, culto de Maria e dos santos, entusiasmoartístico; Platão acredita que o amor pelo conhecimento e pela filo-sofia constitui um instinto sexual sublimado). No entanto, sua anti-ga ação direta subsiste ao seu lado.” (IX 11[124]).
A má consciência, forjando o espaço da cultura por meio dacisão meta-fórica que ela própria implica, prediz, pois, uma histó-

Blondel, E.
14 | cadernos Nietzsche 16, 2004
ria, quer dizer, um percurso médio, a errância do pensamento emrelação aos instintos como promessa de rebentos hauridos dos im-pulsos recalcados. Ou, para falar simbolicamente, ela surge como a“mãe” do homem enquanto doença do homem. Ora, a má consci-ência decerto é uma doença – do homem enquanto homem –, mastambém, e de uma maneira ainda mais profunda, a doença da Vidaem geral: é a Vida que se acha, aqui, “grávida”. Pois bem, a Vidadesigna, em Nietzsche, e, em especial, pela metáfora privilegiadada vita femina, a vontade de potência enquanto fecundidade, pro-dutividade, criação, Selbstüberwindung.
Nota-se que Nietzsche, ao representar uma tal gravidez da vidaapta a dar à luz uma “pessoa-mãe” e, portanto, ao homem artificialcomo ser da cultura, não se preocupa em desvelar um pai – cum-pre então vislumbrar uma incoerência na seqüência metafórica, ou,ao contrário, uma coerência inconscientemente deliberada? Entãobasta admitir, aqui, um fantasma nietzschiano, uma espécie de“Édipo” filosófico? Em contrapartida, sabe-se igualmente – e aquiuma explicação compatível com a anterior – que a má consciência“faz nascer o espírito maternal, exclusivamente maternal”, gera“aquele tremendo egoísmo de artista, que tem olhar de bronze, e jáse crê eternamente justificado na ‘obra’, como a mãe no filho” (GM/GM II §17), preterindo o pai em benefício do filho, isto é, do pen-samento. Ora, não é justamente essa questão do pai que dá origina-lidade à análise que Nietzsche designou, precisamente, comogenealógica? Quem é, pois, o pai do espírito, da consciência? Osfilósofos do idealismo metafísico “agem como se fosse a intelectua-lidade pura e simples que lhes colocasse os problemas do conheci-mento e da metafísica (...) Foi contra essa primeira pretensão queeu orientei minha psicologia dos filósofos: a sua especulação maisavessa ao real e a sua ‘intelectualidade’ não são mais que o derra-deiro e pálido reflexo de um fato fisiológico: falta-lhes toda decisãolivre, tudo é, aqui, instinto” (XIII 14[107]). O idealismo metafísico,

Nietzsche: a vida e a metáfora
15cadernos Nietzsche 16, 2004 |
“filosofia de fachada” (JGB/BM § 289), empenha-se, com efeito,em dar um pai legítimo a seus pensamentos, o consciente, a Razão:esse sujeito consciente e racional permite salvaguardar a fachadamoral.13 Mas, em sua investigação genealógica, Nietzsche contasuspeitar14 e pôr em questão o caráter natural de tal pai legítimo.A genealogia se deixa compreender, a rigor, como tentativa de bus-ca (Versuch)15 pelo pai, busca pela paternidade dos pensamentos.Pois, o escondido pai natural que Nietzsche revela e que torna avida um problema para o filósofo – uma mulher da qual se duvida16
– é o corpo,17 aquilo que “os organizadores natos” da má consciên-cia obrigaram a “passar para o estado latente”.18
Eis o pai natural, o corpo recalcado, interditado, relegado àmorte. Tal recalcamento, ocultação ou morte do pai não significa,imediatamente, a decadência, já que na arte, por exemplo, o corpotem direito a uma palavra desviada, deslocada, metafórica: mas eleconstitui, aqui, a possibilidade estrutural, ele torna-a possível semcolocá-la necessariamente em questão, assim como o recalcamentonão acarreta, de todo em todo, a neurose. Contudo, na medida emque tal ocultação do pai pela metá-fora anuncia, ao menos, a possi-bilidade da decadência, não causará espanto as linhas de Ecce homonas quais Nietzsche se vale de uma compreensão particularmentesutil de tal fenômeno: “A fortuna de minha existência, sua singula-ridade talvez, está em sua fatalidade: diria, em forma de enigma,que como meu pai já morri, e como minha mãe ainda vivo e enve-lheço. Essa dupla ascendência, como que do mais elevado e do maisrasteiro degrau da vida, a um tempo décadent e começo – isso ex-plica, se é que algo explica, tal neutralidade, tal ausência departidarismo em relação ao problema global da vida, que acaso medistingue. Para os sinais de ascensão e declínio [Aufgang undNiedergang] tenho um sentido mais fino do que homem algum ja-mais teve, nisto sou o mestre par excellence – conheço ambos, souambos” (EH/EH, Por que sou tão sábio, § 1).

Blondel, E.
16 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Ao produzir o homem como ser meta-fórico da cultura, a máconsciência traz à luz um homem algo “edipiano”. Sã ou mórbida,a cultura oculta e suprime, em realidade, o seu “pai” – o corpo –por não se consagrar senão aos seus filhos, os pensamentos.19 Porconseguinte, o homem identifica-se – e aqui o homem Nietzsche,psicólogo da décadence – com sua mãe e, não se importando muitocom o corpo, torna-se “pessoa-mãe”: homem sem pai, “negligente”para com o corpo, mas prenhe de todas as vicissitudes da cultura.O que se dá, pois, com esse “Édipo” originário, constituído pelorecalcamento originário do corpo e pela cisão vital entre os instintos(inconsciente) e meu pensamento (consciente)? O pai dos pensamen-tos, o corpo, é recalcado em prol dos rebentos conscientes: a vida,doravante indivisa enquanto “si mesmo”, acha-se cindida entre aspulsões e o eu, ou, em outras palavras, entre o corpo e os pensa-mentos. Mas essa cisão anuncia em seu desenvolvimento posterior,o qual ela mesma estrutura, a décadence como recalcamento docorpo, isto é, como partenogênese do pensamento pela razão, comodivinização do consciente – “É o baixo ventre que impede o ho-mem de considerar-se um deus” (JGB/BM § 141) –, e, ao mesmotempo, o espírito como Selbstaufhebung, quer dizer, auto-supera-ção,20 auto-supressão da moral.
Se a Vida é, então, representada como que cindida ou redobra-da pela má consciência, a vita femina21 se oferece, sob o fundo detal “Édipo”, como a Esfinge que dissimula, desde logo, sua pater-nidade, sua origem ao homem e a seus pensamentos. Ela se apre-senta, numa série de pares estruturalmente fundados pela cisão ori-ginária, como interior e exterior, corpo e “alma”, disfarce e realidadeinsondável.
Eis aqui o momento de se tentar analisar, tal como fora previs-to, a coerência da metafórica da vita femina no tocante ao que sedesignou como metá-fora originária, ou seja, a trans-ferência ou des-locamento – instituídos pela má consciência – do corpo relativa-

Nietzsche: a vida e a metáfora
17cadernos Nietzsche 16, 2004 |
mente ao pensamento e à superfície consciente. “Sim, a vida é umamulher!”22 Essa metáfora da vita femina pode, pois, conduzir a umavisão mais clara da “ontologia” nietzschiana da metáfora enquantocisão, jogo e ambigüidade do Ser, fundando, a ser assim, uma teo-ria da cultura como metá-fora. E depara-se aqui com aquilo a quese deveria chamar de discurso “ontológico” – tomado de modo não-ontológico – de Nietzsche, anunciado em termos de uma metáforada mulher. Poder-se-ia, com efeito, caracterizar a “ontologia” deNietzsche como feminina – e até mesmo “ginecológica”23 – , já queela alude ao Ser como uma Mulher sem ser, como aparência e dis-farce, ilusão e segredo, uma Mulher sem natureza, isto é, como puroespetáculo: uma Mulher que, “no momento em que se dá, dá-seenquanto espetáculo”24. Dessa forma, se é certo que “a Mulher, oEterno Feminino [é] uma noção imaginária na qual somente o ho-mem espera acreditar”,25 o filósofo do idealismo metafísico, aqueleque cristaliza a vita femina numa essência imaginária, será o únicoa crer na identidade, na eternidade e na permanência do Ser.
Enquanto metáfora privilegiada da Vida, a Mulher é enigma eaparência. A cultura que dela vem à luz se inicia sob a ficção pri-meira que constitui, pois, o recalcamento do corpo, a dissimulaçãodo pai: ela vive sob uma ambigüidade a ofuscar, por meio daflorescência de seus rebentos (pensamento, razão, moral, religião,arte etc), aparências enganosas, sua “duplicidade” estrutural.26 Maseis que a questão se coloca: trata-se aqui de ingenuidade, pudor ouhipocrisia? Ao refugiar-se na aparência que ela mesma oferece, nãose oferecendo senão como aparência e somente como pura aparên-cia, a vita femina não mascara, sob um certo véu, uma realidadeque ela gostaria ou precisaria esconder? Ora, ao passo que a pro-blemática clássica da aparência implica, desde sempre, alguma re-alidade por detrás ou para além da aparência, sem a qual o concei-to mesmo seria impensável, tal oposição desaparece em Nietzsche:no seu entender, aparência e realidade não se opõem – nem mes-

Blondel, E.
18 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mo por implicação recíproca –, mas coincidem. A aparência e oaparecer constituem a única realidade da vita femina, isto é, comometáfora da metá-fora. Se cumpre encontrar uma oposição, ela en-contrar-se-ia, antes, entre a verdade fragmentária do aparecer e aficção de uma “realidade” do ser, falsa entidade da essência. Comisso é suprimido, como algo nulo, o conceito mesmo de uma verda-de para além da aparência, acima ou abaixo do véu. É bem verda-de que a Vida nos engana em suas aparições enganosas: mas elanos engana, não por esconder uma essência ou uma realidade sobas aparências, mas porque ela não possui qualquer essência e esta-ria mesmo disposta a nos deixar acreditar que, de fato, possui algu-ma. Sua “essência” é o aparecer.
Chamemos a isso pudor: não desvelar tudo, não mostrar, deum só golpe, tudo. Trata-se, correlativamente, de saber se o filóso-fo é, frente à Vida, um visionário (aquele que vê, por detrás, aquiloque é visível e aparece, sucessivamente, sob o manto), ou, então,um voyeur (aquele que imagina sem ver, que “percebe” o invisívelao supor a realidade daquilo que não é real). Mas todo pudor é,virtualmente, algo erótico, já que esconder significa, igualmente,insinuar:27 “A mulher, ciente do sentimento do homem pela mu-lher, vem ao encontro de seu esforço de idealização28 ao se enfeitar,ao cuidar de seus passos, sua dança, ao exprimir pensamentos de-licados: do mesmo modo, ela pratica o pudor, a discrição, a distân-cia, sabendo instintivamente que ela aumenta, com isso, a faculdadede idealização do homem. Em virtude da extraordinária delicadezado instinto feminino, o pudor não continua sendo, de modo algum,hipocrisia consciente: ela adivinha que é justamente o pudor real eingênuo que mais seduz o homem e o força a subestimá-lo. Eis omotivo pelo qual a mulher é ingênua – por uma delicadeza instinti-va que lhe sugere a utilidade da inocência. Ela não enxerga, volun-tariamente, a si mesma. Nos casos em que a dissimulação atua maisintensamente quando ela está inconsciente, ela se torna, com efeito,

Nietzsche: a vida e a metáfora
19cadernos Nietzsche 16, 2004 |
inconsciente.” (XII 8[1]). Ser pudico é, antes de mais nada, conse-guir revelar por meio do esconder, esquecer e fazer com que seesqueça aquilo que está escondido: ingenuidade quase impossívelque consistiria em acreditar que não há segundas intenções, segun-do plano, além-mundo. É acreditar que não há senão aquilo que semostra, é acreditar naquilo que é, de fio a pavio, visível. Mas talingenuidade pudica vai ao encontro da imaginação voyeurística dofilósofo idealista, que inventa ou restitui uma realidade escondida econverte a ingenuidade numa hipocrisia erótica – a qual não se es-conderia senão para se insinuar e revelar. Tudo se baseia, pois, naatitude dos filósofos. Ora, tratando-se dos “sistemáticos”, Nietzschesuspeita que eles jamais compreenderam as mulheres.29 O amorpela Vida é “o amor a uma mulher da qual se duvida” (NW/NWEpílogo § 1): o metafísico, de sua parte, a fim de ultrapassar suadúvida, descerra uma essência falsificada e oculta da vita femina.Pouco importa, a seu ver, a ilusão ou a impostura: “Aquilo que di-zem seus desprezadores, uma bela mulher tem, de todo modo, algoem comum com a verdade: ambas proporcionam mais felicidadequando as desejamos do que quando as possuímos” (VIII 19[52]).No entanto, a inocência da Vida, alheia à inteira “realidade” e atentaàs aparências somente enquanto vir-a-ser – e é isso, pois, aquiloque constitui propriamente a imagem metafórica da inocência dovir-a-ser – , converte-se, pelo falseamento, em hipocrisia. “Há rea-lidades as quais não ousamos confessar: somos mulheres, possuí-mos os seus ‘pudores’ femininos... Essas jovens criaturas que dan-çam perderam de vista, nitidamente, toda a realidade; elas nãodançam senão com ideais palpáveis (...) Elas permanecem incom-paravelmente mais formosas quando dispõem de um leve penacho,essas lindas criaturas – Oh! Como elas bem o sabem! Elas são mes-mo tão mais amáveis do que elas próprias imaginam! Enfim, seuscuidados no vestir igualmente lhes inspiram; seu vestuário constituisua terceira embriaguez (após o amor e a dança): elas crêem em

Blondel, E.
20 | cadernos Nietzsche 16, 2004
sua costureira como crêem em seu Deus.30 E quem lhes dissuadi-ria, pois, de tal crença? É a fé que salva! E é saudável admirar-se asi próprio! – A admiração de si protege contra os resfriados! Já pas-sou frio, por acaso, uma bela mulher que sabe se vestir? É certoque não. Inclusive, diria eu, no caso em que ela mal está vestida”.(XIII 17[5]).
Eis o filósofo perplexo diante da vita femina, isto é, de todoespetáculo ingênuo, e, portanto, enigmático. Aquele ao qual deno-minamos como “edipiano” é, pois, o Édipo diante da Esfinge mu-lher que lhe propõe os enigmas. A “verdade” do filósofo é, comovimos, uma verdade edipiana por meio da morte do pai (corpo),sendo que ele procura pelo verdadeiro como se este fosse, no duplosentido do termo, obsceno, quer dizer, ao mesmo tempo escondidoe indecente. Mas, objeta Nietzsche, “por que não, de preferência, ainverdade? Ou a incerteza? Ou mesmo a insciência? – O problemado valor da verdade apresentou-se à nossa frente – ou fomos nós anos apresentar diante dele? Quem é Édipo, no caso? Quem é a Es-finge?” (JGB/BM § 1). Frente a essa espetacular mulher, o filósofodeveria, então, aprender a salvaguardar as aparências e considerarque a “verdade” é indecente: “Talvez esteja nisso o mais forte en-canto da vida: há sobre ela, entretecido de ouro, um véu de belaspossibilidades, cheio de promessa, resistência, pudor, desdém,compaixão, sedução. Sim, a vida é uma mulher!” (FW/GC § 339).E então já “não saberíamos pensar muito bem acerca das mulheres– o que não é motivo para se enganar a seu respeito (...) É imprová-vel que as mulheres possam esclarecer aos homens aquilo que vema ser o ‘eterno feminino’: elas não dispõem do distanciamento ne-cessário – e, além disso, a ação de esclarecer sempre foi, propria-mente falando, o apanágio natural dos homens. Quanto a tudo aquiloque as mulheres escreveram acerca de suas congêneres, convémguardar uma boa dose de desconfiança; ao escrever, não faz amulher o que sempre constituiu o ‘eterno feminino’: pintar o rosto?

Nietzsche: a vida e a metáfora
21cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Já se concedeu, por alguma vez, a profundidade a uma mente femi-nina? Ou, então, a justiça a um coração de mulher? Ora, sem pro-fundidade ou justiça, qual a serventia dos escritos das mulheressobre a mulher?” (XI 37[17]).
A ser assim, diante do homem teórico, isto é, do homem voyeur(tewr…a significa visão) que invoca as teorias visuais, ou, então,voyeurísticas da contemplação, da evidência, da “visão de Deus”,da intuição, etc., a vita femina aprende a fechar os olhos frente a simesma e refugia-se na superficialidade do vestuário, da aparência.Ela passa do pudor à ingenuidade (a inconsciência torna-se involun-tária), o que não impedirá o filósofo da metafísica de tomá-la porprovocante, quer dizer, de pressupor algo por “detrás” da aparên-cia. Ao contrário, o filósofo exigido por Nietzsche31 limitar-se-á vo-luntariamente à aparência e restituirá à Vida a sua própria inocên-cia ao contemplá-la com uma idêntica ingenuidade, sem segundasintenções nem “pensamento por detrás”.32 No seu entender, a vitafemina não dissimula nenhum encanto secreto, mas se oferece, nasucessão de seu aparecer, tal como é, que dizer, como puro espe-táculo em pleno vir-a-ser. A rigor, pode-se então dizer que o médi-co-filósofo irá reconduzir a Vida à inocência do vir-a-ser sem atri-buir às suas aparências uma finalidade ou desígnios secretos, sendoa própria finalidade, com efeito, sempre de natureza erótica, já quesupõe uma intenção escondida.
“O homem criou a mulher – mas a partir de quê? De uma cos-tela de seu Deus – de seu Ideal” (GD/CI, Sentenças e setas, § 13).Conforme a atitude do homem-filósofo, a castidade feminina33 daVida revestir-se-á de diversos sentidos: pudor, ingenuidade, erotis-mo ou inocência, sendo que o vir-a-ser da Vida poderá ser interpre-tado de muitos modos diferentes – tudo aquilo que se pode dizersobre a vita femina é tão-somente interpretação –, isto é, em fun-ção do que é pressuposto pelo filósofo: vergonha daquilo que re-pugna, recalcamento, dissimulação, intenções eróticas, galanteria

Blondel, E.
22 | cadernos Nietzsche 16, 2004
ou cuidados femininos com o vestuário. Ora, justamente “supondoque a verdade seja uma mulher – não seria bem fundada a suspeitade que todos os filósofos, na medida em que foram dogmáticos,entenderam pouco de mulheres? De que a terrível seriedade, a de-sajeitada insistência com que até agora se aproximaram da verda-de, foram meios inábeis e impróprios para conquistar uma dama?É certo que ela não se deixou conquistar” (JGB/BM, Prólogo). Aquiloque o filósofo não compreendeu é: “que interessa à mulher a ver-dade! Desde o início nada é mais alheio, mais avesso, mais hostil àmulher que a verdade – sua grande arte é a mentira, seu maiorinteresse, a aparência e a beleza” (JGB/BM § 232).34 O antifemi-nismo de Nietzsche não se confunde, pois, com misoginia: é o filó-sofo da metafísica que colabora, ao contrário, com as feministas,partidários do “eterno feminino”, do “eterno-tedioso da mulher”,do “enfeamento geral da Europa” (Ibid.). Ao taceat mulier de muliere(Ibid.), convém então acrescentar uma advertência correspondenteaos filósofos. Em vista disso, pode-se lembrar que a aversão porparte dos filósofos pelo casamento – frisada por Nietzsche – é, notrilho da mesma metáfora, levada em consideração: “De tal manei-ra o filósofo tem horror ao casamento, e a tudo que a ele poderiaconduzir – o casamento como obstáculo e fatalidade em seu cami-nho para o optimum. Qual grande filósofo foi casado? Heráclito,Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer não o fo-ram; mais ainda, não podemos sequer imaginá-los casados. Um fi-lósofo casado é coisa de comédia, eis minha tese; e aquela exceção,Sócrates – o malicioso Sócrates parece ter-se casado ironice [porironia], justamente para demonstrar essa tese” (GM/GM III § 7).35
O texto é, sem dúvida, irônico: ele parece ser um pouco menosquando se tem em linha de conta as ulteriores considerações deNietzsche acerca de Sócrates. Em vista da problemática que nosinteressa, podemos concluir que Nietzsche espera, em todo caso,introduzir a alternativa entre uma cultura, metá-fora ou fecundidade

Nietzsche: a vida e a metáfora
23cadernos Nietzsche 16, 2004 |
biológicas e uma metá-fora, cultura ou fecundidade filosóficas. Eledirá alhures36: Aut liberi, aut libri.
À misoginia do filósofo, conseqüência de seu suspeito feminis-mo, responde, por outro lado, a misologia da vita femina. A mulhernão ama nem a filosofia nem a verdade: “Entre mulheres. – ‘A ver-dade? Oh! Você não conhece a verdade! Não é ela então um atenta-do a todos os nossos pudeurs?’” (GD/CI, Sentenças e setas, § 16).Com efeito, o conhecimento enquanto visão ou voyeurismo apto aobjetivar uma essência tal como a do “eterno feminino”, suposta-mente escondida por detrás das aparências da Vida, adquire o sen-tido de uma diabólica visada erótica: “A atração do conhecimentoseria mínima, se não houvesse tanto pudor a vencer no caminho atéele” (JGB/BM, Máximas e interlúdios, § 65) e “a ciência ofende opudor das verdadeiras mulheres. Elas têm a sensação de que sepretende observá-las sob a pele – pior: sob as vestes e os adornos”(JGB/BM, Máximas e interlúdios, § 127).
Qual será então a atitude do médico-filósofo frente à Vida? Eledeve admitir que a vita femina dissimula e se disfarça com umainocente duplicidade, e que ilude, ingenuamente, ao fazer crer atodos os instantes que é – e que apenas é – uma tal aparência, aopasso que ela constitui múltiplas aparências, um confuso e inces-sante vir-a-ser. Donde a necessidade, por parte do filósofo dionisíaco,de uma vontade de potência intensa, apta a suportar o engano e ascontradições da Vida, isto é, em oposição ao voyeurismo impotentedo metafísico que, de sua parte, não pode suportar a vida senão acusto de “visões” que a estancam numa imobilidade essencial qua-se cadavérica, tal como aquela do Ideal. As idéias “sempre viveramdo ‘sangue’ do filósofo, consumiram os seus sentidos e até, se nosfor dado crédito, o seu ‘coração’. Esses velhos filósofos não tinhamcoração: filosofar sempre foi uma espécie de vampirismo. Em taisfiguras, mesmo em Spinoza, não sentem vocês algo profundamenteinquietante e enigmático? Não vêem o espetáculo que aí se desen-

Blondel, E.
24 | cadernos Nietzsche 16, 2004
rola, o constante empalidecimento – a dessensualização interpreta-da de forma cada vez mais idealista? Não pressentem, ao fundo,como que uma sanguessuga há muito tempo escondida, que come-ça por atacar os sentidos e enfim lhe restam – e ela deixa – apenasossos e ruídos? Quero dizer, fórmulas, palavras (pois, perdoem-me,aquilo que restou de Spinoza, amor intellectualis dei, é um ruído,nada mais! O que é amor, o que é deus, se lhes falta qualquer gotade sangue?...)” (FW/GC § 372). A idealização, destinada a supri-mir a dívida que a Vida inspira no filósofo, depende de uma atitudenecrofílica: “os senhores metafísicos, esses albinos do conceito” (AC/AC § 17), matam a Vida ao transformá-la num “Ideal”.
A sabedoria – dionisíaca – consistiria, então, em manter-se nasuperfície, em “adorar a epiderme” da vita femina. O próprio Zara-tustra, por não tomar essa precaução, permanece triste após seudiálogo com a Vida, que lhe declara: “‘Assim falam todos os pei-xes’, disseste; ‘aquilo que eles não perscrutam, é imperscrutável.Mas eu sou apenas mutável e selvagem e, em tudo, mulher, e nãoprecisamente uma mulher virtuosa – Muito embora vós, homens,me chameis ‘a profunda’, ‘a fiel’, ‘a eterna’, ‘a misteriosa’. Masvós, homens, nos presenteais sempre com vossas próprias virtudes– ai de mim, ó virtuosos!’” (Za/ZA II “O canto da dança”). Umtexto pertencente ao Prólogo de A gaia ciência, retomado emNietzsche contra Wagner, convoca toda a metafórica feminina atéagora analisada a fim de definir a atitude condizente com o médico-filósofo, que aqui se descobre, igualmente, enquanto artista: “Não,esse mau gosto, essa vontade de verdade, de ‘verdade a todo cus-to’, esse desvario adolescente no amor à verdade – nos aborrece:para isso somos demasiadamente experimentados, sérios, alegres,escaldados, profundos... Já não cremos que a verdade continueverdade, quando se lhe tira o véu... Hoje é, para nós, uma questãode decoro não querer ver tudo nu, estar presente a tudo, compre-ender e ‘saber’ tudo. ‘É verdade que Deus está em toda parte?’,

Nietzsche: a vida e a metáfora
25cadernos Nietzsche 16, 2004 |
perguntou uma garotinha à sua mãe; ‘não acho isso decente’ – umsinal para filósofos!... Deveríamos respeitar mais o pudor com que anatureza se escondeu por detrás de enigmas e de coloridas incerte-zas. Talvez a verdade seja uma mulher que tem razões para nãodeixar ver suas razões? Talvez o seu nome, para falar grego, sejaBaubo...?37 Oh, esses gregos! Eles entendiam do viver! Para isto énecessário permanecer valentemente na superfície, na dobra, napele, adorar a aparência, acreditar em formas, em tons, em pala-vras, em todo o Olimpo da aparência! Esses gregos eram superficiais– por profundidade!” (FW/GC, Prólogo, § 4).
Assim, tal como a criança, a vita femina joga e não se oferecesenão enquanto espetáculo, dá-se, pois, no erro e na ilusão. Ao enun-ciar isso, Nietzsche reencontra, em realidade, a profunda superfici-alidade dos gregos, e, em especial, a de Heráclito de Éfeso, o Obs-curo, que fala em pa•j pa…zwn e já afirmava: fÚdij krÚptesqaif…lei. O Ser, sob a metáfora da vita femina, revela-se como umvir-a-ser múltiplo que se oferece, na aparência e na ilusão, deslocadae ambiguamente, já que “toda a vida repousa sobre a aparência,arte, ilusão, ótica, necessidade de perspectiva e erro”.38 Enquantoexplosão do vir-a-ser, Dioniso assume o véu e o aspecto enigmáticode Apolo: variação necessária entre ambas as divindades e que po-deria, a rigor, ser chamada de metá-fora, ainda mais pelo fato deque, em Nietzsche, ela se exprime numa linguagem por excelênciaapolínea, quer dizer, pelo discurso metafórico, poético, imagético:“Dioniso fala a linguagem de Apolo, mas Apolo, ao fim, fala a lin-guagem de Dioniso: com o que fica alcançada a meta suprema datragédia e da arte em geral” (GT/NT § 21).
Ora, nós bem sabemos que a exuberância dionisíaca deve to-mar de empréstimo o véu apolíneo, mas também que, sem Apolo,Dioniso levaria ao nada, ao abismo mortal da verdade e seria, ain-da assim, o Édipo, isto é, tal como Nietzsche o vê na tragédia grega:“Édipo assassino de seu pai, o marido de sua mãe, Édipo, o

Blondel, E.
26 | cadernos Nietzsche 16, 2004
decifrador do enigma da Esfinge! (...) Sim, o mito parece querermurmurar-nos ao ouvido que a sabedoria, e precisamente a sabe-doria dionisíaca, é um horror antinatural, que aquele que por seusaber precipita a natureza no abismo do nada há de experimentartambém em si próprio a desintegração da natureza” (GT/NT § 9).
A decifração do enigma da Esfinge – imagem da Vida – levadaa cabo por Édipo voltaria a descobrir, com efeito, que a Vida, talcomo se tentou mostrar anteriormente, não pode subsistir sem oesquecimento apto a assassinar o pai, o corpo (as pulsões), ou, nou-tros termos, que a Vida, assim como a cultura, está fundada sobrea morte do pai – que a vida e a cultura não são, pois, possíveissenão como metá-fora, dissimulação, mentira, deslocamento daspulsões. Pois o que é a vida inteiramente consciente senão a loucu-ra, o trágico absoluto, a morte? Enquanto descompasso, transposi-ção e censura, a metá-fora decerto é aquilo que distingue a neuroseda psicose, se se define, com Freud, a psicose como o cumprimen-to imediato das pulsões em sua totalidade, sem o desvio (o“ent-”)que subtrai a expressão ao império exclusivo do processo primário.“Tal conteúdo geralmente inconsciente se transmuda, por vezes,num conteúdo pré-consciente, e que em seguida se torna conscien-te, o que se produz, em estados psicóticos, numa vasta escala”.39
Reciprocamente, o sonho, aquilo que afasta parcial e temporaria-mente a metá-fora, a separação ou o descompasso consciente-cons-ciente, “é uma psicose” (Ibid., p.39). A psicose é, pois, “a ausênciado inconsciente”, a “consciência” absoluta das pulsões,40 sendo quea vida não é possível senão pela metá-fora do inconsciente. Cumpre,então, “espiritualizar” seu estado, faz-se necessário “um certo des-prezo pelo corpo”, uma “arte de transfiguração”.41 E Nietzsche con-clui: “Pois sadio é quem esquece” (FW/GC, “Brincadeira, astúcia evingança”, § 4). Ascende-se, assim, à inteira compreensão da fórmu-la de Ecce homo: “Compreende-se o Hamlet? Não a dúvida, a certe-za é que enlouquece” (EH/EH, Por que sou tão esperto, § 4). Ora,

Nietzsche: a vida e a metáfora
27cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Hamlet – outro “edipiano” famoso, como se sabe desde Freud –compreendeu que “não podemos viver com a verdade”42 e que “hámais coisas, em céus e terras, do que sonhou nossa filosofia”.43 SeÉdipo, por sua vez, vaza os próprios olhos a fim de não ver a terrí-vel verdade atinente ao destino das pulsões, Hamlet, de sua parte,joga com as aparências, redobra a aparência no teatro a fim de evi-tar a verdade que o tornaria propriamente louco, isto é, caso elenão chegasse a simular, mesmo que teatralmente, a própria loucura.“Refugiamo-nos na vida, em sua aparência, falsidade, superficiali-dade, no seu engano cintilante”44 para escapar da trágica verdadeda linguagem das pulsões e resolver a trágica oposição vida-verdade.
Assim representada, a verdade é mortal, sendo que a ilusãoconstitui, aqui, a condição da vida. No entanto, pode-se igualmentedizer: a morte é verdadeira e a vida é “falsa” (assim como se podedizer que uma mulher é “falsa”). A vida é ilusão, ela nos ilude quantoà morte, ou, melhor ainda: ela é a forma enganosa da morte. “Guar-demo-nos de dizer que a morte se opõe à vida. O que está vivo éapenas uma variedade daquilo que está morto, e uma variedadebastante rara” (FW/GC § 109). Aquilo que comanda essaduplicidade é a vontade de potência enquanto criatividade dionisíacae ilusão apolínea, ou, então, como dualidade vida-morte, verdade-ilusão. Surge, a ser assim, um conflito trágico, quer dizer, irredutívelentre verdade e ilusão, morte e vida, já que, face à morte, a vida éilusão, a última ilusão da morte, sua derradeira astúcia:45 “O confli-to trágico. Tudo aquilo que é bom e belo depende da ilusão: a ver-dade mata – e mata-se a si mesma, na medida em que reconheceque possui, como fundamento, o erro”.46 Inversamente, “a vidanecessita de ilusão, quer dizer, de não-verdades tomadas por ver-dadeiras”.47 Após o médico-filósofo, que decifra os “desprezos docorpo”, entra em cena, pois, o “filósofo do conhecimento trágico”,doravante chamado de “filósofo-artista”: “O filósofo do conhecimentotrágico. Ele assenhora-se do desenfreado instinto do conhecimento,

Blondel, E.
28 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mas não por meio de uma nova metafísica (...) Tem lugar, para ofilósofo trágico, a imagem da existência segundo a qual tudo aquiloque pertence à atividade do conhecimento não surge senão comosendo algo antropomórfico48 (...). Deve-se mesmo querer a ilusão –é ali que se encontra o trágico”.49 Ora, esse último filósofo “demons-tra a necessidade da ilusão, da arte, e, em especial, da arte dominan-do a vida. Não nos é possível produzir novamente uma linhagem defilósofos tal como o fizera a Grécia no tempo da tragédia. Cabe so-mente à arte, doravante, a tarefa daqueles”.50 Assim, “possuímos aarte a fim de não sucumbir [zugrunde gehen] pela verdade”.51
Face à impotência voyeurística do metafísico, faz-se necessárioà Vida um homem potente; esse será, por excelência, o artista, cujos“filhos”, para além da cisão metafísica, glorificam o corpo e perma-necem fiéis à Terra: “O que agrada a todas as mulheres piedosas,sejam elas velhas ou jovens? Resposta: um santo que tenha belaspernas, ainda jovem, ainda tolo (...) Os artistas, por pouco que pos-suam valor, são, mesmo fisicamente, vigorosos, superabundantes,de forte animalidade, sensuais; não se imagina um Rafael sem umcerto ardor sexual. Fazer música é uma maneira de fazer filhos;52 acastidade significa apenas economia para o artista.; e, em todo caso,a fecundidade cessa, mesmo no artista, com o poder genético” (XIII14[117]). Nietzsche evoca, então, os mistérios dionisíacos, nos quais“se exprime a realidade fundamental do instinto helênico”: “O queo heleno garantia a si mesmo com esses mistérios? A vida eterna, oeterno retorno da vida; o futuro prometido e consagrado no passa-do; o triunfante sim à vida, para além de morte e mudança; a ver-dadeira vida como sobrevivência coletiva pela geração, pelos misté-rios da sexualidade. Para os gregos, por isso, o símbolo sexual erao símbolo venerável em si, o verdadeiro sentido profundo dentroda inteira religiosidade antiga. Toda particularidade do ato de gera-ção, da gravidez, do nascimento, despertava os mais altos e solenessentimentos. Na doutrina dos Mistérios a dor é declarada santa: as

Nietzsche: a vida e a metáfora
29cadernos Nietzsche 16, 2004 |
‘dores da parturiente’ santificam a dor em geral – todo vir-a-ser ecrescer, tudo o que garante futuro condiciona a dor... Para que hajao eterno prazer de criar, para que a vontade de vida afirme eterna-mente a si mesma, é preciso também que haja eternamente o ‘tor-mento da parturiente’... Isso tudo significa a palavra Dioniso: nãoconheço nenhum simbolismo mais alto do que esse simbolismo gre-go, o das Dionisias. (...) Somente o cristianismo, com seu ressenti-mento contra a vida no fundamento, fez da sexualidade algo impu-ro: lançou lodo sobre o começo, sobre o pressuposto de nossa vida”(GD/CI, O que devo aos antigos, § 4). Esse texto, junto com os an-teriores, permite-nos apreender a correlação que Nietzsche estabe-lece, em nível metafórico, entre a arte e a afirmação da vida pormeio dos mistérios da sexualidade: o símbolo sexual, “símbolo” davida, aparece-nos como a metáfora privilegiada, ou seja, considera-do como imagem da vida no nível da arte, tal símbolo se redobra asi mesmo, já que é, por sua vez, a própria imagem da fecundidadeda arte. Com efeito, por meio da metáfora sexual, a vida é apresen-tada como fecundidade – e como fecundidade artística: a criativi-dade meta-fórica da vida se diz no nível de uma metá-fora da procri-ação. Nesse sentido, a personagem dionisíaca de Peeperkon noZauberberg de Thomas Mann constitui, pois, a mais convincenteencarnação artística da problemática nietzschiana da vida.53
No entanto, o filósofo artista não ignora, enquanto médico-filó-sofo, que essa bela ilusão da Vida vista como mulher fértil tambémsignifica o florescimento ambíguo da Morte, que a Vida é, dado odescompasso pulsões-pensamentos, fundamentalmente doença, e,portanto, ambigüidade mortal. A criatividade da vida implica, comefeito, “que não há substâncias eternamente duráveis” (FW/GC§109). Doravante, a Vida declararia a Zaratustra: “onde há ocaso ecair de folhas, sim, é ali que a vida se sacrifica – por potência” (Za/ZA II “Da superação de si”). Como metá-fora cultural do corpo sobo fundo da cisão originária, a vida anuncia a morte do corpo, que,

Blondel, E.
30 | cadernos Nietzsche 16, 2004
com ela, é o primeiro a ser cortado. Sabe-se, com efeito, que o es-pírito “é a vida que se corta a si mesma” (Za/ZA II “Dos ilustressábios”), já que constitui o recalcamento do corpo, recalque esteque traz consigo a sempiterna ameaça de sua anemia total nadécadence. A cultura enquanto metá-fora do corpo recalcado é, talcomo Dioniso, cindida e tão-só, por assim dizer, o outro da moral,se se entende essa palavra no sentido geral de condições de exis-tência, isto é, como conjunto “de precauções de que se asseguraum organismo a fim de se adaptar”54 e em vista do qual a moralmetafísica não é senão um caso particular. Ora, decidir-se pela Vida,pela mulher, implica decidir-se, igualmente, pela Morte, ou, então,por uma certa forma de morte. Já que a cultura significa a errânciameta-fórica, “moral”, em relação aos instintos, as escolhas culturaisoferecer-se-ão, pois, na necessária ambigüidade instaurada pelametá-fora originária. Permanecerão sempre incertas já que, ao se“escolher” este ou aquele destino, este ou aquele tipo de cultura oumoral, termina-se por se escolher este ou aquele tipo de doença,este ou aquele tipo de morte do corpo no espaço aberto pela metá-fora. Optar pela vida é, pois, optar por esta ou aquela forma demorte. Uma comparação a Freud impõe-se de modo revelador. Sea morte do corpo é interpretada, em Nietzsche, como metá-foracultural, o Eros freudiano está, no destino das próprias pulsões,sempre a serviço da pulsão de morte. Inversamente, interpretar acultura – para Nietzsche, empreender a genealogia da moral – equi-valerá a “se perguntar: quão forte é a força? Sobre o que ela seexerce? O que veio a ser da humanidade (ou da Europa) sob a suainfluência? Quais forças ela favorece e quais ela oprime? Se ela tor-na o homem mais saudável, mais doente, mais sutil, mais necessita-do de arte etc.?” (XII, 1[53]). Isso significará interrogar a culturacomo sintoma, quer dizer, enquanto acordo vida-morte, lançadosobre o descompasso corpo-cultura e instituído pela metá-fora, ou,em termos freudianos, como recalcamento originário.

Nietzsche: a vida e a metáfora
31cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Poder-se-ia acrescentar que aquilo que a Nietzsche se apresen-ta como ambigüidade instaurada pela má consciência correspondeao que Freud chama de “plasticidade da libido”, isto é, aquilo queviabiliza os diferentes destinos das pulsões a partir do recalcamentooriginário. A partir dessa estrutura, compreende-se com certa faci-lidade que a morte – pulsão de morte ou abismo dionisíaco –, con-siderada como cisão, sempre se promove na vida sob a forma dedoença, neurose, cultura ou moral.55 Eis a derradeira ambigüidadeda vita femina, a última metá-fora da morte. Sendo que a coinci-dência com a análise freudiana é por demais impressionante paraque se renuncie, aqui, à chance de trazer à baila um dos textosmais explícitos de Freud acerca do problema da ambigüidade me-tafórica: o ensaio sobre O motivo da escolha do cofre (Das Motiv derKästchenwahl). Em O Mercador de Veneza e O rei Lear – diz-nosFreud –, a terceira dentre as escolhas deveria ser a Morte. Mas,por uma substituição (Entstellung, ou, em Nietzsche, metá-fora) cujosonho é muito comum, é pela mais bela que se escolhe. A interpre-tação do sonho permite concluir que “se escolhe livremente entreas mulheres e que a escolha recai, pois, sobre a Morte, e que, con-tudo, ninguém escolhe (...) Graças a uma tal substituição, a terceirairmã não é mais a Morte, mas a mais bela, a mais sábia e a maisdesejadas das mulheres”, a deusa do amor. No caso do rei Lear,“aquilo que é representado são as três relações que o homem devenecessariamente estabelecer com a Mulher: a genética, a matrimo-nial e a destrutiva (a Morte). Ou, antes ainda, as três formas pormeio das quais deve passar, ao longo da vida do homem, a imagemda Mãe: a mãe ela mesma, a amante, que ele escolhe como imagemdesta última, e, por fim, a mãe Terra que então o reassume.56
Em vão o velho se esforça em reassegurar o amor da Mulher talcomo o recebera, de início, de sua mãe: somente a terceira dasfilhas do Destino, a silenciosa deusa da Morte, virá recolhê-lo emseus braços”57 Confirma-se, assim, tanto em Freud quanto em

Blondel, E.
32 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Nietzsche, a ambigüidade meta-fórica da vita femina, a metáforada metá-fora mortal.58
* * *
A fim de pôr em evidência a seqüência metafórica da vitafemina, invocou-se o conceito de metáfora (escrito, por convenção,como metá-fora) de uma maneira quase pragmática: ele precisa,doravante, ser explicitado e fundamentado no discurso de Nietzsche.
Pode-se afirmar, desde já, que ele constitui o vínculo que rea-ta, em Nietzsche, a teoria dos instintos com a problemática da cul-tura, isto é, a partir daquilo que denominamos como cisão ou des-compasso originários da má consciência. Com efeito, “a vida não épossível sem o auxílio de um tal aparelho falsificador”59 que consti-tui, pois, a própria consciência. Entenda-se, com isso, “que devehaver necessariamente na consciência um instinto que exclui, des-carta e escolhe, e que não deixa aparecer senão fatos seguros”.60
Assim, em virtude da cisão originária, “o desenrolar dos fenôme-nos efetivamente ligados ocorre numa região subconsciente; as sériese as sucessões aparentes são os sintomas de encadeamentos reais”.61
Ou, mais precisamente, “o pensamento não constitui o próprio fe-nômeno interno, mas uma outra linguagem cifrada que exprimeuma relação de poder entre os afetos”,62 pois “o pensamento, a sen-sação e o querer consistem em falsificar por transformação [fäls-chendes Umgestalten]: por toda a parte, é a faculdade de assimilaçãoque está a operar, sendo que ela supõe a vontade de restabelecer, ànossa semelhança, as coisas exteriores”.63
Ora, é precisamente nesses termos que Nietzsche explica, emseus primeiros escritos, sua teoria da metáfora.64 Esses textos dejuventude permitem-nos, pois, acessar a modalidade de uma tal “fal-sificação” resultante do descompasso metafórico originário, sendoque neles se confirma, uma vez mais, o fato de que a problemática

Nietzsche: a vida e a metáfora
33cadernos Nietzsche 16, 2004 |
da metáfora não pode ser dissociada do problema geral da cultura,abordado por Nietzsche sob o prisma da cultura trágica grega.65
A cultura não se coloca, isto é, não se deixa expor a não ser aose transpor. MetafÒra, que significa transporte ou deslocamento,transferência ou transposição, designa o fato de que a cultura, en-quanto “doença” resultante da cisão originária, dá-se a conhecer,de qual maneira, apenas deslocada em relação a si mesma. Na cul-tura, “o que é pois a verdade? Um batalhão móvel de metáforas,metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações hu-manas, que foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas[überlagen], enfeitadas, e que, após longo uso, parecem a um povosólidas, canônicas e obrigatórias: as verdades são ilusões [Illusionen],das quais se esqueceu que o são, metáforas que se tornaram gastase sem força sensível” (WL/VM § 1). Na cultura como metá-fora, ohomem se permite tão-somente adivinhar ou interpretar (Nietzscheutiliza os termos Rätsel, Geheimnis). Por meio das manifestaçõesque preenchem o espaço da cultura, não somos, com efeito, capa-zes de conhecermo-nos diretamente. Eis o motivo pelo qualNietzsche, ao refutar a idéia fantasmática de uma visão direta (“in-tuitiva” ou voyeurística) das pulsões, do desejo, do “interior”, che-gará mesmo a dizer que, “em si, não há nada lá dentro [an sichliegt nichts darin]” (M/A § 119). Essa fórmula brutal não significa,em absoluto, que tais sintomas, metáforas, deslocamentos ou trans-posições por meio das quais a cultura se mostra, sejam pura e sim-plesmente epifenômenos sem fundamento, mas sim que o desejo(ou a vontade de potência da vita femina) não pode ser hipostasiado,coisificado, realizado numa essência imediatamente visível ou legí-vel, já que, em si mesmo, ele não se dá abertamente, a não sercomo ser-interpretado nas manifestações sintomáticas, deslocadas,meta-fóricas da cultura. Dizer-se-á, pois: a cultura interpreta-se a simesma, sendo que ler a cultura significa interpretar uma inter-pretação. Compreende-se, desde já, a razão pela qual o discurso

Blondel, E.
34 | cadernos Nietzsche 16, 2004
nietzschiano acerca da cultura enquanto metá-fora não pode deixarde ser, ele próprio, metafórico: “Entre essas duas esferas absoluta-mente diferentes (a do sujeito e a do objeto) não há causalidade,exatidão, expressão, mas, antes, uma relação estética, ou, poder-se-ia dizer, uma transposição indicativa [eine andeutende Übertrag-ung], uma tradução balbuciante [eine anstammelnde Übersetzung]de uma linguagem, em todo caso, estranha: eis por que será preci-so uma esfera e uma força intermediárias a fabular livremente [freidichtenden] e a imaginar livremente [frei erfinden]”.66 Por quê? Por-que a relação do homem, enquanto ser da cultura, com o mundo eas “coisas” é, originalmente – poder-se-ia dizer, inclusive, estrutu-ralmente –, metafórica: “Um estímulo nervoso, primeiramente trans-posto em uma imagem! Primeira metáfora. A imagem, por sua vez,modelada em um som! Segunda metáfora. E a cada vez completamudança de esfera, passagem para uma esfera inteiramente outra enova” (WL/VM § 1). Ser verídico é, desde então, “empregar asmetáforas usuais” (ibid.), “mentir em rebanho” (ibid.), “segundouma convicção sólida” (ibid.).
Se a cultura, enquanto relação primitiva como as “coisas”,67 sig-nifica, desde logo, deslocamento, transposição (Übertragung, sinô-nimo de metáfora), tradução (Übersetzung), pode-se, a rigor, chamá-la de metá-fora. No entanto, vê-se que tal metá-fora não se deixadescrever, para Nietzsche, senão por meio de uma metáfora, e, destafeita, no sentido retórico do termo: em termos do feminino conso-ante à vita femina e, naquilo que concerne à teoria dos instintos,em termos da assimilação gástrica.68 Uma tal aproximação recípro-ca explica-se pelo fato de que a metáfora, quer dizer, a transposiçãoé, originariamente, artística: “Fomos capazes de criar formas muitoantes de saber criar conceitos”,69 pois, como já dizia o jovemNietzsche, “o conceito não é outra coisa senão o resíduo de umametáfora, sendo que a ilusão da transposição artística [künstlerischeÜbertragung] de uma excitação nervosa em imagens [Bilder], se não

Nietzsche: a vida e a metáfora
35cadernos Nietzsche 16, 2004 |
for a mãe, é, todavia, a avó de todo conceito”.70 A linguagem dacultura, mesmo quando conta enunciar a origem, é metafórica, jáque a metá-fora é um fenômeno estético. É nesse sentido que seorienta a inteira reflexão de Nietzsche acerca dos Pré-socráticos; talreflexão, presente em O nascimento da tragédia e no Livro do filóso-fo, pode ser inteiramente considerada enquanto um comentário dofamoso dito de Heráclito: “oÚte crÚptei. oÚte lšgei, allashma…nen”. Aqui, toda visão ou compreensão do mundo ou do Seré apresentada por Nietzsche como algo metafórico, isto é, como lin-guagem imagética, pré-racional. Por mais que se tente remontar àhistória da cultura, esta acaba por expressar sua relação com o mun-do, quer dizer, consigo mesma, de maneira metafórica: “Assim con-templou Tales a unidade de tudo o que é: e quando quis comuni-car-se, falou da água” (PHG/FT § 3). Compreende-se melhor, desdejá, o privilégio da arte em Nietzsche, assim como a necessidade – aele essencial e originária – de anunciar um novo tipo de culturapelos signos metafóricos e mitológicos de Dioniso, Apolo e Ariadne,e, igualmente, de analisar seu nascimento sob o auxílio das ima-gens da Mulher, de Édipo, “neikos”, “philia”71 e até mesmo da fisi-ologia: “O conceito de ser! Como se a mais miserável origemempírica não aparecesse, já, na etimologia da palavra! Pois esse sig-nifica, no fundo, respirar: se o homem emprega, ao falar de todas ascoisas, uma tal palavra, ele o faz pela metáfora, quer dizer, ele trans-põe a todas as outras coisas, por um procedimento ilógico, a con-vicção segundo a qual ele respira e vive” (PHG/FT § 11).
Mas tal reflexão de Nietzsche acerca da metá-fora primitiva en-quanto fenômeno artístico se deslocará, mais tarde, em direção auma teoria dos instintos e da significação que constituirá, pois, oseu fundamento. Que a metá-fora seja um fenômeno artístico e que,de modo recíproco, a arte seja privilegiada por Nietzsche como oparadigma cultural da metá-fora, eis o que prova o fato de que talteoria dos instintos se ordena a partir do termo Erdichten. No afo-

Blondel, E.
36 | cadernos Nietzsche 16, 2004
rismo 119 de Aurora, Nietzsche explicita, em termos de uma meta-fórica da assimilação gástrica, aquilo que ele denomina alhures72
como “sua crença na verdade do sonho”. Ele explica que as“fabulações” (Erdichtungen) da vida consciente e dos sonhos “sãointerpretações de nossos estímulos nervosos durante o sono, inter-pretações [Interpretationen] muitíssimo livres e arbitrárias dos movi-mentos sanguíneos e intestinais”. Com efeito, “as leis de nutriçãodas pulsões permanecem, em todo caso, desconhecidas. Tal nutri-ção é, pois, obra do acaso: nossas experiências cotidianas nos fa-zem rejeitar, ora a uma, ora a outra pulsão, uma presa da qual elase apodera avidamente, mas todo vaivém dessas conjunturas não seacha em nenhuma correlação racional com as necessidades nutriti-vas das pulsões em seu conjunto”. Nietzsche explica, então, quenossa vida consciente e nossos sonhos se ressentem, enquanto in-terpretações, de tais estados de gordura excessiva e inanição daspulsões: assim, mesmo se “a vida no estado de vigília não dispõe detanta liberdade quanto a vida onírica, já que é menos poética[dichterisch], menos desenfreada [zügellos] (...) não se deve con-cluir, talvez, que nossas pulsões no estado de vigília não fazem nadamais que interpretar os estímulos nervosos e lhes atribuir as ‘cau-sas’ após as suas próprias exigências? Que entre vigília e sonho nãohá, essencialmente, nenhuma diferença? (…) Que também nossosjuízos morais e nossas valorações [Wertschätzung] são só imagens[Bilder] e representações fantásticas [Phantasien] de um processofisiológico que nos é desconhecido, uma espécie de linguagem con-vencional apta a designar determinadas excitações nervosas? Quetoda a nossa denominada consciência é somente um comentário[Kommentar] mais ou menos fantástico [phantastisch] de um textoinconsciente, talvez incognoscível, mas ressentido? (...) O que são,pois, nossas experiências interiores [Erlebnisse]? Muito mais o quecolocamos dentro delas que aquilo que há nelas! Ou, então, não se

Nietzsche: a vida e a metáfora
37cadernos Nietzsche 16, 2004 |
poderia até [gar] dizer: em si, não há nada lá dentro? Experimentaré fabular [Erleben ist ein Erdichen]?” (M/A § 119).
Viver é, pois, assimilar, quer dizer, reduzir o diferente73 ao idên-tico e transformar a própria “alimentação” das pulsões, mas tam-bém interpretar, transformar o idêntico em múltiplo. No sonho –que, aliás, “não se distingue essencialmente da vigília” –, há con-densação (assimilação), mas também deslocamento (interpretação).Com efeito, segundo Freud, “ocorre que, em virtude da conden-sação, um único elemento dentre todos aqueles do sonho manifestopode corresponder a numerosos elementos dos pensamentos latentesdo sonho; em contrapartida, um único elemento de tais pensamen-tos pode ser substituído, no sonho, por variadas imagens”.74 Ora,condensação traduz, precisamente, a palavra alemã Verdichtung.
Tal sinonímia entre Erdichten-Verdichten, assim como as fór-mulas dadas por Nietzsche ao sonho, autorizam que se considere o“trabalho do sonho” como paradigmático do movimento da metá-fora. A fim de ler o sonho artístico da cultura, será preciso inverteras conversões, diversões ou perversões das pulsões. E a metáforado ouvido que, nesse caso, Nietzsche emprega a fim de designar taltrabalho de interpretação,75 atesta que o descompasso do signomanifesto é, no sentido latente, uma dissimulação de tipo particular:distância não tanto entre o que se oculta e aquilo que se manifesta,mas, antes, do simples ao múltiplo e do múltiplo ao simples. Umavez interpretada, a ilusão meta-fórica não se apaga para revelar, aíentão, uma verdade ou uma entidade. Tudo se passa, com efeito,como se, dentro de tal criptograma da cultura,76 outras formas meta-fóricas aparecessem simultaneamente: a genealogia não se dirigeao ataque de um texto “falso” que esconderia, pois, um texto “ver-dadeiro”, mas se volta para um enigma metafórico.77 Assim: “Quan-do dizem: ‘Sou justo’ [gerecht], isto soa sempre como: ‘Estou vinga-do [gerächt]!’” (Za/ZA II “Dos virtuosos”): de gerecht a gerächt, não

Blondel, E.
38 | cadernos Nietzsche 16, 2004
se passa do falso ao verdadeiro, mas de uma metá-fora unívoca àrevelação de um outro Leitmotiv, e que não é audível senão namesma linha fônica; passa-se, sem transição, do simples canto àprópria polifonia. O mesmo ocorre no famoso exemplo do “JA”dionisíaco, que também soa, para o leitor-ouvinte da metá-fora, si-multaneamente como o “I-A” (relincho) do asno. Tornar-se-á ne-cessária a “delicadeza de ouvido” da qual nos fala Freud,78 assimcomo aquela de Zaratustra que, ao escutar os ilustres sábios, declara:“e, na verdade, já ouvi também sapos coaxar em seus discursos”(Za/ZA II “Dos ilustres sábios”).79 Interpretar as metá-foras da cul-tura significará, conseqüentemente, o mesmo que ler, ou, antes ain-da, reler – a partir de uma ou outra manifestação –, a metá-fora deuma outra pulsão, equivalerá, enfim, a ouvir diversas vozes lá ondenão se escuta senão apenas uma. Mas cumpre igualmente possuirum ouvido capaz de perceber a polifonia ou a polissemia da me-táfora, já que esta constitui, em si mesma, a sua própria metá-fora.
Nietzsche está igualmente apto a afirmar que o trato com a exis-tência é fabulador ou poético (dichterisch), já que o concebe enquan-to Erdichten, condensação, poesia sobre a poesia: “toda forma decultura [Kultur] começa pelo fato de que uma multidão de coisas éencoberta (...) A elevada fisiologia decerto irá, no que tange ao nos-so desenvolvimento, abranger as forças artísticas [künstlerischeKräfte], e não apenas no processo de formação do homem, mas tam-bém no do animal: ela dirá que, com o orgânico, tem início tambémo artístico. As transformações químicas da natureza inorgânica são,talvez, processos igualmente artísticos” (VII 19 [50]). Não há, pois,na origem, nenhum privilégio do conhecimento, mas justamente ocontrário: “Não há nenhum conhecimento intrínseco sem metáfo-ra”80 e “todo conhecer é um refletir em formas que são, de qual-quer modo, determinadas e que não existem, pois, a priori”.81
Nietzsche não entende, com isso, que tudo não passa de equivalen-tes ilusões fantásticas, mas, ao contrário, que a ciência, a moral ou

Nietzsche: a vida e a metáfora
39cadernos Nietzsche 16, 2004 |
a religião, ao se passarem por “verdadeiras”, constituem, em reali-dade, não apenas jogos de aparências, mas aparências enganosas.Somente a arte, enquanto metáfora confessa, é verdadeira: “A artetrata a aparência enquanto aparência, ela não conta, pois, enganar,ela é verdadeira”.82
O critério de “verdade” será, a ser assim, paradoxal: a arte éverdadeira pelo fato de elevar, redobrar a metáfora – daí a ilusão–, cujo jogo, na ciência, moral e religião, é bloqueado. O falso – emrealidade, o mórbido – passa a ser, desse modo, designado comobloqueio repetitivo da metáfora. O cotejo com Freud é, justamentenesse ponto, esclarecedor. Aquilo que Nietzsche designa como mo-vimento da metá-fora (por vezes, “faculdade de esquecimento”)corresponde, em Freud, à plasticidade da libido, quer dizer, a “ca-pacidade que a libido tem de mudar com maior ou menor facilida-de de objeto e de modo de satisfação”.83 “Beweglichkeit” e “metá-fora” sugerem, igualmente, a imagem de transporte e deslocamento.A criança, enquanto perverso polimórfico, é a imagem extrema deuma tal mobilidade metafórica, a qual se opõem as fixações resul-tantes de uma “viscosidade” ou “inércia” (Klebrigkeit, Trägheit) dalibido, seja nas neuroses individuais, seja nas neuroses culturais,bloqueando o movimento metafórico (religião, moral). A décadenceseria medida, nesse caso, segundo o maior ou menor grau de plas-ticidade ou viscosidade – de acordo com a capacidade meta-fóricade unir, no processo secundário, as descargas pulsionais.84 Comefeito, em O mal-estar na civilização, Freud escreve: “Abordamosa dificuldade do desenvolvimento cultural como sendo uma dificul-dade geral de desenvolvimento, fazendo sua origem remontar à inér-cia da libido, à falta de inclinação desta para abandonar uma posi-ção antiga por outra nova”.85
Se a metáfora é a manifestação da faculdade de esquecimento,o mórbido e o falso persistirão, pois, sob a falta de ab-reação e deErdichten meta-fórica que gera o homem reativo. Por ser um ani-

Blondel, E.
40 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mal que interpreta por meio da metá-fora, o homem é um “animalnecessariamente esquecido” (cf. GM/GM II § 1): inversamente, ohomem reativo ou o homem do ressentimento é incapaz de fazeruso da metá-fora. “Com o que logo se vê que não poderia haverfelicidade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esque-cimento. O homem no qual esse aparelho inibidor é danificado edeixa de funcionar pode ser comparado (e não só comparado) a umdispéptico – de nada consegue ‘dar conta’” (Ibid.).86 Ora, na arte,em contrapartida, o homem esquece-se de que ele esquece, quemente, que “metaforiza”, ao passo que o homem reativo se esquecede esquecer. Assim, em Über Wahrheit und Lüge im aussermora-lischen Sinne (Sobre verdade e mentira no sentido extramoral),Nietzsche escreve: “Não é senão pelo esquecimento de tal mundometafórico primitivo, não é senão pelo fato de que o homem se es-quece enquanto sujeito e enquanto sujeito da criação artística, queele vive com algum repouso, alguma segurança e conseqüência”(WL/VM §1). Com efeito, se o homem estivesse ciente de que vivenum mundo fundamental e originariamente metafórico, ele sucum-biria à loucura dionisíaca. E a verdade dionisíaca é mortal.
Hiperbolicamente, Apolo – o deus do véu – ofusca a metáforana própria arte, a aparência metafórica da vita femina. Pelo exces-so da metáfora, o homem esquece-se enquanto ser originariamentemetafórico: ápice da metáfora que é se esquecer a si mesma en-quanto tal. Apolo é, pois, a metáfora de Dioniso: na metáfora artís-tica apolínea, perde-se a lembrança da Morte dionisíaca enquantodesabrochamento enlouquecido da metáfora, como florescência in-finita da aparência, como perversão polimorfa que chega a ser mor-tal.87 A metáfora artística surge então como o jogo regrado do Mes-mo e do Outro: a metá-fora originária descerra o espaço do Outrocomo reino da metá-fora dionisíaca, e, em seu acme, como loucuraletal. Mas, em Apolo, metáfora da metá-fora, outro do outro, a me-táfora esquece-se de si mesma, inocência infantil, ilusão artística:

Nietzsche: a vida e a metáfora
41cadernos Nietzsche 16, 2004 |
“Maturidade do homem: significa reaver a seriedade que se tinhaquando criança ao brincar” (JGB/BM § 94). Sob tal perspectiva,“querer o verdadeiro”88 poderia significar, secretamente, “querera morte”,89 sendo que “a ciência, a partir dessa hipótese, seria umalonga armadilha”,90 já que se engana ao não se deixar enganar, namedida em que quer a morte ao querer o verdadeiro. Se por detrásde Apolo, em seu esquecimento artístico, projeta-se sub-repticia-mente o voyeur – o outro do Mesmo – que solidifica a metáfora vitalda vita femina numa essência mortal, é o sábio – o mesmo do Ou-tro – que irá, pois, dissimular-se por detrás de Dioniso, destruidordas aparências. Mas ambos “se enganam” ao “não quererem enga-nar”, isto é, ao irem do semelhante ao Mesmo segundo um proces-so estritamente primário91 no qual o movimento metafórico da Vidaé bloqueado e pelo qual Apolo, como Outro do Outro, auxiliaDioniso. Pois “Dioniso fala a linguagem de Apolo, mas Apolo, aofim, fala a linguagem de Dioniso” (GT/NT § 21).
Promete-se, aqui, por meio dessas duas divindades, o além-do-humano92 enquanto metáfora da metá-fora, metá-fora do Homem.93
Abstract: This article has a two-faced purpose: firstly, it aims at disclos-ing the drive mechanism through which the man of ressentiment has re-signed himself to the so-called superior culture (science, morality, reli-gion, etc.), and secondly, it hopes to bring to light – in line with an innova-tive theory of metaphor and through the precious image of vita femina –the very dimension that, according to Nietzsche, characterizes the imma-nence itself as well as its essentially immoral game.Key-words: metaphor – language – instincts – life – death

Blondel, E.
42 | cadernos Nietzsche 16, 2004
notas
1 Carta a E. Rohde a 22 de fevereiro de 1884.2 Em Qu’appelle-t-on penser? (Trad. de Becker e Granel. Pa-
ris, Puf, [s.d.], p. 48), Heidegger deplora o fato de que tal“livro para todos e para ninguém” tenha “terminado porse tornar um livro para qualquer um”.
3 Za/ZA “Da virtude dadivosa” § 3.4 Daí a convenção ortográfica que aqui se adota comodamen-
te a fim de distinguir, num primeiro momento, a aceitaçãoretórica (metáfora) do próprio conceito filosófico (metá-fora).
5 Tomamos aqui tal conceito na acepção ampla do termoKultur, tal como Freud a define, por exemplo, no capítuloIII de O mal-estar na civilização (Unbehagen in der Kultur):o termo Kultur “descreve a soma integral das realizações eregulamentos que distinguem nossas vidas das de nossosantepassados animais, e que servem a dois intuitos, a sa-ber: o de proteger os homens contra a natureza e o deajustar os seus relacionamentos mútuos” (Freud, S. O mal-estar na civilização. Trad. de José Octavio de Aguiar Abreu.Rio de Janeiro, Imago, 1974, III, p. 109).
6 Cf. JGB/BM § 32.7 Poder-se-ia sublinhar, desde já, que Nietzsche, a fim de
descrever tal nascimento, lança mão de um metaforismofisiológico (em realidade, “ginecológico”) o qual nós pode-mos rigorosamente qualificar como histérico, quer dizer,como se a origem mesma da metáfora não pudesse seranunciada senão metaforicamente, pela conversão a umdiscurso corporal. É essa seqüência metafórica que nospropomos a estudar mais adiante.
8 Ou seja, antes de ser usurpada pelo padre asceta.

Nietzsche: a vida e a metáfora
43cadernos Nietzsche 16, 2004 |
9 Laplanche e Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse. Pa-ris, Puf, 1987, p. 392. Cf., igualmente, “O recalque”, naMetapsicologia de Freud.
10 “Abkömmlinge des Bewussten”, cf. Freud, Die Verdrängung,1915, In: G.W., X, p. 250.
11 Cabe comparar, aqui, a oposição freudiana entre proces-so-primário e processo-secundário, ou, então: princípio deprazer e princípio de realidade.
12 Que se compare, aqui, com a Verkehrung ins Gegenteil(inversão em contrário) freudiana, como, por exemplo, osado-masoquismo.
13 Acerca do si mesmo consciente, Freud diz que se trata de“uma fachada” (cf. Mal-estar na civilização [ediçãosupracitada]).
14 Cf. FW/GC § 346, MAI/HHI, Prefácio, § 1.15 Cf. JGB/BM § 42, onde se lê: “Esses filósofos do futuro
bem poderiam, ou mesmo mal poderiam, ser chamados detentadores. Esta denominação mesma é, afinal, apenas umatentativa e, se quiserem, uma tentação”.
16 Cf. FW/GC, Prólogo, § 3.17 Cf. ibid. e, em especial, Za/ZA I “Dos desprezadores do
corpo”.18 Cf. GM/GM II § 17.19 Cf.VIII 19[97], onde se lê: “A tradição fecha os olhos para
o vínculo que une a crença e suas conseqüências. As con-seqüências renegam seu pai”.
20 Cf. M/A, Prefácio, § 421 Cf. FW/GC § 33922 FW/GC § 33923 Nenhum desses termos é realmente adequado para carac-
terizar, em linhas gerais, o “estilo” de tal uso da metáfora.

Blondel, E.
44 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Por outro lado, o epíteto “feminista” é inutilizável, já quese trataria, aqui, de um equívoco: ela reenviaria a umatendência violentamente atacada por Nietzsche.
24 Cf. FW/GC § 36125 Cf. XIII 15 [118]26 Termo tomado, aqui, por empréstimo de Jean Granier, Le
problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche. Pa-ris, Seuil, [s.d.].
27 “As mulheres selvagens não possuem pudor, já que an-dam nuas. Eu objeto que as nossas, por se vestirem, pos-suem-no menos ainda” Rousseau, J-J. Lettre à d’Alembert.
28 O ideal metafísico resulta da projeção, numa realidadeimaginária, de uma essência: no caso, o eterno Feminino.
29 Cf. JGB/BM, Prefácio, § 130 “A quem sou grata a vida inteira? A Deus – e a minha
costureira” (JGB/BM § 237). O deus do véu é, diga-se apropósito, Apolo.
31 Cf. FW/GC, Prólogo, § 232 (No original, lê-se: “sans arrière-pensée ni ‘pensée de derrière’”
[n.t.]). Nietzsche joga, não sem um pouco de gracejo (que,aliás, ele acredita ser tipicamente “francês”), com essametáfora: cf. NW/NW, Epílogo, § 2.
33 Cf. FW/GC § 7134 Em conseqüência, o niilismo é acompanhado de “grossei-
ras tentativas de cientificidade e autodesnudamento femi-ninos! (...) A mulher quer ser independente: e com talobjetivo começa a esclarecer os homens sobre a ‘mulherem si’” (JGB/BM § 232).
35 Seria muito exorbitante sugerir que o “horror” de Nietzscheao casamento – “possui-se sempre algo de mais importan-te a se fazer do que se casar” (Oeuvres posthumes. Trad. de

Nietzsche: a vida e a metáfora
45cadernos Nietzsche 16, 2004 |
H.-J. Bolle. Paris, Mercure de France, [s.d.], § 405, p.157) – segue de mãos dadas com seu desprezo peladialética, conceito por excelência conjugal em todos os sen-tidos? Sócrates, Hegel e... Marx foram casados.
36 Cf. XIII 11[59] e GD/CI Incursões de um extemporâneo§ 27
37 Em alemão, lê-se: “ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründenicht sehen zu lassen”, sendo que a intenção licenciosa évertida, pelos tradutores, com o mesmo tanto de prudênciaquanto de hipocrisia. A propósito de Baubo, cf. Grimal, P.Dictionnaire mythologique. Paris, Puf, [s.d.]. Numa tarde,em busca de sua filha, e acompanhada por Iacchos – futu-ro iniciado nos mistérios de Elêusis – Deméter vai parar namorada de Baubo. Esta, por sua vez, oferece-lhe uma sopa,mas Deméter, para a sua total infelicidade, não queriaaceitá-la. Humilhada, Baubo levantou, pois, sua vestimentae lhe mostrou as nádegas; ao vê-la, o pequeno Iacchos aplau-diu. Deméter acabou rindo e terminou, apesar de tudo,por aceitar a sopa.
38 Cf. GT/NT, Tentativa de autocrítica, § 539 Freud, S. Abrégé de psychanalyse. Trad. de A. Berman.
Paris, Puf, [s.d.], p. 23.40 Cf. Leclaire, S. Psychanalyser. Paris, Seuil, [s.d.], pp. 124-
25.41 Cf. FW/GC, Prólogo, §3 e §4.42 La volonté de puissance. Trad. de G. Bianquis. Paris, N.R.F.,
[s.d.], II, § 557, p. 172.43 Em Shakespeare, lê-se: “There are more things in Heaven
and Earth, Horatio, Than are dreamt of in our philosophy”(Hamlet. Londres, Penguin Books, 1994, I. 5, p. 54).
44 La volonté de puissance. Trad. de G. Bianquis. Paris, N.R.F.,[s.d.], II, § 323, p. 105.

Blondel, E.
46 | cadernos Nietzsche 16, 2004
45 Cf. Mann, Thomas. Die Betrogene46 Le livre du philosophe. Trad. de A. K. Marietti. Paris, Aubier-
Flammarion, [s.d.], III, § 176, p. 203.47 Ibid. I, § 47, p. 6348 Esse termo poderia recobrir aquilo que se nos apareceu
como o voyeurismo do filósofo, isto é, que projeta seusfantasmas visionários sobre a vita femina, mas poderia igual-mente designar a metá-fora originária: cf. ibid. § 77-78, p.93.
49 Ibid. § 37, p. 53-550 Ibid. § 38, p. 5551 La volonté de puissance. Trad. de G. Bianquis. Paris, N.R.F.,
[s.d.], I, § 453, p. 338.52 Essa fórmula ilustra perfeitamente a metá-fora originária.53 Cf. Mann, Thomas. La montagne magique. Trad. de M.
Betz. Paris, Fayard-Livre de poche, [s.d.], II, p. 305-6:“As exigências sagradas da vida enquanto mulher a propó-sito da honestidade e da força viril (...) A vida, jovem, éuma mulher hábil (...) que, em sua provocação magnífica eembusteira, exige o nosso mais alto fervor”. Pensamos aquiigualmente nas páginas de Freud acerca da etiologia sexu-al das neuroses e sobre a prescrição, neste caso ideal (cujacura analítica passa a ser a substituta), mas que “infeliz-mente, não podemos ordenar” (Cf. Freud, S. Contributionà l’histoire du mouvement psychanalytique. Paris, Petite Bibl.Payot, [s.n.], p. 77-9).
54 Oeuvres posthumes. Trad. de H.-J. Bolle. Paris, Mercurede France, [s.d.] § 666, p. 246.
55 Como isso, aparece claramente a absurdidade da afirma-ção segundo a qual Nietzsche teria “destruído a moral”:não há vida sem moral ou cultura, que constituem, pois, as

Nietzsche: a vida e a metáfora
47cadernos Nietzsche 16, 2004 |
metá-foras. É igualmente por esse motivo que “há maisídolos que realidades no mundo” (GD/CI Prefácio).
56 Lear diz sobre Cordélia: “She’s dead as earth [ela estámorta como a terra]”. (Ato I, sc. I, v. 263)
57 Freud, S. Gesammelte Werke, X, p. 24-37.58 Cf., igualmente, Mann, Thomas. La montagne magique. t.
II Mynheer Peeperkorn, p. 316-370.59 La volonté de puissance. Trad. de G. Bianquis. Paris, N.R.F.,
[s.d.], I, § 287, p. 28660 Ibid. § 236, p. 270.61 Ibid. § 248, p. 273.62 Ibid. § 290, p. 287.63 Ibid. § 287, p. 286.64 Isso será retomado e expresso, em textos mais tardios, nos
termos de uma metafórica da “assimilação” digestiva.65 Poderemos observar até que ponto a linguagem de
Nietzsche evoca os termos empregados por Freud em suasanálises da Entstellung, quer dizer, da distorção própriado sonho e da cultura em geral.
66 Le livre du philosophe. Trad. de A. K. Marietti. Paris, Aubier-Flammarion, [s.d.], III, p. 189 (grifo nosso).
67 É nítido que essas [as coisas] não se dão senão enquantometáforas, daí as aspas.
68 Essa metafórica é, ela mesma, redobrada por uma metafó-rica política, o que permite, com isso, a aproximação comFreud relativamente à noção de compromisso (cf. Nouvellesconferences, III).
69 Texto supracitado.70 Le livre du philosophe. Trad. de A. K. Marietti. Paris, Aubier-
Flammarion, [s.d.], III, p. 185

Blondel, E.
48 | cadernos Nietzsche 16, 2004
71 Freud, S. Analyse terminée et analyse interminable.72 Cf. La volonté de puissance. Trad. de G. Bianquis. Paris,
N.R.F., [s.d], § 229, p. 268.73 O que também pode ser vertido, tendo em vista a duplica-
ção da metáfora gástrica por uma metáfora política, por“disputa”.
74 Freud, S. Nouvelles conférences sur la psychanalyse. Trad.de A. Berman. Paris, Gallimard, [s.d.], I, p. 30.
75 Cf. Za/ZA Prólogo § 9, GD/CI Prólogo e EH/EH Por quesou tão sábio § 8.
76 Em L’Interprétation des rêves. (Trad. de Meyerson-Berger.Paris, Puf, [s.d.], p. 306), Freud refere-se explicitamenteaos trabalhos de Pfister sobre a criptografia, as imagens deadivinhação e os enigmas figurados.
77 Ibid. p. 242: “O sonho é um enigma”.78 Freud, S. Psychanalyse et médecine. Paris, Gallimard-Idées,
[s.d.], p. 143: “Uma certa delicadeza de ouvido, por assimdizer, é necessária para escutar a linguagem do inconsci-ente recalcado”.
79 Inversamente, duas diferentes metáforas se deixam “ou-vir” como sinônimas: “tornar melhor será, imediatamente,sinônimo de corromper” (GM/GM III § 21).
80 Le livre du philosophe. Trad. de A. K. Marietti. Paris, Aubier-Flammarion, [s.d.], I, § 149, p. 139.
81 Ibid., §123, p. 121.82 Ibid., III §184, p. 213.83 Laplanche e Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse. Pa-
ris, Puf, 1987, p. 31584 Apolo bem que poderia ser, enquanto Deus da metáfora,
igualmente o deus do processo secundário.

Nietzsche: a vida e a metáfora
49cadernos Nietzsche 16, 2004 |
85 Freud, S. O mal-estar na civilização. Trad. de José Octaviode Aguiar Abreu. Rio de Janeiro, Imago, 1974, V, p. 129.
86 Notar-se-á, em todo o texto, a metáfora gástrica. Apesar detodas as aparências, tal texto impede qualquer redução ao“biologismo”: a digestão é, aqui, metáfora da metá-fora doesquecimento, que remete, por sua vez, à metá-fora origi-nária. O corpo é uma metáfora e não uma “entidade origi-nária”; e eis que Nietzsche precisa: “Uma tal concepção,seja dito entre nós, não impede que se continue sendo omais rigoroso adversário de todo materialismo” (GM/GMIII § 16).
87 “Nosso aparelho psíquico busca, de modo muito natural eem virtude de sua própria constituição, conformar-se aoprincípio de prazer, mas, em presença das dificuldadeshauridas do mundo exterior, a sua afirmação pura e sim-ples – e em todas as circunstâncias – revela-se impossível,perigosa mesma para a conservação do organismo” (Freud,S. Au-delà du principe de plaisir. Trad. de Jankelevitch.Paris, Petite Bibl. Payot, [s.d.], p. 96).
88 Como supressão da metáfora.89 Cf. FW/GC § 344.90 Ibid.91 “Parece, precisamente, que o princípio de prazer está a
serviço das pulsões de morte” (Freud, S. Au-delà du principede plaisir. Trad. de Jankelevitch. Paris, Petite Bibl. Payot,[s.d.], p. 80).
92 Surhumain, no texto original (n.t.).93 Doravante, a metá-fora não significa mais Übertragung,
transposição, mas propriamente Überwindung, sublimação.

Blondel, E.
50 | cadernos Nietzsche 16, 2004
referências bibliográficas
1. FREUD, S. Abrégé de psychanalyse. Trad. de A. Berman.Paris: Puf, s.d.
2. _______. Au-delà du principe de plaisir. Trad. deJankelevitch. Paris; Petite Bibl. Payot,s.d.
3. _______. Contribution à l’histoire du mouvementpsychanalytique. Paris: Petite Bibl. Payot, s.d.
4. _______. L’Interprétation des rêves. Trad. de Meyerson-Berger. Paris: Puf, s.d.
5. _______. Nouvelles conférences sur la psychanalyse. Trad.de A. Berman. Paris: Gallimard, s.d.
6. _______. O mal-estar na civilização. Trad. de José Octaviode Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
7. _______. Psychanalyse et médecine. Paris: Gallimard-Idées, s.d.
8. GRANIER, Jean. Le problème de la vérité dans laphilosophie de Nietzsche. Paris: Seuil, s.d.
9. GRIMAL, P. Dictionnaire mythologique. Paris: Puf, s.d.
10. HEIDEGGER, M. Qu’appelle-t-on penser? Trad. deBecker e Granel. Paris: Puf, s.d.
11. LAPLANCHE e PONTALIS. Vocabulaire de lapsychanalyse. Paris: Puf, 1987.
12. LECLAIRE, S. Psychanalyser. Paris: Seuil, s.d.
13. MANN, Thomas. La montagne magique. Trad. de M.Betz. Paris: Fayard-Livre de poche, s.d.
14. NIETZSCHE, F. La volonté de puissance. Trad. de G.Bianquis. Paris: N.R.F., s.d.

Nietzsche: a vida e a metáfora
51cadernos Nietzsche 16, 2004 |
15. _______. Le livre du philosophe. Trad. de A. K. Marietti.Paris: Aubier-Flammarion, s.d.
16. _______. Oeuvres posthumes. Trad. de H.-J. Bolle. Pa-ris: Mercure de France, s.d.
17. _______. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe.Berlim/Munique: de Gruyter/ dtv, 1988.
18. _______. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe.Berlim/Munique: de Gruyter/ dtv, 1980.
19. SHAKESPEARE. Hamlet. Londres: Penguin Books,1994.


Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
53cadernos Nietzsche 16, 2004 |
* Este trabalho foi apresentado no Colóquio “Vom Umgang Nietzsches mitBüchern zum Umgang mit Nietzsches Büchern” realizado em Weimar, emsetembro de 2002.
** Doutora em Filosofia pelo Departamento de Filosofia do IFCH da Unicamp.
Nietzsche e a leitura deDo Belo Musicalde Eduard Hanslick*1
Anna Hartmann Cavalcanti**
Resumo: Neste trabalho pretendo analisar a leitura de Nietzsche do en-saio Do Belo Musical, do crítico musical vienense Eduard Hanslick, ela-borada no período de redação de O Nascimento da Tragédia. A partir deum confronto dos escritos e fragmentos póstumos de 1871 com o ensaiode Hanslick, procuro reconstituir a leitura de Nietzsche, ressaltando o duploaspecto, crítico e produtivo, de sua interpretação.Palavras-chave: arte e natureza – sentimento – sensação – Nietzsche –Hanslick – A. W. Schlegel.
Introdução
Nietzsche leu provavelmente em 1865, pela primeira vez, a obraDo belo musical (Vom Musikalisch Schönen) do crítico musical vie-nense E. Hanslick. Nesta época, o filósofo era estudante de Teolo-gia em Bonn e aluno de Otto Jahn, estudioso da obra de Mozart e,como Hanslick, crítico do drama musical wagneriano. Os primeiros

Hartmann Cavalcanti, A.
54 | cadernos Nietzsche 16, 2004
indícios da leitura de Hanslick encontram-se em um fragmento demarço de 1865, no qual Nietzsche discute a relação entre a poesiae a música, referindo-se a uma questão bastante polêmica na época,e discutida em Do belo musical, a da relação entre música e senti-mento2. Ao lado deste fragmento o filósofo redigiu uma lista de li-vros a serem lidos nas férias, na qual menciona o nome de Hanslick3.
No outono de 1866, agora estudante em Leipzig, Nietzsche es-creve um pequeno texto, bastante crítico, sobre as “As Walkírias”de Wagner, no qual surgem novos indícios da leitura de Do belomusical4. O texto trata de um tema, os limites entre a música e apoesia, que foi objeto de uma acirrada polêmica entre os partidá-rios da concepção da obra de arte total (Gesamtkunstwerk), desen-volvida por Wagner, e os defensores da concepção musical clássi-ca, na qual se afirma a primazia da música absoluta. Nietzschedesenvolve um comentário extremamente irônico sobre o significa-do do título na ópera wagneriana. O filósofo observa que o título doprelúdio das “Walkírias”, “Tempestuoso” (Stürmisch), tem a fun-ção de indicar ao maestro um tempo mais rápido, enquanto o leitorda partitura deve saber que o prelúdio descreve uma tempestade:“O título é, portanto, um programa que enfeitiça o ouvinte colocan-do diante de sua alma uma imagem poética”5. Nietzsche refere-seaqui à estreita relação entre texto e música que se estabelece a par-tir do título, sugerindo que o ouvinte passa a compreender a com-posição musical a partir de seu conteúdo programático. Segue-se aesta observação o irônico comentário: “Se não soubéssemos que setratava de uma tempestade, então pensaríamos, primeiro, em umaroda rufante, depois, no bramir de um trem a vapor. Escutamos oestalar das rodas, o ritmo uniforme, o interminável e galopante es-trondo” (Ibid). Pode-se identificar nesta ironia uma crítica à músicaprogramática, na qual o texto passa a determinar o conteúdo damúsica, de modo que sem o programa indicado pelo título a músicadeixa de ser compreensível, produzindo as mais disparatadas e es-

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
55cadernos Nietzsche 16, 2004 |
tranhas impressões. Nietzsche sugere, desse modo, que o estabele-cimento de uma relação necessária entre texto e música, como oelaborado por Wagner em sua concepção da obra de arte total, temcomo conseqüência a perda da autonomia do elemento musical naópera.
Este tema não apenas foi desenvolvido por Hanslick, em Dobelo musical, como constitui um aspecto central de sua argumenta-ção. O autor defende o princípio de autonomia da música, enfati-zando a especificidade do elemento musical em relação à naturezaconceitual do texto. Hanslick observa que um mesmo trecho musi-cal pode ser combinado a diferentes textos, modificando os senti-mentos e interpretações despertadas no ouvinte. Isto demonstra,como veremos adiante, a independência do elemento musical emrelação ao textual, assim como sugere que o texto, na ópera, deter-mina conceitualmente o conteúdo da música, a qual, separada dotexto, não possui conteúdo conceitual, mas puramente musical. Umdos aspectos da crítica de Hanslick à ópera wagneriana dirige-sejustamente à subordinação da música ao elemento dramático. Defato, na época da terceira edição de Do belo musical, em 1865,Wagner tinha como princípio estético a concepção de obra de artetotal, na qual a música era compreendida como um meio para ex-pressão dramática. Hanslick critica, em diversas passagens, esteprincípio wagneriano, a partir do qual a música perde não apenassua beleza própria, mas seu significado, só podendo ser compreen-dida em relação ao texto.
Há, desse modo, um predomínio das concepções da estéticamusical clássica nestas primeiras reflexões de Nietzsche, expressassobretudo na prioridade da música absoluta e na atitude crítica emrelação à música programática. Mas é justamente esta prioridadeda música absoluta que, como veremos, irá unir Nietzsche e Wagnerna época de elaboração de O Nascimento da Tragédia.

Hartmann Cavalcanti, A.
56 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Em novembro de 1868, acontece o primeiro encontro entreNietzsche e Wagner, iniciando um período de intensa amizade ediálogo entre o jovem filólogo e o conhecido compositor, dos quaisse encontram sinais em Beethoven, publicado por Wagner em 1870,e em O Nascimento da Tragédia, publicado no final do ano seguin-te. Um aspecto importante a ser ressaltado é a conversão de Wagner,em 1870, à filosofia de Schopenhauer e a mudança, daí decorren-te, que ocorre em sua concepção de arte total. De fato, Schopenhauercoloca a música no centro de sua reflexão sobre a arte. Ele estabe-lece não apenas a primazia da música em relação às outras formasde manifestação artística, como considera a música o mais claro ecompleto comentário de um acontecimento, excedendo em clarezaa própria expressão poética, dado que a música, diferente da poe-sia, é um modo imediato de expressão. A publicação de Beethoven,em 1870, é expressão desta conversão, na qual Wagner revê emodifica radicalmente a sua concepção do drama como arte total,enfatizando a primazia da música e seu papel de revelar a essênciae o em-si da ação dramática6.
Em 1871, ano em que Nietzsche dedica-se intensamente à ela-boração de sua primeira obra, encontram-se sinais de releitura doensaio Do belo musical de E. Hanslick. Em uma carta de abril de71 ao editor Engelmann7, ao qual envia uma primeira versão de ONascimento da Tragédia, intitulada “Música e Tragédia”, Nietzschedescreve a reflexão estética sobre a tragédia grega desenvolvida emsua obra, enfatizando a importância em relacionar a tragédia com o“estranho enigma de nosso presente”, Richard Wagner. O filósofopretende, além disso, abordar questões centrais da estética da épo-ca, particularmente da estética wagneriana, a partir do que “Hanslicke outros” disseram sobre ela.
Entre as anotações elaboradas no início de 71, no período emque Nietzsche envia a carta a Engelmann, encontram-se diversosfragmentos nos quais o filósofo desenvolve a proposta de discutir o

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
57cadernos Nietzsche 16, 2004 |
fenômeno Wagner em sua relação com a polêmica estética da épo-ca8. Além destas notas póstumas, Nietzsche escreveu em seu exem-plar de Do belo musical, existente atualmente em sua bibliotecapóstuma, em Weimar, algumas breves, mas significativas observa-ções nas margens do texto. Parte das observações críticas foi escri-ta no primeiro capítulo, intitulado “A estética do sentimento”, en-quanto as demais se concentram no penúltimo capítulo da obra,intitulado “As relações da música com natureza”, no qual Hanslickdiscute a relação da arte com a natureza, conferindo à música umarelação com a natureza essencialmente distinta das artes plásticas eda poesia. É possível que as observações manuscritas tenham sidoum primeiro esboço do projeto mencionado pelo filósofo a Engel-mann, de trazer à discussão as principais questões estéticas da épo-ca, abordando tanto a estética wagneriana quanto a de seus oposi-tores, dado que são, em sua totalidade, extremamente críticas àsteses de Hanslick. É como se Nietzsche reunisse elementos, nestasobservações, para a elaboração desta abordagem crítica. TambémOtto Jahn, como vimos, um crítico da ópera wagneriana, constituiuum alvo da crítica de Nietzsche. Entretanto, diferente de Hanslick,que não é mencionado em O Nascimento da Tragédia, a reflexãocrítica sobre Jahn desenvolvida nas notas póstumas foi incluída porNietzsche na seção 19 de sua primeira obra.
Como mostra a versão final de O Nascimento da Tragédia,Nietzsche abandona, no que diz respeito a Hanslick, o projeto men-cionado a Engelmann, desenvolvendo, antes, uma veemente críticaàs concepções da estética de sua época em relação à ópera, particu-larmente da subordinação da música ao texto. Se de fato o filósoforeleu Hanslick com o propósito de elaborar uma reflexão crítica,ele parece ter encontrado nesta obra um rico e abundante material,particularmente em relação à crítica da ópera e à concepção damúsica como arte autônoma. A favor desta hipótese falam duas no-tas, de tom neutro, ambas do início de 1871, na qual Nietzsche

Hartmann Cavalcanti, A.
58 | cadernos Nietzsche 16, 2004
refere-se à distinção entre forma e conteúdo na música e à concep-ção de arabesco, desenvolvida pelo crítico vienense para caracteri-zar a natureza singular das formas musicais9. Refere-se, ainda, àdiscussão sobre a representação do sentimento na música. Estasquestões foram desenvolvidas por Hanslick nos capítulos 3, 5 e 7,os quais, somados aos comentados por Nietzsche nas margens deseu exemplar, correspondem à leitura ou ao conhecimento quaseintegral das teses do livro. Estas notas permitem estabelecer umarelação produtiva entre a reflexão de Nietzsche sobre a estética mu-sical e algumas das concepções de Hanslick, entre elas a concepçãoda primazia da música em relação ao texto. Como bem observouKropfinger, é curioso o fato de Nietzsche, nas notas em questão,referir-se de modo expressamente crítico a Otto Jahn, como o farátambém na seção 19 de O Nascimento da Tragédia, e em relação aHanslick se expressar de modo neutro, como em um comentário10.
Estas notas póstumas indicam o duplo aspecto da leitura feitapor Nietzsche em 71, constituída tanto por aspectos críticos, quantopor comentários que expressam seu interesse pela estética deHanslick. A hipótese desenvolvida, a seguir, é que Nietzsche esta-belece, no fragmento VII, 12[1], elaborado na época da redaçãofinal de sua primeira obra, um singular diálogo com a estética mu-sical de Hanslick. Embora não haja neste texto nenhuma referênciaa Hanslick, ou a sua obra, a temática nele desenvolvida, particular-mente a relação entre arte e natureza e a crítica à estética do senti-mento, está estreitamente ligada às teses desenvolvidas em Do belomusical. O estudo deste texto, articulado às notas póstumas, tornapossível desenvolver, como veremos, uma reconstituição destes doisaspectos, crítico e produtivo, da leitura feita por Nietzsche em 71.O duplo aspecto desta leitura está ligado à singularidade das con-cepções estéticas de Hanslick. De um lado, Nietzsche encontra emHanslick um paradigma da estética que pretende criticar, dado queeste concebe a música dentro da categoria do belo, como uma ex-

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
59cadernos Nietzsche 16, 2004 |
periência de contemplação estética, situando-se, portanto, no pólooposto das concepções de Nietzsche, o qual compreende a músicaa partir do dionisíaco. De outro, Hanslick é um radical defensor damúsica absoluta, assim como crítico da subordinação da música aoelemento dramático, reunindo em sua polêmica argumentos e inú-meras citações, tanto de partidários quanto de críticos da músicaabsoluta, que podem ter auxiliado Nietzsche na elaboração de suaprópria discussão com a estética de sua época11. Deve-se mencio-nar, ainda, que Hanslick formula o problema da relação entre mú-sica e texto como um problema de forma e conteúdo, o que implicauma discussão sobre as esferas de representação, questões de altointeresse para Nietzsche no contexto de elaboração de O Nascimen-to da Tragédia.
A leitura de Hanslick insere-se, portanto, em um campo com-plexo de relações. Pretendo reconstituir a leitura de Nietzsche apartir de uma articulação entre as observações manuscritas e os frag-mentos póstumos, assim como discutir os desdobramentos que estaleitura teve no fragmento VII, 12[1]. Esta leitura relaciona-se a estetexto póstumo, como observado, de uma perspectiva crítica e pro-dutiva. De um lado, o filósofo encontra em Do belo musical ummodelo de oposição, ou seja, um modelo em confronto com o qualdesenvolve parte de suas teses, sobretudo a da relação entre arte enatureza. De outro, a crítica à estética do sentimento e a relaçãoentre música e texto funcionam como uma confirmação e estímuloao desenvolvimento de suas próprias teses.
1
No capítulo “As relações da música com a natureza”, Hanslickanalisa a relação da música e das demais artes com a natureza. Oautor ressalta a relevância do exame desta temática para a estética

Hartmann Cavalcanti, A.
60 | cadernos Nietzsche 16, 2004
da música, dado que a esta questão estão ligados os mais polêmicosdebates sobre a arte, particularmente a questão da natureza e con-teúdo da arte musical. Hanslick defende a tese de que a música,diferentemente das demais artes, não possui um modelo na nature-za. Enquanto a poesia, a pintura e a escultura encontram uma fonteinesgotável de matérias na natureza, a música recebe desta somen-te o material para a preparação dos sons, pois a harmonia e a melo-dia, fatores que determinam a arte musical, não se encontram nanatureza, são, antes, produto do espírito humano. Somente um ele-mento musical pertence à natureza e caracteriza muitas de suas so-noridades: o ritmo. Segundo Hanslick, o ritmo constitui o único ele-mento sonoro que nasce e se constitui a partir da natureza.
O autor enfatiza que o sistema musical não deve ser compreen-dido como uma invenção arbitrária e convencional, como algo jácriado (ein Erschaffenes), mas como algo que está em permanenteformação (ein Gewordenes)12. Para esclarecer esta concepção,Hanslick faz, a partir de Jacob Grimm, uma analogia entre a lin-guagem e a música. A poesia e a música são, segundo Grimm, as-sim como a linguagem, um produto humano. Ambas são um produtoartificial, pois não se encontram na natureza e devem ser apren-didas. Tanto a linguagem como a música foram formadas pelas na-ções segundo seu caráter, assim como foram continuamente modi-ficadas e aperfeiçoadas. Hanslick procura ressaltar o caráter históricoda arte musical, suas transformações e sua permanente evolução aolongo da história.
Não existe, portanto, segundo o autor, um sistema musical nanatureza. Além do som, que proporciona à música sua matéria, há,entretanto, um outro significado para “matéria”, o qual nos levapara uma importante questão. Trata-se do objeto, do conteúdo re-presentado pela música. “De onde o compositor retira esta maté-ria?” (Do belo musical, p.144). Neste ponto reside a diferença cen-tral das concepções estéticas de Hanslick e Nietzsche.

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
61cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Hanslick argumenta que, diferentemente da música, o belo na-tural desempenha um papel decisivo nas demais artes, a saber, nasartes plásticas, na escultura e na poesia. A natureza oferece ao pin-tor ou ao escultor o modelo segundo o qual ele cria, seja para imitá-lo ou transformá-lo. Do mesmo modo, o poeta cria segundo ummodelo que é despertado em sua imaginação a partir do presenteou da tradição. O vasto campo das ações, sentimentos e experiên-cias humanas, cujo modelo ele encontra na natureza, proporcionaao poeta uma fonte inesgotável para sua criação.
A concepção de Hanslick é composta por dois pontos princi-pais. Primeiramente, o pintor ou o arquiteto nada podem criar, emsentido estrito, pois tudo o que criam deve ter sido, antes, visto eobservado atentamente. Em segundo lugar, o criar do pintor ou dopoeta é um contínuo “imitar desenhando” (Nachzeichnen), “imitarformando” (Nachformen). Aqui aparece a diferença central em re-lação à arte musical: um tal modelo não existe para a música, pois“imitar musicando alguma coisa (Nachmusizieren) não existe nanatureza” (Do belo musical, p. 146). Mesmo para o canto popularnão há modelo na natureza; este canto corresponde à primeira eta-pa da arte musical, constituindo, portanto, um produto humano.Enquanto as demais artes expressam um conteúdo, correspondenteao modelo externo que encontram na natureza, a música não repe-te nenhum objeto conhecido, não expressa por isso nenhum con-teúdo ou objeto. Segundo Hanslick, “o compositor não pode trans-formar nada; ele deve criar tudo de novo” (Do belo musical, p. 146).E a matéria que ele dispõe para sua criação consiste unicamenteem sons e relações sonoras.
No parágrafo seguinte, Hanslick faz uma breve crítica ao prin-cípio aristotélico de imitação e o define como “princípio de imita-ção da natureza pela arte”. Refutando este princípio, o autor afirmaque a arte não deve imitar servilmente a natureza, mas transformá-la (Do belo musical, p. 146). Este algo transformado pela arte é

Hartmann Cavalcanti, A.
62 | cadernos Nietzsche 16, 2004
justamente o modelo oferecido pela natureza, o belo natural. Nesteparágrafo concentra-se a maior parte das observações manuscritasde Nietzsche. Ao lado da afirmação: “Para a música, não existe umbelo da natureza”, o filósofo coloca um ponto de interrogação queindica o caráter problemático da concepção de Hanslick. Ao ladoda observação do crítico musical sobre o princípio aristotélico,Nietzsche escreve: “homem medíocre!” (kleiner Mann!). Enfim, ofilósofo comenta a concepção de Hanslick sobre o papel transfor-mador da arte em relação a seu modelo, com as palavras: “antes,imitar a natureza como ela cria. Schlegel. Estét.” (“vielmehr: dieNatur nachahmen wie sie schafft. v. Schlegel. Ästh.”)13.
Nietzsche faz, neste parágrafo, uma referência essencial às “Li-ções sobre bela literatura e arte”14, de August Wilhelm Schlegel,onde esta temática é tratada. Esta indicação permite não apenascompreender a interpretação que Nietzsche faz de Hanslick, mastambém esclarecer como o filósofo se posicionou nesta polêmicaclássica da estética, o da relação entre a arte e a natureza. A.W.Schlegel, em suas “Lições”, observou que os modernos haviam in-terpretado o princípio aristotélico de imitação de modo muito dife-rente de seu autor, o que provocou os maiores mal-entendidos econtradições. No princípio aristotélico, segundo o qual as belas ar-tes são imitativas, é indicada a importância do elemento imitativonas artes, não somente da poesia e da pintura, mas também damúsica e da dança. Na interpretação dos teóricos modernos, esteprincípio foi de tal forma modificado que passou a significar que asbelas artes devem imitar a natureza. Problemático nesta modifica-ção do princípio é, segundo Schlegel, a indeterminação associada àconcepção de natureza, pois se passa a defini-la a partir de um con-ceito puramente negativo, a saber, como algo existente sem a inter-venção humana. A este conceito de natureza acrescenta-se um con-ceito passivo de imitação, como se a arte nada fosse senão um merocopiar e repetir. Os elementos da criação artística devem nascer e

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
63cadernos Nietzsche 16, 2004 |
ser concebidos segundo uma realidade previamente existente.Schlegel observa que neste conceito de natureza não é abarcada “atotalidade das coisas” (die Gesamtheit der Dinge), mas objetos de-terminados do mundo exterior (KL, p.90). O principal aspecto danatureza perdido neste conceito é justamente “o seu devir eterno,sua universal força criadora”, que não pode ser suprimido e quenão desaparece em nenhum produto individual. Schlegel contrapõea este conceito negativo uma concepção produtiva, criadora de natu-reza15, a partir da qual a expressão imitação, assim como o princípio– “a arte deve imitar a natureza” – adquire a sua mais nobre signi-ficação. A arte deve criar autonomamente como a natureza, a partirde si, como “uma transformação do imitado segundo leis de nossoespírito, como uma imaginação sem modelo externo” (KL, p. 43).
As observações manuscritas de Nietzsche ganham clareza apartir desta reflexão. Ao lado da afirmação de Hanslick de que aarte não deve imitar, mas transformar a natureza, o filósofo escre-ve: “antes imitar a natureza como ela cria”. A arte não deve imitarou transformar a natureza, mas criar com autonomia como a natu-reza, enquanto expressão de sua força própria e criadora. A refle-xão de Schlegel permite, desse modo, reconstituir o diálogo deNietzsche com a estética de Hanslick. Primeiro, o filósofo refere-se,através da menção a Schlegel, à interpretação tradicional do princí-pio aristotélico, a fim de indicar a ligação de Hanslick com esta in-terpretação e, por conseguinte, com uma concepção problemáticade natureza. Como vimos, Hanslick descreve o princípio aristotélicocomo um princípio de imitação da natureza, o que o leva a contra-por esta noção de imitação à concepção de que a arte transformanatureza. Para Nietzsche, entretanto, trata-se de enfatizar uma con-cepção de natureza inteiramente diferente da apresentada porHanslick, a saber, não da natureza como modelo externo à arte,mas como modelo artístico.

Hartmann Cavalcanti, A.
64 | cadernos Nietzsche 16, 2004
As observações manuscritas de Nietzsche permitem mostrar,desse modo, como a concepção da relação da arte com a natureza éconstruída a partir de um diálogo tanto com a estética romântica16,quanto com a estética de seu tempo. A seguir, pretendo mostrar, nofragmento VII, 12[1], a continuidade e o desdobramento deste diá-logo na própria obra de Nietzsche. O filósofo interpreta a gênese dacanção popular a partir de uma análise da relação da arte, particu-larmente da poesia e da música, com a natureza como modelo.
Uma das principais questões analisadas no ensaio VII, 12[1] éa da gênese e natureza da união entre música e imagem, como cha-ve de compreensão tanto da canção popular, quanto da ópera e damúsica instrumental moderna. O filósofo observa que muito antesde surgir a música puramente instrumental ocorreu esta união en-tre a música e a imagem, a qual caracteriza o desenvolvimento daarte grega desde a canção popular até a formação da poesia lírica,do ditirambo e, posteriormente, da tragédia. Nietzsche retoma, aqui,o tema da relação do artista com a natureza, desenvolvido na se-gunda e sexta seções de sua primeira obra. Na segunda seção deO Nascimento da Tragédia, o filósofo caracteriza o apolíneo e dioni-síaco como duas diferentes forças artísticas que brotam da nature-za, manifestando-se respectivamente no mundo de imagens do sonhoe na embriaguez, como experiência de dissolução da individuação.A relação de imitação se dá justamente em relação a estas disposi-ções artísticas da natureza, as quais são compreendidas como ar-quétipo, modelo originário (Urbild) do artista. De modo semelhan-te, no fragmento VII, 12[1], a natureza, definida pelo filósofo comouma natureza “artisticamente pré-figurativa”17, é o modelo de uniãoentre música e imagem. Nietzsche parece enfatizar, a partir destacaracterização da natureza, a relação entre o elemento não-figurati-vo e figurativo da criação, correspondentes às duas pulsões artísti-cas do mundo grego, analisadas em sua primeira obra, as pulsõesdionisíaca e apolínea. Apolo simboliza as artes da imagem, enquan-

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
65cadernos Nietzsche 16, 2004 |
to o elemento artístico de Dioniso é a música. A canção popular e alírica e, sobretudo, a tragédia, simbolizam a união entre o elementoapolíneo e dionisíaco, a partir do qual a música, ou seja, o elemen-to não-figurativo engendra a imagem e a forma apolínea. Os doiselementos da lírica, a música e a poesia, possuem um modelo artis-ticamente ativo na natureza, o da pulsão apolíneo-dionisíaco queproduz formas e figuras. Nietzsche define a natureza como “artisti-camente pré-figurativa” (“künstlerische vorbildliche Natur”) tantopara ressaltar o caráter ativamente criador deste modelo, quantopara indicar que o estado característico da criação é um estado pré-figurativo, que tende à produção de formas e imagens. O lírico, quecria segundo a natureza artística, não imita as formas ou figuras deseu modelo, mas cria como a natureza, engendrando de si figuras eimagens. O filósofo retoma, de modo significativo, a descrição darelação da arte com a natureza como uma relação de imitação, as-sim como articula a concepção de natureza como modelo artístico àconcepção, central em O Nascimento da Tragédia, da arte apolíneae dionisíaca.
Neste parágrafo, Nietzsche tratou do mesmo tema, o da relaçãoda arte com a natureza, abordado em sua leitura do ensaio deHanslick. Enquanto para o crítico musical a arte não deve imitar,mas transformar a natureza, trata-se para Nietzsche de explicitaruma concepção de natureza inteiramente diferente. A arte deveimitar a natureza como modelo artístico, estabelecendo com estauma relação ativa de criação, correspondente à união entre aspulsões apolínea e dionisíaca que se manifesta no poeta lírico e dra-mático. Semelhante a Schlegel, o filósofo compreende a naturezacomo criação e devir, enquanto ao artista corresponde uma atividadecriadora sem modelo externo. O filósofo parece, neste parágrafo,ter empregado a concepção da natureza como modelo criador, ela-borada por Schlegel, no contexto de sua própria reflexão sobre arelação entre a arte dionisíaca e apolínea.

Hartmann Cavalcanti, A.
66 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Procurei mostrar, até aqui, como Nietzsche estabelece, a partirde Schlegel, uma leitura crítica da estética musical de Hanslick. Aseguir, será abordado o lado positivo desta leitura, elaborado pelofilósofo nos fragmentos póstumos de 1871, particularmente no frag-mento VII, 12[1]. Primeiramente, analiso a crítica à estética do sen-timento, desenvolvida tanto por Hanslick, em seu ensaio, quantopor Nietzsche no fragmento VII, 12[1], a fim de expor aspectosimportantes da recepção do filósofo da estética do crítico musicalvienense.
2
Como vimos, Hanslick considera a relação entre arte e naturezacomo a mais polêmica questão da estética da época, pois está es-sencialmente ligada à questão do conteúdo da arte, particularmenteda música. O principal desdobramento de sua concepção, segundoa qual a música não possui nenhum modelo na natureza, consisteno fato de que à arte musical também não corresponde nenhumconteúdo conceitual. Para o autor, a música é constituída por se-qüências sonoras criadas pelo compositor de acordo com relações eleis especificamente musicais, independentes de quaisquer repre-sentações. A beleza da arte musical, formada por elementos sono-ros, é específica e independente: “Com isto, entendemos um beloque, sem depender e sem necessitar de um conteúdo exterior, con-siste unicamente nos sons e em suas ligações artísticas” (Do belomusical, p.61). A partir de tais princípios, o autor elabora uma crí-tica à estética de sua época, particularmente aquela denominadapor ele de “estética do sentimento”. Segundo esta estética, a parti-cularidade da música consiste em despertar e expressar sentimen-tos. A arte musical seria caracterizada, de acordo com esta concep-ção, como representação de um determinado sentimento ou afeto.

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
67cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Hanslick procura mostrar como a relação da música com nossossentimentos é distinta da questão de sua fundamentação estética, aqual implica não a análise da música como expressão do afeto, masda especificidade da beleza e das leis internas da arte musical.
O autor estabelece, primeiramente, uma distinção entre sensa-ção e sentimento. A sensação é a percepção (perzipiere) de umadeterminada qualidade sensível, uma cor, um som, ao passo que osentimento é o tornar-se consciente de um estado de espírito, deum bem-estar ou mal-estar. A sensação, caracterizada como o sim-ples perceber a partir dos sentidos, é a condição do prazer estéticoe constitui a base do sentimento. Enquanto faculdade ou disposiçãode receber impressões, a sensação possui um caráter indeterminadoe genérico, ela representa o entrelaçamento da arte com o sensível,a partir do qual se desenvolve o prazer estético. Para que seja pos-sível um “sentir” (fühlen), observa o autor, é necessário que haja,antes, um “ouvir” (hören)18. O sentimento, por sua vez, pressupõeuma determinação e diferenciação de nossas emoções inexistentena sensação. Os sentimentos de alegria, esperança ou melancoliasão, segundo Hanslick, inseparáveis de representações e conceitosque determinam seu conteúdo. Em sua crítica da estética do senti-mento, o autor questiona a habitual oposição estabelecida entre odomínio do sentimento e aquele do pensamento racional. O que fazde um sentimento um sentimento determinado como, por exemplo,esperança ou amor, não é de modo algum sua intensidade, poisesta varia em sentimentos iguais ou diferentes: “Somente com o apoiode algumas representações e juízos, no momento de uma forte co-moção talvez sejam inconscientes, é que nosso estado de espíritopode concentrar-se exatamente naquele determinado sentimento”(Do belo musical, p.33). Hanslick ressalta que não seria possívelreconhecer o sentimento sem estas representações e conceitos, apartir da quais seu sentido é determinado. Sem este “aparato depensamento”, o sentimento torna-se uma emoção indeterminada,

Hartmann Cavalcanti, A.
68 | cadernos Nietzsche 16, 2004
uma sensação de bem-estar ou mal-estar vaga e genérica. Dessemodo, diferentemente da indeterminação da sensação, que tornapossível a percepção das qualidades sensíveis, o sentimento estáestreitamente ligado a representações e conceitos.
O que torna um sentimento determinado é, como vimos, seunúcleo conceitual. A música, ao contrário, não é composta nem deconceitos, nem de sentimentos, mas de relações e construções so-noras. Hanslick parte do exemplo de uma melodia puramente ins-trumental, de forte efeito dramático. Nela não encontraríamos ne-nhum sentimento determinado, como raiva ou fúria, mas tão somenteum movimento rápido e apaixonado. Se acrescentarmos, porém, aesta melodia palavras de um amor emocionado, a representaçãodeste sentimento poderia, muito provavelmente, ser também inter-pretado por ela. O autor cita, como exemplo, uma ária de Orfeuque emocionou milhares de pessoas em sua época, cujo texto era:“J’ai perdu mon Eurydice, Rien n’egale mon malheur” (Do belo mu-sical, p. 45). Boyé, um contemporâneo de Gluck, observou que estamelodia poderia se adaptar, igualmente, às palavras de sentido opos-to: “J’ai trouvé mon Eurydice, Rien n’egale mon bonheur”. A músi-ca, em suas puras relações, representa, somente, um movimentoapaixonado, o qual pode ser associado tanto a estados de tristeza,quanto de alegria. Independente do texto, que determina na óperao conteúdo, não é possível associar com precisão sentimentos àmúsica. O autor compara a relação entre texto e melodia na ópera asilhuetas, “cujo original, na maior parte das vezes, só reconhece-mos quando nos dizem de que se trata” (Do belo musical, p. 47).
Também a música instrumental é capaz de despertar umamultiplicidade de associações e sentimentos, sem que seja possívelestabelecer uma relação de correspondência entre estas imagens eestados afetivos e o conteúdo sonoro. O autor enfatiza, desse modo,o caráter indeterminado do elemento musical, assim como a rela-ção de exterioridade entre o sentimento e a música. A diversidade

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
69cadernos Nietzsche 16, 2004 |
de interpretações possíveis de uma peça musical indica o carátersimbólico e não necessário entre os estados afetivos e a música. Ossentimentos que atribuímos à melodia resultam de uma dimensãosimbólica subjetiva, independente do conteúdo musical: “Ao ver-mos, no amarelo, ciúme, no sol maior, serenidade, no cipreste, tris-teza, essas interpretações tem uma relação fisiológico-psicológicacom determinados caracteres desses sentimentos; mas só a tem, demodo preciso, nossa interpretação, e não a cor, o som, por si mes-mos” (Do belo musical, p. 39). Hanslick enfatiza a natureza simbó-lica desta produção de associações a partir da música: “Demos aela o nome de simbólica, pois não representa de imediato o conteú-do, permanecendo uma forma essencialmente diversa dele” (Do belomusical, p. 39)19. A atribuição de sentimentos à música está relacio-nada à nossa interpretação, assim como a elementos psicológicos efisiológicos que determinam nossos afetos, não tendo ligação com acor ou com o som em si mesmos. Os termos “expressar”, “repre-sentar”, “descrever” são impróprios para a abordagem da estéticamusical, pois supõem que algo seja representado e adequado a seuconteúdo, quando é próprio à música um conteúdo sonoro irredutívelao conteúdo conceitual das representações e sentimentos.
Hanslick defende, desse modo, uma concepção particular eautônoma da beleza musical, composta de puras relações musicais.Os sons não possuem nenhum fim ou conteúdo independente daspróprias relações sonoras: “O conteúdo da música são formas sono-ras em movimento” (Do belo musical, p. 62). Os sentimentos possu-em, segundo esta estética formalista, sobretudo significado simbóli-co; eles permitem, através de analogias, descrever e apreender emimagens a música. A especificidade do símbolo consiste não na co-incidência e adequação em relação a um conteúdo, como vimos,mas na produção de semelhanças e analogias.
Nietzsche propõe, no fragmento VII, 12[1], repensar e tratarcom maior profundidade algumas questões polêmicas da estética

Hartmann Cavalcanti, A.
70 | cadernos Nietzsche 16, 2004
da época, a saber, as concepções que colocam a poesia e o senti-mento como fonte e princípio da composição musical. Estas duasproposições estéticas, tratadas por Nietzsche neste fragmento,correspondem àquelas denominadas por Hanslick de “estética dosentimento”. O filósofo procura colocar em questão a concepçãosegundo a qual as imagens poéticas ou o sentimento engendram acomposição musical, como se a melodia fosse apenas um meio deilustrar a poesia ou expressar o sentimento. Em sua refutação daprimeira concepção, o filósofo enfatiza a impossibilidade de umaimagem, ou idéia poética, constituída por uma forma determinada,engendrar o conteúdo indeterminado e não-conceitual da arte mu-sical. Em seguida, é refutada a concepção segundo a qual a músicanasce do sentimento ou de um estado afetivo. Nietzsche faz aquiuma diferença entre o domínio da vontade, estreitamente ligado aodos sentimentos, e aquele da arte. Enquanto o domínio da arte écaracterizado por um estado liberto da vontade individual, no qualo artista alcança um estado de contemplação desinteressada, o sen-timento encontra-se perpassado por representações, expressandouma vontade individual e subjetiva, que pertence a um domínio não-artístico. Um sentimento de amor ou esperança, que expressa umafeto determinado, não pode criar a partir de si uma melodia, poisum conteúdo determinado não pode engendrar um universal e inde-terminado. Para esclarecer a relação entre música e vontade, o filó-sofo observa que “a vontade é objeto da música, mas não sua ori-gem” (VII, 12[1]). A vontade, como domínio não-artístico, não podeengendrar a música, mas pode servir ao poeta como símbolo, a par-tir do qual ele traduz em imagens o conteúdo próprio da música:“Estes sentimentos poderiam servir para simbolizar a música: comoo faz o lírico, que traduz para si aquele domínio da ‘Vontade’ (...)no mundo alegórico do sentimento”(VII, 12[1]). O lírico interpretapara si o conteúdo indeterminado da música no mundo alegóricodas imagens ou dos sentimentos. Para Nietzsche, a música é o ele-

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
71cadernos Nietzsche 16, 2004 |
mento primeiro, sem imagem ou conceito, a partir do qual são en-gendrados imagens e sentimentos como alegorias ou símbolos deuma melodia.
Procuro, a seguir, reconstituir os principais aspectos da leiturade Nietzsche da estética de Hanslick. Para os dois autores, trata-sede rever a questão da estética moderna, segundo a qual o objetivoda música seria representar determinados sentimentos ou imagens.Ambos desenvolvem um duplo argumento para refutar a concep-ção de que o sentimento não pode ser entendido como fonte e ori-gem da música. Primeiramente, o conteúdo conceitualmente deter-minado do sentimento diferencia-se, como as imagens poéticas, doconteúdo geral e indeterminado da música. Em segundo lugar, es-tabelece-se uma contraposição entre a dimensão subjetiva do senti-mento, pertencente a um domínio não-artístico, e o compor artísticodo músico. Neste ponto, é digno de nota que Nietzsche utilize, emseu texto, não somente a mesma argumentação, mas também umaseqüência de substantivos semelhante àquela empregada porHanslick. Enquanto este afirma: “O que faz com que um determi-nado sentimento se transforme num sentimento determinado? Emnostalgia, esperança, amor? O sentimento da esperança é inseparávelda representação de um estado futuro mais feliz, que se comparacom o estado presente. (...) O amor não pode ser concebido sem arepresentação de uma pessoa amada, sem o desejo e o anseio de setornar feliz, de glorificar e possuir esse objeto” (Do belo musical,pp.33-34). Nietzsche observa: “Aquilo que denominamos sentimen-tos já está perpassado e saturado com representações conscientes einconscientes e, por isso, não é mais diretamente objeto da música:quanto menos, portanto, poderiam reproduzi-la a partir de si mes-mos. Tomemos, a título de exemplos, os sentimentos de amor, te-mor e esperança: num caminho direto, a música nada mais tem aver com eles, tão repleto já se encontra cada um desses sentimentoscom representações” (VII, 12[1]) Aqui, trata-se, tanto para Hanslick

Hartmann Cavalcanti, A.
72 | cadernos Nietzsche 16, 2004
quanto para Nietzsche, de estabelecer uma diferenciação entre odomínio indeterminado da música e o domínio determinado, per-passado por representações do sentimento. Que Nietzsche tenhacomo base, nesta passagem, a leitura de Hanslick, parece corrobo-rado por um fragmento elaborado na mesma época: “A música, a‘arte mais subjetiva’: em que propriamente não é ela arte? Em sua‘subjetividade’, isto é, ela é puramente patológica, quando não éuma pura forma não-patológica. Como forma ela é a (arte) mais pró-xima do arabesco. Este é o ponto de vista de Hanslick. As composi-ções, nas quais predomina a ‘forma que age não-patologicamente’,particularmente Mendelssohn, recebem desse modo um valor clás-sico” (VII, 9 [98]).
Nesta passagem, o filósofo não apenas associa a contraposiçãoentre a dimensão subjetiva do sentimento e o compor artístico domúsico, desenvolvida no fragmento VII, 12[1], à reflexão elabora-da por Hanslick, como utiliza os mesmos termos, particularmenteos termos patológico e não-patológico, empregados pelo autor emseu ensaio. Nietzsche refere-se, nesta nota, aos capítulos 3 e 4 doensaio de Hanslick, nos quais é elaborada uma distinção entre ummodo estético e patológico de recepção da música. O autor procurarefutar as teorias que atribuem valor artístico ao efeito da músicasobre os sentimentos, estabelecendo uma oposição entre uma re-cepção estética, puramente contemplativa da música, e uma recep-ção patológica, a qual remete para uma experiência subjetiva damúsica, mediada pelos afetos, mencionada por Nietzsche no frag-mento. Uma distinção semelhante é feita pelo filósofo no fragmentoVII, 12[1], quando diferencia duas formas de recepção da música,aquela subjetiva, mediada pelos sentimentos, e aquela liberta dosafetos, a partir da qual o auditor-artista experimenta contemplati-vamente a música: “Quem extrai sentimentos como efeitos da músi-ca neles tem um reino simbólico intermediário, que pode lhes darum antegosto da música, contudo o exclui, ao mesmo tempo, de

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
73cadernos Nietzsche 16, 2004 |
seu mais íntimo santuário” (VII, 12[1]). Enquanto o primeiro sóexperimenta um antegosto da música, o auditor-artista alcança umavivência mais completa da melodia. Tanto Hanslick, quantoNietzsche procuram opor uma experiência artística, que possibilitao acesso à música como arte autêntica, a uma experiência patológi-ca, mediada pelo sentimento. Nesta passagem encontram-se clarosindícios do interesse de Nietzsche na diferenciação entre uma ex-periência artística e patológica da música, o qual aponta para umadimensão produtiva de sua recepção da estética de Hanslick. Dife-rentemente das observações manuscritas, em sua maior parte críti-cas, esta anotação parece ter sido retomada no fragmento VII, 12[1],no qual Nietzsche desenvolve a associação entre o sentimento e asrepresentações, assim como dá continuidade à distinção entre odomínio artístico e afetivo da experiência musical.
O filósofo encontrou, no ensaio de Hanslick, um interessante erico material, que parece ter estimulado sua reflexão estética, parti-cularmente no que diz respeito à concepção de sentimento e à dis-tinção entre uma experiência afetiva e artística da música. Mas quan-do se trata de definir o que se entende por “caráter artístico damúsica”, a estética de Nietzsche revela-se bastante diferente daquelade Hanslick. Leiamos, mais uma vez, o fragmento: “Como formaela é a (arte) mais próxima do arabesco. Este é o ponto de vista deHanslick. As composições, nas quais predomina a ‘forma que agenão-patologicamente’, particularmente Mendelssohn, recebem des-se modo um valor clássico” (VII, 9 [98]).
O filósofo parece interessado nas formas musicais em que pre-valece um efeito não patológico, como o arabesco e as concepçõesde Mendelsohn, que aparecem aqui como exemplos de formas não-patológicas. Nesta passagem mencionada pelo filósofo, Hanslickrefere-se, após descrever o arabesco como uma bela forma semconteúdo afetivo, aos fatores que dão especificidade às composi-ções de Mendelsohn e Spohr : “O que torna bizarra a música de

Hartmann Cavalcanti, A.
74 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Halévy, graciosa a de Auber, o que produz aquele caráter particu-lar em que reconhecemos de súbito Mendelsohn e Spohr, tudo issofaz com que se retorne às determinações puramente musicais, semapelar ao sentimento enigmático” (Do belo musical, p. 70).
A especificidade da música, segundo Nietzsche seu valor clás-sico, a qual está associado seu caráter estético, não se apóia emsentimentos, mas em puras relações musicais. Segundo Hanslick, ocaráter objetivo do processo criador consiste no fato de o composi-tor lidar com relações e determinações puramente musicais, com-postas por leis internas e por uma lógica própria. Isto não significaque o compositor não seja tomado por sentimentos em sua criação,mas sim que estes não constituem o fator criador decisivo. Hanslickobserva, a esse respeito: “Aquilo que é criado pelo compositor sen-timental ou pelo engenhoso, pelo compositor gracioso ou sublime, éantes de tudo e sobretudo música, construção objetiva. Suas obrasvão se diferenciar pelas suas características inconfundíveis e refleti-rão, como imagem total, a individualidade de seus criadores; mastodas elas foram compostas por si mesmas, como beleza autônomae puramente musical” (Do belo musical, p.95). Desse modo, o fatorcriador decisivo em uma composição não são os sentimentos ou asubjetividade do artista, mas o soar interior de uma melodia, a par-tir do qual começa o trabalho de criação e elaboração deste temaem todas as suas relações.
E, para Nietzsche, o que significa uma “forma que age não-patologicamente”? Ela está associada, certamente, a um domínioartístico. O filósofo, como vimos, coloca como condição do proces-so de criação o distanciamento da vontade individual, através doqual o compositor pode expressar a música em sua essência. Damesma forma, os ouvintes que estão desligados dos afetos podemexperimentar de modo mais intenso a música. Somente este estadoliberto dos afetos permite, segundo o filósofo, uma experiência maisprofunda da arte musical, pois torna possível que o conteúdo

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
75cadernos Nietzsche 16, 2004 |
indeterminado, não-conceitual da melodia, relacionado ao domíniomais íntimo de nossa experiência interna, seja vivenciado. O filóso-fo faz, neste contexto, uma importante distinção entre os domíniosdo sentimento e da sensação20. Enquanto o sentimento, perpassadopor representações, está associado a um conteúdo conceitual, assensações são capazes de expressar uma dimensão mais profundada experiência. Em diversas passagens deste fragmento, Nietzschedescreve as sensações de prazer e o desprazer com imagens musi-cais. Estas sensações “acompanham, como um baixo fundamental,todas as demais representações”, a simbólica gestual “podemosconsiderar como um texto estrófico sobre aquela originária melodiada linguagem do prazer e o desprazer” (VII, p.361). As sensaçõescorrespondem a um domínio irredutível da experiência, que só podeser expresso pela música como arte não-conceitual21. A expressão“forma que age não-patologicamente” significa, para Nietzsche, apossibilidade de vivenciar, através da música, um domínio da ex-periência interna inacessível à linguagem. Este tema foi desenvol-vido pelo filósofo em sua crítica da ópera e da exigência, a ela asso-ciada, de compreensão da palavra. O ouvinte que experimenta amúsica como um efeito sobre seus afetos é semelhante àquele queexige compreender as palavras da canção. Como os afetos estãoestreitamente ligados a representações e conceitos, a experiênciada música através do sentimento permanece presa a um domínioconceitual, através do qual se perde a dimensão tonal. A esta expe-riência o filósofo contrapõe um ouvinte que canta sua canção, des-preocupado se a palavra é compreensível a quem não canta junto:“E como o lírico o seu hino, do mesmo modo canta o povo a cançãopopular, para si, por ímpeto interior, indiferente se a palavra écompreensível a quem não canta junto. Pensemos em nossas pró-prias experiências no domínio da arte musical superior: o que com-preendemos do texto de uma missa de Palestrina, de uma cantatade Bach, de um oratório de Handel, se quiçá nós mesmos não can-

Hartmann Cavalcanti, A.
76 | cadernos Nietzsche 16, 2004
tamos juntos? Somente para aquele que canta junto há uma lírica,há música popular: o ouvinte se coloca perante ela como diante deuma música absoluta” (VII, 12[1]).
O cantar junto mostra que a música corresponde a um modo decompreensão essencialmente distinto do entendimento, pois não émediado pelo conteúdo conceitual. A música é a única arte capazde tornar experienciável, através da expressão tonal, aquele domí-nio da experiência interna que não se deixa representar por concei-tos ou palavras.
O significado da experiência artística é, portanto, bastante dife-rente para Hanslick e Nietzsche. Enquanto o primeiro concebe acomposição musical como relação entre sons, assim como compre-ende a recepção estética como pura contemplação do belo musical,para o filósofo a música possibilita, ao auditor artista, o acesso auma dimensão tonal desligada do domínio conceitual-figurativo.
É importante fazer, ainda, uma observação sobre o modo deler e de interpretar de Nietzsche. Quando o filósofo utiliza a refle-xão de Hanslick sobre a natureza dos sentimentos, através da qualtambém a recepção artística ou não-artística da arte é analisada, eleo faz somente através de uma transposição que consiste em deslo-car conceitos de um determinado campo de significação para ou-tro. Desse modo, o campo de significados dos conceitos emprega-dos por Hanslick é inteiramente modificado. Um exemplo disso é otema, acima discutido, do caráter artístico da música, tratado porHanslick em seu ensaio. Nietzsche inseriu este tema em um outrocontexto, aquele da sensação, a partir do qual o caráter artístico damúsica é associado à vivência de uma dimensão não-conceitual daexperiência. Em Hanslick, diferentemente, a recepção estética damúsica conduz a uma experiência puramente contemplativa, quedesperta o prazer nas belas formas. Esta transformação do sentidoocorre, também, em relação à distinção entre sensação e sentimen-to. Hanslick diferencia a sensação, caracterizada como o perceber

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
77cadernos Nietzsche 16, 2004 |
de uma determinada qualidade sensível, do sentimento, descritocomo o tornar-se consciente “de um encorajamento ou de um im-pedimento de nosso estado de espírito, de um bem-estar ou mal-estar “ (Do belo musical, p. 17). O autor entende a sensação comoo início e a condição do prazer estético, formando assim a base dosentimento, o qual pressupõe uma complexa relação de estados psi-cológicos e fisiológicos. Nietzsche caracteriza a sensação como umacamada mais profunda de nossa experiência interna, desligada doplano da linguagem e das representações, enquanto os sentimentoscorrespondem a um plano conceitualmente determinado da expe-riência. O filósofo desloca a distinção de Hanslick para um outrocontexto, no qual esta recebe uma significação inteiramente diferen-te. Jörg Salaquarda fez, sobre o modo de interpretar de Nietzsche,uma importante observação: “Nietzsche jamais recebeu, simples-mente, outros pensamentos, mas sempre se apropriou de maneiramuito peculiar daquilo que recebia, na medida em que articulavaeste pensamento a sua reflexão até aquele momento. Se se quer serjusto com os precursores de Nietzsche através da pesquisa históri-ca, deve-se então reconstruir, passo a passo, a partir dos textos eanotações, este processo de assimilação”22.
O interpretar como um processo de assimilação, comoSalaquarda o descreveu, é uma característica central do modo deler de Nietzsche. Como vimos, determinados aspectos, como o cará-ter estético e patológico da arte analisado por Hanslick, são trans-postos por Nietzsche para o campo de sua própria filosofia, onderecebem sentidos e desdobramentos inteiramente distintos.
Foi minha intenção, na elaboração deste trabalho, colocar emfoco a primeira leitura de Nietzsche do ensaio Do belo musical deHanslick, que vem sendo reconhecida e investigada na literaturaespecífica. A partir das observações manuscritas existentes no exem-plar de Nietzsche, e das notas póstumas relacionadas ao ensaio deHanslick, procurei reconstituir a leitura do filósofo, a fim de anali-

Hartmann Cavalcanti, A.
78 | cadernos Nietzsche 16, 2004
sar o desenvolvimento de seu pensamento, assim como o debateestabelecido por Nietzsche com sua época.
Abstract: This article intends to analyze Nietzsche’s reading of the essayOn the Musically Beautiful, by the Viennese musical critic E. Hanslick,elaborated in the period of Nietzsche’s writing of The Birth of Tragedy.Through a contrast between the posthumous writings and fragments of1871 and Hanslick’s essay, it reconstitutes Nietzsche’s reading in orderto analyze the double aspect, critical and productive, of his interpretation.Keywords: art and nature – sentiment – sensation – Nietzsche – Hanslick– A.W. Schlegel.
notas
1 O tema do presente trabalho, a primeira recepção deNietzsche da estética de E. Hanslick, surgiu durante o es-tágio de doutorado que desenvolvi, em Weimar, nos pri-meiros meses de 2001. Ao longo deste trabalho, no qualeu pesquisava as fontes utilizadas pelo filósofo no períodode elaboração de O Nascimento da Tragédia, deparei-mecom o ensaio de Hanslick na biblioteca de Nietzsche emWeimar. O que nele me chamou atenção foram as obser-vações manuscritas, em sua maior parte críticas, feitas pelofilósofo nas margens de seu exemplar. A leitura do ensaiode Hanslick, assim como um exame da literatura secundá-ria, na qual é ressaltado o aspecto crítico da leitura deNietzsche e em poucos casos seu aspecto produtivo, des-pertou meu interesse para a importância deste tema. Asobservações manuscritas feitas pelo filósofo trazem não

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
79cadernos Nietzsche 16, 2004 |
apenas dados novos e essenciais para a compreensão desua leitura da estética de Hanslick, mas oferecem indica-ções de grande importância no que diz respeito a sua re-cepção da estética romântica. Nietzsche faz, em suas ano-tações, uma referência a A.W. Schlegel que permite situara sua leitura de Hanslick em um contexto maior do debateestético, assim como associá-la à reflexão sobre a arte ela-borada na época de redação de O Nascimento da Tragédia.Neste trabalho, procuro reconstituir, a partir das observa-ções manuscritas e dos fragmentos póstumos, a primeiraleitura feita por Nietzsche do ensaio de Hanslick, assimcomo os efeitos desta leitura na elaboração do fragmentoVII, 12[1], particularmente nas noções de arte e natureza,bem como de sensação e sentimento aí desenvolvidas.
Agradeço a Stiftung Weimarer Klassik o apoio financei-ro, sem o qual o desenvolvimento desta pesquisa não teriasido possível. Agradeço a Marie-Luise Haase e a Olaf Plutao imprescindível apoio na decifração das observações ma-nuscritas de Nietzsche, bem como sua atenção e incentivoao longo da elaboração desta pesquisa.
2 Sobre esta primeira recepção de Nietzsche do ensaio deHanslick ver JANZ, C.P “Nietzsche als Überwinder derromantischen Musikästhetik” in: ALBERTZ, J. Kant undNietzsche – Vorspiel einer kuenftigen Weltauslegung? FreieAkademie, 1988 e KROPFINGER, K. “WagnersMusikbegriff und Nietzsches ‘Geist der Musik’” in:Nietzsche-Studien 14 (1985).
3 NIETZSCHE, F. Historisch-kritische Gesamtausgabe. orgs.H.J.Mette/K.Schlechta. Vol. 3, München, 1994, p. 99.
4 HANSLICK, E. Do Belo Musical. Trad. Nicolino SimoneNeto. Editora da Unicamp, 1989.
5 Ver NIETZSCHE, F. Historisch-kritische Gesamtausgabe.hrsg. Von H.J.Mette/K.Schlechta. Vol. 3, op. cit, pp. 207-208.

Hartmann Cavalcanti, A.
80 | cadernos Nietzsche 16, 2004
6 Sobre este tema ver BORCHMEYER, D. e SALAQUARDA,J. Nietzsche und Wagner. Stationen einer epochalenBegegnung. Insel Verlag, 1994, p.1279-80.
7 NIETZSCHE, F. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabein 8 Bänden, org. por. G. Colli u. M. Montinari. Vol. 3,München, 1986, p. 194.
8 Ver, particularmente, os fragmentos 9(33), (36), (37-42),os quais foram escritos como anotações e esboços para“Música e Tragédia” . Nietzsche, F. Sämtliche Werke.Kritische Studienausgabe (KSA), ed. G. Colli/M.Montinari.De Gruyter, 1980, Vol.7.
9 Cf. Fragmentos 9(8) e 9(98) in KSA, Vol. 7.10 Ver sobre isso o comentário de Kropfinger in KROPFIN-
GER, K. “Wagners Musikbegriff und Nietzsches ‘Geist derMusik’” In Nietzsche-Studien 14 (1985), p. 4.
11 Para uma detalhada análise sobre Nietzsche, Hanslick eWagner ver BORCHMEYER, D. Das Theater RichardWagner: Idee-Dichtung-Wirkung. Stuttgart, Reclam, 1982e SCHMIDT, B. Der ethische Aspeckt der Musik. NietzschesGeburt der Tragödie und die Wiener Klassiker Musik.Würzburg, 1991. Particularmente o trabalho de B. Schmidte o já citado artigo de Kropfinger analisam a leitura deNietzsche do ensaio de Hanslick, assim como enfatizamsua importância no primeiro período da obra do filósofo.
12 Ver HANSLICK, E. Do Belo Musical, p.140.13 Estas observações encontram-se, como mencionado, no
exemplar de Nietzsche existente em sua biblioteca emWeimar. HANSLICK, E. Vom Musikalisch-Schoenen: einBeitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst. (Citado comoVMS) 3a edição. Leipzig, 1865.
14 SCHLEGEL, A.W. Die Kunstlehre. Kritische Schriften undBriefe II. Org. E. Lohner. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart,1963, S 42-43. Citado como KL.

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
81cadernos Nietzsche 16, 2004 |
15 Esta crítica ao princípio de imitação e representação naarte, assim como o desenvolvimento de uma concepção darelação do artista com sua obra como uma relação de ex-pressão são aspectos centrais da estética romântica e desua crítica à estética clássica. Ver sobre este tema a obrade TODOROV, T. Teorias do Símbolo. Papirus, 1996, pp.193 – 211 e o artigo de SELIGMANN-SILVA, M. “Alego-ria, hieróglifo e arabesco: Novalis e a poesia como poiesis”in Poesia Sempre. Nr 14, agosto de 2001.
16 Para uma análise da recepção de Nietzsche da primeiraestética romântica ver o artigo de BEHLER, E. “Nietzscheund die Frühromantische Schule” in: Nietzsche-Studien 7,(1978).
17 Utilizei, ao longo do trabalho, a tradução do fragmento VII,12[1] elaborada por GIACOIA JUNIOR, O .Mimeo, s/d.
18 Sobre esta distinção entre sensação e sentimento ver Dobelo musical, pp. 17-19 e, também, p. 64.
19 “Symbolisch nannten wir sie, indem sie den Inhalt keineswegsunmittelbar darstelllt, sondern eine von diesem wesentlichverschiedene Form bleibt”. HANSLICK, E. Vom Musikalish-Schoenen: ein Beitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst.Leipzig: Reclam, 1982, p.54.
20 No momento de fechamento deste artigo tive conhecimen-to do texto, recentemente publicado, de LANDERER eSCHUSTER. “Nietzsches Vorstudien zur Geburt derTragödie in ihrer Beziehung zur Musikästhetik EduardHanslick”, Nietzsche-Studien 31 (2002). O objetivo dosautores foi o de analisar a importância da estética musicalde Hanslick na reflexão elaborada por Nietzsche nos tra-balhos anteriores e preparatórios a O Nascimento da Tra-gédia. Os autores analisam fragmentos póstumos de 1871,particularmente o fragmento VII, 12[1], a fim de mostraros reflexos da estética de Hanslick, sobretudo da noção desentimento, na crítica a Schopenhauer desenvolvida por

Hartmann Cavalcanti, A.
82 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Nietzsche no fragmento VII, 12[1]. Com relação à noçãode sentimento há, sem dúvida, uma convergência entre opresente trabalho e o artigo de Landerer e Schuster. Cabeobservar, entretanto, que os autores não comentam, emsua análise, o conceito de sensação, a partir do qual, comoprocuro mostrar, é possível identificar não apenas a afini-dade, mas a diferença da estética de Nietzsche em relaçãoa de Hanslick.
21 Para uma minuciosa análise da primeira reflexão deNietzsche sobre a música, particularmente sobre a possibi-lidade de uma superação dos limites do conhecimentolinguístico-conceitual através da arte musical ver FIGL, J.Die Dialektik der Gewalt. Patmos Verlag, 1984, especial-mente pp. 153-160.
22 SALAQUARDA, J. Nietzsche und Lange. In Nietzsche-Studien 7 (1978), p. 243.
referências bibliográficas
1. BEHLER, E. Nietzsche und die Frühromantische Schulein Nietzsche-Studien 7, (1978).
2. BORCHMEYER, D. Das Theater Richard Wagner: Idee-Dichtung-Wirkung. Stuttgart: Reclam, 1982
3. BORCHMEYER, D. e SALAQUARDA, J. Nietzsche undWagner. Stationen einer epochalen Begegnung. InselVerlag, 1994.

Nietzsche e a leitura de Do Belo Musical de Eduard Hanslick
83cadernos Nietzsche 16, 2004 |
4. FIGL, J. Die Dialektik der Gewalt. Patmos Verlag, 1984.
5. HANSLICK, E. Do Belo Musical. Trad. Nicolino SimoneNeto. Campinas: Editora da Unicamp, 1989. Ed. ale-mã HANSLICK, E. Vom Musikalisch-Schoenen: einBeitrag zur Revision der Aesthetik der Tonkunst. 3. edi-ção. Leipzig, 1865.
6. JANZ, C.P “Nietzsche als Überwinder der romantischenMusikästhetik” in: ALBERTZ, J. Kant und Nietzsche– Vorspiel einer kuenftigen Weltauslegung? FreieAkademie, 1988
7. KROPFINGER, K. “Wagners Musikbegriff und Nietzsches‘Geist der Musik’” in: Nietzsche-Studien 14 (1985).
8. LANDERER, Chr. e SCHUSTER, M.O. “NietzschesVorstudien zur Geburt der Tragödie in ihrer Beziehungzur Musikästhetik Eduard Hanslick”, Nietzsche-Studien31 (2002).
9. NIETZSCHE, F. Historisch-kritische Gesamtausgabe. orgs.H.J.Mette/K.Schlechta. Vol. 3, München, 1994.
10. _______. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in8 Bänden, org. por. G. Colli u. M. Montinari. Vol. 3,München, 1986.
11. _______. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe(KSA), ed. G. Colli/M.Montinari. Vol.1 e 7. De Gruyter,1980.
12. SELIGMANN-SILVA, M. “Alegoria, hieróglifo earabesco: Novalis e a poesia como poiesis” in PoesiaSempre. Nr 14, agosto de 2001.
13. SCHLEGEL, A.W. Die Kunstlehre. Kritische Schriftenund Briefe II. Org. E. Lohner. W. Kohlhammer Verlag,Stuttgart, 1963.

Hartmann Cavalcanti, A.
84 | cadernos Nietzsche 16, 2004
14. SCHMIDT, B. Der ethische Aspeckt der Musik. NietzschesGeburt der Tragödie und die Wiener Klassiker Musik.Würzburg, 1991.
15. TODOROV, T. Teorias do Simbolo. Papirus, 1996.
16. SALAQUARDA, J. “Nietzsche und Lange” in: Nietzsche-Studien 7 (1978).

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
85cadernos Nietzsche 16, 2004 |
* Doutorando em filosofia pela Universidade de São Paulo. Bolsista CNPq.
Schopenhauer, Nietzsche e acrítica da filosofia universitária
Jarlee Oliveira Silva Salviano*
Resumo: Temos em Schopenhauer e Nietzsche duas filosofias edificadasà margem do terreno da filosofia universitária, da filosofia de cátedra. Naalvorada do século XXI, numa época em que a discussão sobre o ensinoda filosofia ocupa a ordem do dia, as críticas derramadas por eles no bor-bulhante caldeirão das temáticas relacionadas ao magistério filosófico pre-servam o frescor de sua atualidade. Trata-se de colocar em evidência opapel do filósofo, o próprio estatuto da filosofia e da relação desta com oEstado e a religião.Palavras-chave: Schopenhauer – Nietzsche – Filosofia universitária –Extemporaneidade
Penso que o título aqui empregado traz consigo a exigência deuma explicação prévia às intenções deste texto. O uso do termo crí-tica é confessadamente de inspiração kantiana. Este expediente,longe de possibilitar a isenção de qualquer responsabilidade, pare-ce a princípio nos lançar em uma enrascada. Se tivermos em menteo sentido dado pelo filósofo alemão a este conceito, uma crítica dafilosofia universitária deveria anteceder as discussões em torno dascondições pragmáticas do ensino da filosofia, empreendendo umaanálise do próprio estatuto do magistério filosófico, o lugar da filo-

Salviano, J. O. S.
86 | cadernos Nietzsche 16, 2004
sofia na universidade, o papel do professor de filosofia e a relaçãoda filosofia com o Estado e a religião. Uma empreitada assaz árdua.
Se constatamos que a filosofia contemporânea é essencialmenteuniversitária, como afirma Paulo Arantes (ARANTES 1, p. 23), aquestão do ensino da filosofia se torna um problema que se apre-senta inevitavelmente a todo aquele que dela se ocupa hoje. Não édifícil notarmos em nós e à nossa volta os sinais dos vícios acadêmi-cos a serem apontados aqui. De um modo ou de outro parecemostodos afetados por eles, sejam os mais antigos ou os de última gera-ção (no entanto, talvez a simples consciência disto, à maneirasocrática, seja já um grande avanço). Para citar alguns destes víci-os, conforme nos mostra Gonçalo Palácios, em um ensaio intituladoDe como fazer filosofia sem ser grego, estar morto ou ser gênio, temos:confundir o comentar com o filosofar (a comentariologia); o abusodas citações, em linguagem vernácula ou estrangeira; o etnocentris-mo filosófico, seja em relação à língua ou à cultura; os mitos daerudição e da especialização; o obscurantismo (vale lembrar que aprincipal desconfiança em relação a Schopenhauer, na recepção desua filosofia, estava relacionada à clareza de seus escritos!); o socio-logicismo e o psicologicismo, ou seja, a redução da obra de um au-tor a certos aspectos de sua vida privada ou de sua inserção social,etc. Uma vasta bibliografia tem sido produzida a respeito deste as-sunto, o qual acompanha de mãos dadas o problema da filosofia noBrasil. Entretanto, nunca fora colocado em xeque de forma tão ve-emente como agora, o lugar da filosofia dentro de uma universi-dade – ainda que as discussões sobre o seu ensino acompanhemtoda a sua história.
Se não for incoerente o dito popular que afirma que vê melhorquem está de fora, talvez fosse interessante tomarmos como fio con-dutor de nossa reflexão as críticas de Schopenhauer e Nietzschesobre a filosofia universitária, tendo em vista que estes pensadoresproduziram suas obras à margem dos muros da academia. Além

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
87cadernos Nietzsche 16, 2004 |
disto, a atualidade do pensamento de ambos (no que se relacionaao nosso problema) por si só justifica a importância da abordagemaqui proposta. As críticas de Schopenhauer à filosofia de cátedrapercorrem boa parte de seus escritos, mas é em Sobre a filosofiauniversitária, que compõe os Parerga e paralipomena (1851), queelas adquirem uma maior abrangência. Na terceira de suas Consi-derações extemporâneas (1874), intitulada Schopenhauer como edu-cador, Nietzsche retoma as invectivas feitas por Schopenhauer àacademia. No que diz respeito a Nietzsche, portanto, nosso estudotem em vista tão somente a primeira fase de seu pensamento, naqual se inclui este ensaio. Podemos afirmar que o objetivo final dotexto é uma análise do pano de fundo sobre o qual se assenta esteescrito do jovem Nietzsche. Assim, a impressão de que Nietzscheocupa lugar secundário é só aparente, pois sabemos que o autor deO nascimento da tragédia está ainda neste momento bastante próxi-mo do pensamento schopenhaueriano. Uma aproximação entre aterceira Extemporânea e Sobre a filosofia universitária nos mostra-rá que a briga de Schopenhauer contra a filosofia universitária deseu tempo era também a de Nietzsche.
Ambos tomam um ponto de partida comum: a distinção entre averdadeira filosofia, a filosofia não-acadêmica, que tem como únicoobjetivo a verdade, e a falsa filosofia ou filosofia aparente; ou ain-da: a distinção entre o verdadeiro filósofo (que toma a filosofia comoum fim) e o pseudofilósofo (o sofista, segundo Schopenhauer) que atoma como um meio. Neste último, o filósofo de profissão, o conhe-cimento filosófico seria praticado como meio de subsistência (ga-nha-pão) ou de alcance de prestígio.
Estas distinções, sabe-se, não se dão pela primeira vez nestametade do século XIX (quando vieram a público estas críticasschopenhauer-nietzschianas), mas pode-se dizer que já eram nasci-das quando a filosofia engatinhava. Refiro-me à polêmica no perío-do clássico da filosofia grega entre os “filósofos oficiais” (Sócrates,

Salviano, J. O. S.
88 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Platão e Aristóteles) e os Sofistas. A denúncia que se ouviu princi-palmente da Academia platônica dizia respeito ao comércio em quese transformara a filosofia nas mãos de Protágoras, Górgias e com-panhia. Estes pseudofilósofos, diziam seus críticos, pretensos conhe-cedores dos segredos da natureza e da essência do homem, ensina-vam a quem quisesse a arte da retórica, da oratória, da persuasão,sem a menor preocupação com a verdade. Por algumas Dracmasnão hesitavam em desrespeitar os princípios básicos da racionalidadegrega. Este fora o pecado original dos Sofistas: obter com o ensinoda filosofia o seu ganha-pão. Ainda que algumas críticas da Acade-mia procurassem revelar o absurdo do relativismo protagórico, estenão era, no entanto, o maior escândalo que incendiava o chão sobas sandálias dos acadêmicos. Não importava o quanto a doutrinasofista poderia contribuir para a compreensão acerca da teoria doconhecimento, da ética, da política, da justiça etc., os primeirosprofessores da história cometeram o maior dos sacrilégios possíveiscontra a filosofia da antiga Hélade. Eram comerciantes da sabedo-ria (sophia) e por isto deixavam de ser seus amigos (philos-sophos).A filosofia deveria ser o ponto de contato entre os homens e a divin-dade. Ela desvelava o divino na natureza; a verdade não poderiaser senão contemplada. Custou caro aos Sofistas a subversão da clás-sica imagem pitagórica do filósofo, que poderia ser comparado àque-le que nos jogos apenas assiste enquanto alguns competem e outrospraticam o comércio.
Uma curiosa inversão pode então ser observada na história dafilosofia: na antiguidade, severas críticas partiam dos domínios daacademia em direção à filosofia não-acadêmica dos Sofistas consi-derada uma pseudofilosofia. Decorridos cerca de vinte e quatro sé-culos, os Sofistas, diria Schopenhauer, adentraram a academia eexpulsaram a verdadeira filosofia, que agora vaga ao léu sem umteto. Doravante a crítica parte do lado de fora em direção ao interiorda academia, onde confortavelmente se assentam em suas cadeiras

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
89cadernos Nietzsche 16, 2004 |
os professores de filosofia Fichte, Hegel e Schelling, chamados porSchopenhauer sugestivamente de Sofistas. Entretanto, a acusação éa mesma: praticam uma falsa filosofia, pois a tomam como um meiode subsistência e não como um fim em si mesmo. Deve-se notar,assim, que as críticas schopenhauerianas à filosofia universitária têmcomo alvo aquela filosofia ensinada na Universidade do início doséculo XIX. Ele não proporá o fim do magistério filosófico, masuma mudança profunda em relação a ele.
O pano de fundo daquele ensaio de 1851 precisa ser estendidopara uma melhor compreensão do problema. De certa forma, esteensaio responde a duas afirmações kantianas sobre o ensino da filo-sofia. Em O conflito das faculdades (1798) Kant procura mostrarque a faculdade de filosofia, considerada como faculdade inferiordiante das outras (teologia, direito e medicina), deveria ser o únicoespaço da crítica e da liberdade de pensamento que seriam salva-guardadas em relação às imposições do Estado. Outra não menosotimista prescrição kantiana (exposta no ensaio Resposta à pergun-ta: o que é a Ilustração de 1783) refere-se à distinção entre o usopúblico e o uso privado da razão: ainda que, no segundo caso, en-quanto funcionário do Estado, o sábio seja limitado no uso da ra-zão, o livre curso da Ilustração pode se dar no seu uso público, desti-nado ao público letrado. Diante disto Schopenhauer apresentará umaanálise pessimista sobre a relação da filosofia com o Estado e dapossibilidade de uma sociedade ilustrada. O uso da razão é sempreinteressado, diz ele, pois é em última instância sempre determinadopela Vontade, e deste modo os interesses do Estado sempre estarãopresentes na prática do magistério filosófico.
Antecipando-se a Freud, o filósofo introduz, na discussão sobrea relação razão/vontade, a idéia de inconsciente. A vontade é a es-sência metafísica do homem. Esta mesma Vontade cega, inconsci-ente e sem finalidade seria o fundo ontológico de toda a natureza.O que é o númeno, aquilo que está para além do fenômeno? Pergun-

Salviano, J. O. S.
90 | cadernos Nietzsche 16, 2004
tava Kant. É a Vontade, responde Schopenhauer. Subverte assim oprincípio lógico-ontológico da tradição. No homem, a razão, servada vontade, fora criada por esta para servi-la. O cérebro (fonte doraciocínio e do entendimento) nada mais é que objetivação, materia-lização da vontade de conhecer. Ademais, outras forças no homemtêm mesmo a primazia sobre o impulso cognitivo, como a sexuali-dade, por exemplo, pois está mais próxima da necessidade da pre-servação da vida: a Vontade é em Schopenhauer Vontade de viver(Wille zum Leben), em Nietzsche, sabe-se, será Vontade de potência(Wille zur Macht).
Quanto à segunda questão, o otimismo de uma sociedade ilus-trada esbarra, segundo ele, na aristocracia da natureza. Vejamos aquestão mais de perto.
É constante na crítica schopenhaueriana a distinção entre a fi-losofia como livre investigação da verdade (estando esta tão somen-te a serviço da natureza e da humanidade) e a filosofia como profis-são, a serviço do governo. Já em sua Crítica da filosofia kantiana(1819), Schopenhauer procura revelar aquilo que chamará de se-gredo público (ou seja, um fato conhecido, mas escondido, não co-mentado): “É digno de nota, como característica da filosofia univer-sitária, de que modo aqui se mostra a porta à verdade, sem rodeios,quando ela não quer resignar-se e sujeitar-se, com as palavras: –Rua, verdade! Podemos prescindir de ti. Devemos-te algo? Tu nospagas?” (SCHOPENHAUER 8, p. 163).
A não primazia da verdade na filosofia de cátedra se deve aofato de que o professor de filosofia, em nome de um cargo e de umsalário (meios de satisfação de sua vontade), promete obediênciaao Estado – na época de Schopenhauer, os cargos eram ocupadospor indicação do ministério da cultura, através de lista tríplice apre-sentada pela Universidade; no entanto, esta lista não era semprelevada em conta. Tal obediência, procura mostrar o filósofo, revela-se em última instância como submissão à religião do Estado: “engo-

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
91cadernos Nietzsche 16, 2004 |
le teu pudim, escravo, e vende mitologia judaica por filosofia”, es-creve Schopenhauer (SCHOPENHAUER 9, p. 8) (à esta obediên-cia ao Estado e à religião, Nietzsche acrescentará a submissão àordem social e à organização militar). Enquanto o verdadeiro filó-sofo procuraria a chave para o enigma da existência, os professoresde filosofia visariam com seu ensino o prestígio e um meio de sub-sistência. É sabido que Schopenhauer via no Espírito absoluto deHegel e no Eu fichtiano resquícios da ontologia teológica cristã.Schopenhauer foi o pioneiro nesta crítica, mas não foi o único. Quan-to à filosofia de Fichte, em direção a qual a aguda crítica schopen-haueriana lançava a acusação de lentes de aumento dos erroskantianos, podemos dizer (conforme apresentação de Maria LúciaCacciola na tradução de Sobre a filosofia universitária) que “o juízode Schopenhauer sobre Fichte leva em conta uma atenuante: o fatode Fichte ter perdido em Jena sua jus legendi por não ter submeti-do sua filosofia a pressupostos religiosos. Mas é logo acusado de,por temor, dar à sua filosofia um tom cristão, transformando emDeus o ‘eu asoluto’” (id., ibid., p. XXII)
Até que ponto, poderíamos indagar, a dependência do filósofoem relação ao estipêndio pago pelo Estado e a imposição de umregime de trabalho podem alterar o rumo de uma produção filosófi-ca? E quanto à obrigação de filosofar com hora marcada, de terque diariamente ostentar a aparência de sábio, de falar para umpúblico estranho coisas tão íntimas? A despeito do que disseraDiderot pela boca do Sobrinho de Rameau: “meus pensamentossão minhas rameiras” (DIDEROT 3, p. 263), talvez devêssemosafirmar que os pensamentos de um filósofo são para ele o que parauma jovem donzela são as partes pudendas de seu corpo. Estas crí-ticas schopenhauerianas, posteriormente reiteradas por Nietzsche,revelam o caminho contrário de um verdadeiro sábio: parecer sá-bio. Sócrates estava certo! Neste sentido, talvez não fosse incoeren-te comparar, como o faz Schopenhauer, a relação entre os filósofos

Salviano, J. O. S.
92 | cadernos Nietzsche 16, 2004
e estes sofistas modernos com a relação entre as moças que se entre-gam por amor e as prostitutas.
Sabe-se que Hegel adiantara a publicação da Fenomenologiado espírito pressionado pela cobrança de dívidas. Recentemente foipublicado um pequeno livro sob o curioso título A vida sexual deImmanuel Kant (trata-se de uma engenhosa ficção) em que é des-crita uma suposta série de conferências proferidas em 1946 porum fictício filósofo francês chamado Jean-Baptiste Botul. Ali é cita-da uma carta de Hegel a um amigo em que o filósofo se felicita pelanomeação para a Universidade de Berlim. Diz ele: “Alcancei meuobjetivo terrestre, pois, com um cargo e uma mulher amada, tem-setudo que é preciso neste mundo”. O autor faz seguir a esta citaçãoo seguinte comentário: “Palavras terríveis! Onde está a grandezado filósofo? Um cargo e uma mulher...” (BOTUL 2, p. 36). Emoutra passagem, o filósofo francês refere-se aos Discursos de Epicteto(50-125 d.C.), em que se encontra “uma lista penosa dos deveresconjugais: aquecer a água da panela, acompanhar as crianças à es-cola (não podiam ir sozinhas por causa dos pederastas), prestar ser-viços ao sogro, obter para a mulher lã, óleo, cama e copo. Panelas emoleques! Filosofa-se com isso! Sem falar da sexualidade conju-gal... Porque o corpo do marido pertence à mulher e não o inverso.E o desejo feminino é imperioso” (id., ibid., p. 33).
A forma mais acabada desta submissão ao governo, diz Schopen-hauer, se encontra no filisteísmo da hegelharia, em que o Estado évisto como o organismo ético absolutamente perfeito. Esta depen-dência dos professores de sua época em relação aos órgãos estataissó pode encontrar uma explicação, segundo ele: o homem, comotoda a natureza animal, só reconhece como motivos para as suasações tudo aquilo que se relaciona à comida, à bebida e aos cuida-dos com a cria. Acrescente-se a isto a vaidade e a ânsia diante dashonrarias e temos o homem em sua essência. O verdadeiro filósofo

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
93cadernos Nietzsche 16, 2004 |
é aquele detentor de uma anomalia rara: deve travar uma verda-deira luta contra a sua própria natureza. Estes Quixotes da filosofiapensam para si – conforme concordará Nietzsche, referindo-se aopróprio Schopenhauer – enquanto que na filosofia acadêmica, a fi-losofia de fiandeiras (Rockenphilosophie), a filosofia mercenária, aboneca de madeira movida por fios alheios, a filosofia de diversão(Spaaâphilosophie), a filosofia de jardim de infância, enfim, nestafilosofia pensa-se para outros. “Escutar cantar os roucos e ver dan-çar os coxos é penoso” (SCHOPENHAUER 9, p. 34), afirmaSchopenhauer referindo-se ao ensino da filosofia universitária. Numacrítica semelhante (proferida em uma de suas conferências inti-tuladas Sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino de 1872)afirmará Nietzsche: “é verdadeiramente um espetáculo para deu-ses ver um Hefesto da literatura se aproximar coxeando para nosservir alguma coisa” (NIETZSCHE 6, p. 105).
Outro expediente comum desta filosofia, denunciado porSchopenhauer, revela a extemporaneidade deste. Trata-se do modocomo os professores procuram a qualquer custo escrever seu nomena história da filosofia, através da referência em suas aulas de publi-cações de colegas. Poderíamos aqui aplicar a fórmula elaborada pelacrítica do professor Roberto Romano da Unicamp, referindo-se àfilosofia atual: “eu te cito, se você me citar!”. Não menos impie-doso, Schopenhauer buscará numa sátira de Marcos Terêncio(116-27 a.C.) o comentário a este expediente: “Nada mais obsequi-oso que dois mulos, coçando um ao outro” (SCHOPENHAUER 9,p. 34). A respeito da produção e da atividade acadêmica destesoperários da filosofia, assevera Schopenhauer: “esses senhores, jus-tamente porque vivem da filosofia, tornam-se atrevidos a ponto dese nomearem a si mesmos filósofos, de também pressuporem quelhes cabe a última palavra e a decisão nos assuntos da filosofia e,por fim, anunciarem reuniões de filósofos (uma contradictio in

Salviano, J. O. S.
94 | cadernos Nietzsche 16, 2004
adiecto, pois filósofos raramente estão juntos no dual e quase nun-ca no plural) – e, então, eles acorrem em rebanhos para deliberarsobre o bem da filosofia” (SCHOPENHAUER 9, p. 70).
Definitivamente, o filósofo alemão encontra poucas possibilida-des de ser praticada na Universidade uma filosofia séria e honesta.No entanto, repito, sua briga é contra aquela filosofia e aqueles filó-sofos de sua época, principalmente contra as filosofias de Hegel,Fichte e Schelling. Para Schopenhauer, entre ele e Kant não se es-crevera uma linha sequer que não fosse pseudofilosofia. É devidoa esta oposição filosófica acirrada em relação àqueles filósofos quea artilharia schopenhaueriana voltou-se tão violentamente contra aacademia. O próprio Schopenhauer por duas vezes tentou lecionarem Berlim, fracassando em ambas. Na primeira tentativa, fez ques-tão de escolher o mesmo horário das aulas de Hegel para as suaspreleções. O resultado, como se sabe, foi decepcionante: enquantoHegel falava para um auditório lotado, quatro ou cinco alunos as-sistiam a Schopenhauer. Havia, segundo ele, um complô armadopela academia para ocultá-lo no silêncio. Assim, enquanto ele pôdeviver tranqüilamente com os rendimentos da herança paterna, osprofessores de filosofia seguiriam seu caminho de deturpação dasdoutrinas dos grandes gênios da humanidade.
Neste sentido, poder-se-ia tomar a crítica Schopenhauerianacomo inadequada à nossa realidade se concordarmos com algunsfilósofos da atualidade (conforme, por exemplo, Roberto Gomes eGonçalo Palácios) em que não existe uma filosofia brasileira, ou seja,que não há qualquer filosofia sendo ensinada nas Universidades, àqual poderíamos direcionar uma crítica. Ademais, certamente a re-lação da filosofia com o Estado e a religião hoje é bem diferente.No entanto, caberia indagar se elementos que apontavam para umafalta de liberdade da filosofia (como a famigerada lista tríplice) nãoforam simplesmente substituídas (que dizer da redução dos prazosda pós-graduação determinada pela pressão das instituições que fi-

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
95cadernos Nietzsche 16, 2004 |
nanciam a pesquisa? Que dizer de uma greve de alunos pelacontratação de professores e condições básicas de estudo? Que di-zer quando um dos mais eminentes filósofos brasileiros da atualidadeé citado num jornal como o ideólogo de FHC?).
Por outro lado, a teoria schopenhaueriana da aristocracia danatureza lhe serviu para explicar o fenômeno do aparecimento dogênio. A natureza é pródiga, diz ele. As inteligências corriqueirassão produzidas aos montes diariamente. Deste montante, em mo-mentos muito raros surgem os gênios, os quais, na maioria das ve-zes têm que lutar contra a mediocridade de sua época para se im-por. É assim que Schopenhauer analisa a sua luta, e a decadênciada cultura de seu tempo. O espírito de uma época, diz ele, é deter-minado pela filosofia dominante. A distinção entre a verdadeira fi-losofia e a filosofia universitária está ligada à distinção entre o gênioe o filisteu. O gênio é o filósofo em que se verifica aquela anomaliarara citada atrás. Acima dos interesses mundanos o gênio, afirmaSchopenhauer em um póstumo, é “o acima-do-homem (Über-menschliches) e o divino(Göttliches), pela potência (Macht) que fazcom que ele se liberte da vontade” (conforme Cacciola) (SCHOPEN-HAUER 9, p. XXX). Como afirmará Nietzsche em Assim falouZaratustra: vêm ao mundo homens demais. Para os supérfluos, in-ventou-se o Estado. Diante de críticas tão severas contra a falta deliberdade da filosofia, não é de admirar que o jovem Nietzsche te-nha declarado sua admiração por Schopenhauer: “Eu o compreen-dia”, diz Nietzsche, “como se ele estivesse escrito para mim”(NIETZSCHE 5, p. 25).
Em sua terceira Consideração extemporânea, ainda fortementeinfluenciado por Schopenhauer, ele distingue o filósofo verdadeiro(o filósofo de ouro) do pseudofilósofo (feito de falso ouro). Quanto àtese da aristocracia da natureza Nietzsche afirma que a natureza émá economista, esbanjadora e pródiga, pois suas despesas são su-periores ao que ela recebe em troca, através das obras dos indivíduos

Salviano, J. O. S.
96 | cadernos Nietzsche 16, 2004
de gênio. Numa crítica à massificação da cultura, Nietzsche colocaque assim como existe uma moeda corrente existiria também numadeterminada sociedade o homem corrente (NIETZSCHE 6, p. 94).
A única saída para a filosofia universitária, segundo Schopen-hauer, seria então a redução ao mínimo do espaço do professor emsuas preleções, para que este não represente o papel de filósofo. Atarefa do professor de filosofia deveria então, propõe ele, restringir-se a dar as coisas mastigadas e, acima de tudo, não tomar sofistaspor filósofos. Estranha proposta, para quem, no mesmo ensaio de-fende o pensar por si mesmo! Como soa estranha diante das denún-cias sobre a falta de pensamento próprio dos críticos contemporâne-os da filosofia universitária! Somente por escrito, conclui ele, emsuas obras, portanto fora da academia, seria permitido ao professortravar conhecimento com os filósofos. Ademais, diante do caráterinacabado da filosofia, o seu ensino deve se diferenciar do ensinodas outras ciências. Assim, Schopenhauer propõe uma mudançaradical nos cursos de filosofia. É preciso que estes constem de ape-nas duas disciplinas: a Lógica, pois se trata de uma ciência consti-tuída e rigorosamente demonstrável; e a História da filosofia, deTales a Kant, exposta sucintamente e cursada em apenas um semes-tre. No final das contas, quando se esperava uma descrença radicalde Schopenhauer em relação à filosofia das Escolas, percebe-se umaaproximação com Kant e a teoria dos usos privado e público da ra-zão. A exceção encontra-se em que para o primeiro, partindo dofato de que a razão é sempre determinada pela vontade, que é por-tanto sempre interessada e sempre sujeita aos interesses do Estado,o seu uso privado, ou seja, dentro de uma Universidade, deveriaser o mais restrito possível.
Nietzsche, por outro lado, (diante da imponência do Estado ediante do fato de que lhe é dada a tarefa impossível de distinguir averdadeira filosofia da falsa) prevê a total supressão da filosofiauniversitária. E sobre a tumba desta, conclui o filósofo, deveria es-

Schopenhauer, Nietzsche e a crítica da filosofia universitária
97cadernos Nietzsche 16, 2004 |
tar estampado: “Ela não afligiu ninguém!”. Insistindo um poucomais, poderíamos dizer, com Roberto Gomes (em sua Crítica darazão tupiniquim), que “a filosofia não pode prescindir de sua mis-são primeira: destruir um mundo”. E o que é a filosofia? Respondeele em seguida: “a mim parece isto: dizer o contrário” (GOMES 4,p. 32). Enquanto Gonçalo Palácios, no ensaio citado, afirma quedevemos dizer o que pensamos mesmo sob o risco de sermos pre-sos, perseguidos ou vilipendiados, Nietzsche não é menos radicalao afirmar que este deve ser mesmo o critério do verdadeiro filoso-far: incomodar, afligir, correr o risco da perseguição. Diante disto,talvez nos reste apenas torcer para que a cada dia sejam mais rarasas aplicações daquelas provas de filosofia a que se refere Nietzsche,em que o neófito, ao final suspira aliviado: “graças a Deus que nãosou filósofo, mas cristão e cidadão do meu Estado” (NIETZSCHE5, p. 88).
Abstract: Schopenhauer’s and Nietzsche’s philosophy was built alongsidesphere of the universitary philosophy, of the cathedratic philosophy. At21st century’s dawn, in a time in which the discussion about the teachingof philosophy is in the agenda, their critics (spilled in the bubbling cauldronof the themes connected with the philosophical teaching profession) pre-serve the freshness about your actuality. It’s a question of showing thephilosopher role, the philosophy statute self, and the relation betweenphilosophy, state and religion.Key-words: Schopenhauer – Nietzsche – Universitary philosophy –Extemporaneity

Salviano, J. O. S.
98 | cadernos Nietzsche 16, 2004
referências bibliográficas
1. ARANTES, Paulo Eduardo. Cruz Costa, Bento Prado Jr. eo problema da filosofia no Brasil – uma digressão. In:Salma T. Muchail (org). A filosofia e seu ensino. Petró-polis: Vozes; São Paulo: EDUC, 1995. (Série eventos)
2. BOTUL, Jean-Baptiste. A vida sexual de Immanuel Kant.Trad. Isabel Maria Loureiro. São Paulo: Ed. UNESP,2001.
3. DIDEROT, Denis. O sobrinho de Rameau. Trad. MarilenaChauí. São Paulo: Nova Cultural, 1988. (Os Pensado-res).
4. GOMES, Roberto. Crítica da filosofia tupiniquim. SãoPaulo: Cortez, 1982.
5. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Considérationsinactuelles III: Schopenhauer éducateur. In: Ouvresphilosophiques completes. Trad. Henri Alexis Baatsch.Paris: Gallimard, 1988.
6. _______. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement.In: Ouvres philosophiques completes. Trad. Jean-LouisBackés. Paris: Gallimard, 1988.
7. PALÁCIOS, Gonçalo Armijos. De como fazer filosofia semser grego, estar morto ou ser gênio. Goiânia: Ed. UFG,2000.
8. SCHOPENHAUER, Arthur. Crítica da filosofia kantiana.Trad. Maria Lúcia M. e O. Cacciola. São Paulo: AbrilCultural, 1980.
9. _______. Sobre a filosofia universitária. Trad. Maria Lú-cia M. e O. Cacciola e Márcio Suzuki. 2 ed. São Pau-lo: Martins Fontes, 2001.

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
99cadernos Nietzsche 16, 2004 |
* Doutorando da Universidade Nova de Lisboa. Bolsista da Fundação para aCiência e a Tecnologia.
Sobre a Metamorfoseabilidadeda Experiência em Die Geburtder Tragödie de Nietzsche1
Nuno Venturinha*
Resumo: A proposta deste artigo é apresentar um problema fundamentaldo empreendimento nietzschiano. O primeiro livro de Nietzsche, O nasci-mento da tragédia, lança luz sobre a possibilidade de uma metamorfoseempírica, que depende de uma intuição revolucionária da natureza huma-na. O elemento mais significativo da metamorfose da experiência em Onascimento da tragédia consiste no caráter complementar do apolíneo-dionisíaco. Essa questão é de fundamental importância para a filosofia doconhecimento – em sua relação intrínseca com a investigação antropológi-ca. Assim, o artigo pretende delinear essa epistemologia problemática, quese radica numa ligação naturalizada com uma forma de ser questionável.Palavras-chave: apolíneo – dionisíaco – epistemologia – metamorfose.
Introdução
Este artigo constitui um registro de uma leitura de Die Geburtder Tragödie de Nietzsche. Essa leitura determina-se pelo confrontocom a idéia de uma possibilidade de metamorfose da experiência.Este é, no nosso entender, um tema original e propriamentenietzschiano, encontrando-se pela primeira vez explanado na histó-

Venturinha, N.
100| cadernos Nietzsche 16, 2004
ria da filosofia ocidental de uma forma concreta por Nietzsche enunca tendo posteriormente atingido no pensamento de outros au-tores o alcance que comporta na démarche nietzschiana. A temáticada metamorfoseabilidade da experiência será, assim, indagada pornós através de uma interpretação do percurso filosófico de Nietzsche.Porém, este trabalho não pretende ser senão uma aproximação aessa problemática que se delineia, como julgamos, a partir da obramatricial da concepção filosófica nietzschiana.
O propósito desta circunspeção é, então, mostrar que Die Geburtder Tragödie não pode ser compreendida como uma genealogia his-tórica da tragédia, mas como um texto fundacionalmente filosófico,como uma visão da filosofia no seu todo – constituindo um móbilprivilegiado para uma apercepção da totalidade do pensamentonietzschiano na sua gênese2. O objetivo interpretativo não passa,portanto, por apresentar uma leitura deste texto isolado de toda aobra subseqüente, i. e., analisando pari passu os diversos fenôme-nos, os vários complexos temáticos, mas, fundamentalmente, trata-se de procurar entender uma tese filosófica que constitui um objetoproblemático imprescindível, uma proposta que se elabora atravésda tematização do conceito de “dionisíaco”.
A intuição dessa estrutura de sentido, formulada primordial-mente no primeiro livro de Nietzsche, apresenta-se como decisiva,na medida em que expõe um âmbito significacional indeclinável parao estudo filosófico enquanto este se repercute numa possibilidadede acompanhamento da vida na sua forma mais íntima; quer dizer,através da leitura dos textos nietzschianos, especialmente de DieGeburt der Tragödie, é possível considerar uma problemática abso-lutamente pertinente para o progresso científico, para o progressode uma comunidade humana, de tal sorte que é necessário circuns-crever os aspectos construtores e destruidores dessa visão – a havertais aspectos –, por forma a caracterizar de um modo tão rigorosoquanto possível o sentido dessas teorias, o seu fundamento, a sua

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
101cadernos Nietzsche 16, 2004 |
extensão. É com base nestas diretrizes que se procurará compreen-der Nietzsche, perceber a essência do “dionisíaco”, e extrair con-clusões que poderão ser determinantes para a nossa situação naexistência.
Esta indagação tem por fito, em primeiro lugar, verificar de quemaneira a “herança” schopenhaueriana influenciou Nietzsche na-quilo que diz respeito ao estabelecimento da sua posição, ou seja,como patamar de acesso ao elemento “dionisíaco” enquanto supe-ração da ‘vontade de negação da vida’ (Wille zur Verneinung desLebens) (OE 1, p. 16; KSA I, 19). A tônica da análise é colocadanuma contraposição entre as doutrinas de Schopenhauer, nomea-damente em Die Welt als Wille und Vorstellung, e de Nietzsche, demodo a caracterizar as oscilações de sentido operadas pela compre-ensão nietzschiana. Seguidamente intentar-se-á reunir os elementosque possibilitem uma análise da reciprocidade daquilo que Nietzschechama “apolíneo” (apollinisch) e “dionisíaco” (dionysisch). Estasdeterminações conceptualizam dois impulsos antagonistas, mas que,ao mesmo tempo, se reconciliam numa “medida” (Maass)3, a qualse encontra patente na tragédia grega. É a investigação dessa “me-dida”, da sua necessidade, do modo como se elabora na represen-tação trágica, bem como o isolamento das duas modalidades possibi-litantes, que estará em causa no segundo momento deste trabalho.Por último apresentar-se-á o próprio conceito de “dionisíaco” comopedra angular da tendência nietzschiana para a sua valorização con-tra a “inimizade” que experimenta pelo “apolíneo”; ou seja, Dionisoé, ao longo de Die Geburt der Tragödie e, mormente, de toda a suaobra posterior, o deus no qual Nietzsche se revê e para o qual faztender as palavras de Zaratustra, numa efetivação desse estado ori-ginal numa metábasis, trazida concomitantemente à expressão pelafigura do “além-do-homem” (Übermensch), criador da “vontade depotência” (Wille zur Macht). Os matizes basilares desta progressãode pensamento serão verificados numa sinopse sintética mas

Venturinha, N.
102 | cadernos Nietzsche 16, 2004
determinativa, susceptível de manifestar as dificuldades e as conse-qüências que se nos deparam perante tal efetivação – realização desentidos habitualmente distantes da nossa forma de estar peranteas coisas, algo que extravasa, por completo, a nossa “naturalidade”(“naturalização”), a nossa “perspectiva”.
De facto (e de jure?), Nietzsche não apenas propõe uma identifi-cação de estruturas do real que estão presentes no nosso quotidia-no, ainda que de forma inexplícita – qualquer coisa que vem con-firmar a experiência – , mas, decididamente, pretende operar umarevolução no humano, no modo de ser humano, e, assim, buscaruma outra humanidade (ou “além-da-humanidade”), sendo estaanunciada, tendendo para uma efetuação, correspondendo a umaatualização das idéias apresentadas nos textos – tendo o caráter deuma profecia. A dificuldade não diz respeito somente, pois, à com-preensão daquilo para o qual as análises nietzschianas nos reme-tem mas à execução disso mesmo – se se pretender realizá-lo – ,aporia que suscita a precisão de um confronto autêntico com os pro-blemas para ratificar a aceitação ou a recusa de tal concepção.
1. Da “vontade de negação da vida” à “vontade de pessimismo”.Princípios ontológicos da antropologia de Nietzsche.
No “Versuch einer Selbstkritik” a Die Geburt der Tragödie e nocapítulo dedicado a esta obra em Ecce homo. Wie man wird, wasman ist4 Nietzsche lembra ao leitor que um título menos ambíguopara Die Geburt der Tragödie teria sido Griechenthum und Pessimis-mus, denominação que figura na última edição, intitulada Die Geburtder Tragödie. Oder: Griechenthum und Pessimismus (Neue Ausgabemit dem Versuch einer Selbstkritik [Nova edição com o ensaio deautocrítica], 1886), na qual já não aparece a intitulação original,Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik [O Nascimento da

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
103cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Tragédia a partir do Espírito da Música], presente nas primeirasedições (1872 e 74). Qual é, por conseqüência, a importância doconceito de “pessimismo” (Pessimismus) no horizonte do pensamentonietzschiano, na medida em que, ao ser considerado com extremaacuidade nesses estudos autocríticos, surge como uma possibilida-de de identificação do fundo da obra? In fine, como é possível esta-belecer este conceito como princípio ontológico da antropologianietzschiana?
Escreve Nietzsche: “Adivinha-se com isto onde se situava o gran-de sinal de interrogação acerca do valor da existência. Será o pessi-mismo necessariamente o sinal do declínio, da decadência, da im-perfeição, dos instintos fatigados e enfraquecidos? – como era entreos Indianos, como é, aparentemente, entre nós, homens ‘moder-nos’ e europeus? Haverá um pessimismo da força? Uma propensãointelectual para o que é duro, horrível, malvado, problemático naexistência feita de bem-estar, de transbordante saúde, de abundân-cia existencial?” (OE 1, p. 8).
Esta compreensão que tem em vista conferir resposta à pergun-ta do livro, a saber, “o que é o dionisíaco?” (was ist dionysisch?)5,elabora uma inversão da forma como naturalmente percebemos o“sofrimento” (Leid), ou seja, como algo a despedir, como um índi-ce que patologicamente promove uma fuga a tal disposição. Preci-samente, Nietzsche entende que o sofrimento não deve ser negado,como em Schopenhauer, mas deve ser afirmado, em toda a sua ple-nitude, pois essa é a matriz do humano, conduzindo a sua negaçãoa uma fraqueza, a uma superficialidade – sintomas da decadênciada fase otimista dos Gregos. A intuição nietzschiana, intuição fun-damental de Die Geburt der Tragödie, é a de que originalmente ohumano é sofrimento e que qualquer fuga a essa naturalidade – à“seriedade da existência” (Ernst des Daseins)6 – corresponde a umadesvalorização, a uma artificialidade. Nietzsche fala, justamente, deuma época anterior, tendente para a apetência do horrível – uma

Venturinha, N.
104 | cadernos Nietzsche 16, 2004
“vontade de pessimismo” –, a do mito trágico, a qual permitia umasintonia com o “fundamento da existência” (Grund des Daseins) (OE1, p. 12; KSA I, 16). A sua suspeita é apresentada deste modo:“[…] se os Gregos, justamente na riqueza da sua juventude, tives-sem uma vontade para o trágico e fossem pessimistas?” (OE 1,p. 13); e conclui a sua hipótese interpretativa da seguinte forma:“E se, por outro lado e vice-versa, os Gregos, justamente nas épo-cas da sua dissolução e fraqueza, se houvessem tornado cada vezmais otimistas, mais superficiais, mais histriônicos, mais ardentesmesmo após a lógica e logicização do mundo, portanto em simultâ-neo ‘mais serenos’ e ‘mais científicos’?” (OE 1, p. 13).
A tese nietzschiana coloca-se, assim, como uma conseqüênciainversa da leitura de Schopenhauer, mais concretamente de Die Weltals Wille und Vorstellung, visado criticamente nos capítulos 5 e 6do “Versuch einer Selbstkritik”. Nietzsche mostra, exatamente, oquanto está distante da posição schopenhaueriana determinada porsi como uma ‘vontade de declínio’ (Wille zum Untergang) (OE 1,p. 15; KSA I, 18). E é esta inversão que funda a sua antropologia,é a compreensão ontológica da “vontade” (Wille) como algo para oqual se deve tender, se deve “querer” (willen), que possibilita umareversão ontológica trazida à expressão pela figura de Dioniso, pelo“poder dionisíaco” (dionysische Macht) (OE 1, p. 31; KSA I, 32).Diz Nietzsche: “Que pensava porém Schopenhauer sobre a tragé-dia? ‘O que dá a tudo o que é trágico o particular impulso de eleva-ção’, diz ele, Mundo como Vontade e Representação, II, p. 495, ‘é odesabrochar do reconhecimento de que o mundo, a vida, não podedar nenhuma verdadeira satisfação, logo que não vale a nossa de-pendência: nisso consiste o espírito trágico – ele conduz portanto àresignação.’ Ó quão diferente é o modo como me falou Dioniso!”(OE 1, p. 16). Aquilo que está em causa é uma “superação”, um“querer”, que se estabelece no modo do “criar”7, um “pessimismo”que se situa “para além do bem e do mal” (jenseits von Gut und

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
105cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Böse), qualquer coisa para a qual os nossos conceitos não são sufi-cientes, um outro modo de ser, “além-do-humano”, cuja caracterís-tica fundamental é a autenticidade enquanto fixação à vida, segui-mento da verdade8 – paradoxalmente, uma “vontade de verdade”(Wille zur Wahrheit). Esta, assumindo a forma de uma “vontade depotência”, é descrita por Nietzsche nos termos seguintes, insuficien-tes para uma exposição do seu conteúdo, mas, em todo o caso, osmais expressivos no interior da “inexpressividade”9 de tal estado-de-coisas: “(…) um ‘deus’ se quiser, mas decerto apenas um deusde artista, totalmente irrefletido e imoral, pretendendo compenetrar-se do seu prazer e da sua autoglorificação imediatos tanto no ato deconstruir como no de destruir, no bem e no mal, libertando-se aocriar mundos da necessidade da abundância e sobreabundância, dosofrimento das oposições que lhe são impostas” (OE 1, p. 14).
Esta apresentação do escopo nietzschiano reveste-se de umaimportância fulcral para a formação de uma síntese apreensiva dosentido. Descoberto um âmbito significacional que permite uma ins-talação do humano na verdade, desvelando a anterior situação –que é a nossa – como um campo de “falsidade”, a pergunta que secoloca é: como é possível aceder a esse espaço primitivo, cuja de-terminação autêntica da vida pode promover uma metamorfose deperspectiva, entendida conseqüentemente, se aquilo para o qual setende é um “acontecimento”, para falar como Deleuze, que implicaum abandono de todos os nossos conceitos – porque “falsos”, por-que “construídos”?
2. A complementaridade do “apolíneo” e do “dionisíaco”: identifi-cação do sentido numa sustentabilidade do modo de ser.
Este trabalho delimita-se a partir da circunscrição de um âmbi-to de inteligibilidade fundamental, promotor de uma possibilidade

Venturinha, N.
106 | cadernos Nietzsche 16, 2004
de compreensão do humano que importa considerar, sob pena derestringirmos o nosso alcance analítico a uma multiplicidade deestruturas da existência, perdendo o confronto com esse sentido de“profundidade do ser”, que a especulação nietzschiana traz à ex-pressão através da conceptualização de uma perspectiva “dionisíaca”.E esta modalidade, ausente da experiência comum, é permeável auma identificação do seu teor?
No “Versuch einer Selbstkritik” Nietzsche fornece-nos uma in-dicação preciosa da forma como este problema se lhe colocou. Es-creve ele sobre a intuição que deu título à obra colocada por nóssob foco temático: “A partir da música? Música e tragédia? Gregose música da tragédia? Gregos e a obra de arte do pessimismo?A espécie humana até então mais perfeita, mais bela, mais inveja-da, com maior poder de sedução para a vida, os Gregos – comoassim? precisamente eles tinham necessidade da tragédia? Mais ain-da – da arte? Para quê – arte grega?…” (OE 1, pp. 7-8).
É curioso notar que nos comentários a um texto no qual o deusApolo figura constantemente Nietzsche quase não se lhe refira (ape-nas uma vez), mas somente ao deus Dioniso. Quer o “Versuch einerSelbstkritik”, quer o comentário a Die Geburt der Tragödie em Eccehomo privilegiam Dioniso, o “dionisíaco” – esse é o limite da obra.Então, como se explica a importância dada por Nietzsche à comple-mentaridade dos elementos “apolíneo” e “dionisíaco”, afirmadadesde o início do texto? Qual a função de Apolo, se aquilo que im-porta para Nietzsche é Dioniso?
O que a indagação nietzschiana leva a cabo no confronto com arepresentação trágica é uma escatologia que permite uma compre-ensão de si mesma; ou seja, em causa está a admissão do “subsolooculto de sofrimento e conhecimento” (Untergrund des Leidens undder Erkenntniss) (OE 1, p. 40; KSA I, 40) na sua comensurabilidadea uma perspectiva compreensiva desse sentido. A dificuldade pas-sa, justamente, por aceder à significação da “síntese de deus e bode

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
107cadernos Nietzsche 16, 2004 |
no sátiro” (Synthesis von Gott und Bock im Satyr) (OE 1, p. 12; KSAI, 16), sendo esta facultada, apenas, através de uma representação,i. e. da representação do primitivo estado “dionisíaco” em comple-mentaridade com uma forma “apolínea” de expressão. Efetivamente,nós só temos acesso ao “dionisíaco” através de um medium; esteelemento formal permite abrir (dentro da sua formalidade) um es-paço significacional que tende para a sua destruição (da própriaforma possibilitante), mas que, por intermédio de uma “medida”,assegura a manutenção do sentido numa forma representativa,filtragem “apolínea” por individuação da “desmedida” para a qualtende o estado “dionisíaco”, potenciador do sentido fundamental.10
Refere Nietzsche: “O sátiro vive, enquanto coreuta dionisíaco,numa realidade religiosamente reconhecida, sob a sanção do mitoe do culto. O fato de a tragédia principiar com ele, de através delefalar a sabedoria dionisíaca da tragédia, constitui aqui um fenôme-no que nos é tão estranho como o surgir da tragédia a partir docoro” (OE 1, p. 57-8).
Tendo a sua origem no ditirambo11, a tragédia, mais concreta-mente o coro12, tem a possibilidade de, pela mediação da expres-sividade formal “apolínea” (que constitui uma medida ontológica, ocaráter representacional da existência), constituir um sentidopotenciador da vida, que está mais próximo do fundo das coisas13.O coro dos sátiros exprime, precisamente, a “nostalgia” (Sehnsucht)pelo estado original14, mas isso só é possível porque o sátiro aindapertence a este modo de ser que é o nosso – embora tenha poucasmediações relativamente ao informe, à desmedida própria do “dioni-síaco”15. Sem esta comunicabilidade de sentido o “dionisíaco” seriadesconhecido para nós. Há, portanto, um registro em forma inter-rogativa, uma notícia de algo, embora não seja possível constituí-loverdadeiramente, a não ser num deslize para o abismo “dionisíaco”.
E no último capítulo de Die Geburt der Tragödie Nietzsche aler-ta para a necessidade de manutenção do “dionisíaco” em comple-

Venturinha, N.
108 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mentaridade com a forma “apolínea”, numa medida ontológica. Sãoestas as suas palavras: “Daquele fundamento de toda a existência,o subsolo dionisíaco do mundo, só pode chegar à consciência doindivíduo humano exatamente tanto quanto puder ser superado poraquela força apolínea de transfiguração, de tal modo que estes doisimpulsos artísticos são obrigados a desenvolver as suas forças numaproporção de rigorosa alternância, de acordo com a lei da eternajustiça. Onde os poderes dionisíacos se erguerem de forma tão im-petuosa, como presenciamos, já Apolo deverá ter descido até nós,envolvido numa nuvem; os seus mais exuberantes efeitos de belezaserão contemplados por uma próxima geração” (OE 1, p. 171).
3. Dioniso como enigma.
A segunda parte deste trabalho terminou com uma citação deNietzsche, do capítulo 25 de Die Geburt der Tragödie, na qual oautor reclama a exigência da manutenção da perspectiva numa re-presentação formal “apolínea”, ainda que esta deva potenciar umadelimitação do caráter “dionisíaco” da vida. Ora, a questão que secoloca é: tendo a inquirição nietzschiana descoberto um horizontesignificacional fundamental, o âmbito “dionisíaco”, através de umadissonância no campo formal “apolíneo”, estrutura da individuação,que nos possibilita um acesso ao mundo tal como o conhecemos,como podemos assimilar esse sentido fundacional sem que perca-mos nada dele? Quer dizer, como é que o “dionisíaco” pode naverdade ser vivido por nós, sem que a experiência não seja mais doque uma bravata? E isso é possível, podemos despojarmo-nos,libertarmo-nos autenticamente do principium individuationis e mer-gulharmos no “dionisíaco”, mesmo que, com esse salto, abandone-mos – como parece óbvio – a forma compreensiva? Como é possí-vel uma relação entre as modalidades de existência?

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
109cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Uma resposta possível poderia ser dada a partir da teoria deque se na forma “apolínea” – na qual permanecemos naturalmente– temos uma notícia do “dionisíaco”, na forma “dionisíaca” tería-mos uma notícia do “apolíneo” e, logo, uma compreensão. Simples-mente, esta teoria é dogmática, na medida em que concebe o esta-do “dionisíaco” como uma perspectiva, como uma forma apreensivado real idêntica à nossa, somente com variações, mantendo-se asformas cognitivas que possibilitam uma representação. Essa com-preensão envolve, pois, um dogmatismo, a assunção de que se com-preende o “dionisíaco”, quando as indicações de Nietzsche continua-mente o caracterizam como um modo de ser que não é, apenas,diferente, mas é outro, qualquer coisa para a qual os nossos concei-tos falham absolutamente. Conceptualizar o “dionisíaco” é tornar oinforme “apolíneo”. Escreve Nietzsche: “Falava aqui [O Nascimen-to da Tragédia] em todo o caso […] uma voz estranha, o apóstolo deum ‘deus’ ainda ‘desconhecido’, temporariamente escondido sob ocapuz do erudito, sob a gravidade e morosidade dialética do ale-mão e até sob as maneiras ruins do wagneriano; encontrava-se aquium espírito com carências estranhas e ainda por nomear, uma me-mória a transbordar de questões, experiências, coisas ocultas, àsquais se juntava o nome de Dioniso como mais um sinal de interro-gação; falava aqui – como foi dito com desconfiança – algo comouma alma mística e quase de ménade, alma essa que, de formaatormentada e arbitrária, quase indecisa sobre se pretendia comu-nicar-se ou ocultar-se, balbucia por assim dizer numa língua estra-nha. Deveria ter cantado essa ‘nova alma’ – e não falado!” (OE 1,p. 11).16 Esta formulação, levada ao extremo em Also sprach Zara-thustra. Ein Buch für Alle und Keinen17, traduz, precisamente, a ten-dência de Nietzsche para efetuar o “dionisíaco” e não para mantera representação formal “apolínea”. O que é o Übermensch senãoaquele que realizará as palavras proféticas de Zaratustra?18 Nietzscheapercebeu-se, depois de Die Geburt der Tragödie, de que a efetivação

Venturinha, N.
110 | cadernos Nietzsche 16, 2004
do “dionisíaco” teria de comportar uma “superação” da perspecti-va, uma saída para fora do modo de ser humano, uma “além-da-humanização”, e, formalmente, a partir de Menschliches, Allzu-menschliches. Ein Buch für freie Geister19 começa a estabelecerdeterminações que têm em vista essa realização. No entanto, e atéao fim da sua vida, Nietzsche apenas nos deixou indicações, querdizer, até ao momento do colapso de Janeiro de 1889 Nietzscheescreve e, por isso, mantém-se numa perspectiva “humana”; de-pois do colapso Nietzsche nada mais diz. Esta é a matriz da teorianietzschiana da representação e da linguagem. O programa analíti-co empreendido, conducente a uma consciência da finitude do hu-mano no seu acesso ao mundo, revela que a “falsificação” de queprecisamos para viver assenta numa lógica que importa ultrapas-sar, sendo o terminus ad quem, naquilo que é possível conjeturar,uma região de experiência na qual a intensificação corporal “substi-tua” a superficialidade consciente; ou seja, o corpo passaria a ser odinamismo no qual o inconsciente se produziria enquanto tal, numadiscursividade alógica.20
Conclusão
Ao longo deste trabalho procurou-se explicitar a dificuldade deapropriação compreensiva daquilo a que Nietzsche chama o“dionisíaco”, tomando como base as determinações presentes emDie Geburt der Tragödie na sua comensurabilidade aos textos subse-qüentes que elaboram doutrinas desenvolvidas relativamente à pro-blemática inicial, como se pode comprovar pela leitura dos textosautocríticos. Efetivamente, o “dionisíaco” ocupa o centro do pensa-mento de Nietzsche, é o seu limite teleológico. Porém, a sua efetiva-ção conduz não a uma realização “pacífica” de algo, mas, pelo con-trário, a uma problematicidade. O “dionisíaco” comporta uma

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
111cadernos Nietzsche 16, 2004 |
indecisão e é uma possibilidade de problema, não um problemaque seja possível colocar desde logo. Aquilo que esteve em causanão foi, por conseguinte, uma leitura interpretativa da obra, mas oapuramento de uma determinada problemática, a metamorfoseabi-lidade da experiência, a qual tem um resultado “trágico”, ambíguo;quer dizer, se é possível caracterizar Die Geburt der Tragödie – e,por extensividade, toda a filosofia nietzschiana – enquanto tendên-cia dionisíaca para o “monstruoso”, para o “caótico”, como inter-preta Deleuze, é também possível uma interpretação suspensivadesta obra. O resultado “trágico” de Die Geburt der Tragödie é airresolutividade, a indecisão que o “dionisíaco” provoca, pois, cons-tituindo-se como uma possibilidade de sentido, provoca, pela inca-pacidade da sua compreensão, uma impossibilidade de sustenta-ção de qualquer “tese” sobre si, quer positiva, quer negativa – etudo isto aquém de uma pergunta pela sua exeqüibilidade. Na ver-dade, se nós não temos capacidade para julgar o “dionisíaco”, comopodemos tender para ele, para qualquer coisa que pode levar àdestruição, à incapacidade de retorno? Mas como podemos tam-bém afirmar que o “dionisíaco” é qualquer coisa que se deve evi-tar, sob pena de perdermos a nossa “humanidade”, se nunca láestivemos, se os nossos conceitos apenas valem para esta “humani-dade”? Por que não arriscar, jogar a vida num sentido que podeser potenciador?
Este problema deveria ser o problema menos nietzschiano queexiste, um problema que Nietzsche imediatamente “resolveu” e doqual procuramos apresentar uma sinopse crítica na primeira partedo texto. Não é o medo, a fraqueza, que aniquila todos os instintosviris da existência? Não é isso que deve ser ultrapassado e querer avida em toda a sua amplitude, mesmo nos aspectos mais dramáti-cos, como uma possibilidade de alegria? Não é esse o convite deDioniso, e o seu seguimento, porventura, o maior ato de misticismopossível, o tomar o risco como elemento sagrado, seguindo o seu

Venturinha, N.
112 | cadernos Nietzsche 16, 2004
deus, mesmo que ressoem “prenúncios de tempestade”21 – jogar avida nisso que se acredita?22
Ficou por estudar um problema que não poderia ser estudadoaqui, a saber, o da “verdade” em Nietzsche, que se apresenta em-brionariamente em Die Geburt der Tragödie e que começa a ser de-senvolvido minuciosamente no ensaio “Ueber Wahrheit und Lüge imaussermoralischen Sinne”23 de 1873. As relações dos diversos fe-nômenos da “perspectiva” natural que Nietzsche analisa e critica,enquanto insustentáveis, possibilitantes de uma queda das determi-nações “naturais” (“naturalizadas”) e, por arrastamento, de umaoutra configuração do modo de ser, assente num desprendimento detodas essas determinações que, para Nietzsche, são “artificiais”,“culturais” (aquilo que assegura, de todo em todo, a “humanidadedo humano”, a sua sobrevivência, ou seja, a “ilusão”, o “engano”,o “erro” – o que em Die Geburt der Tragödie é traduzido pelo“apolíneo”), permitiria caracterizar de uma forma bem mais exataas idéias abordadas ao longo deste trabalho. A dificuldade que te-mos em desapossarmo-nos desse prendimento à “verdade”, i. e. deuma orientação na vida, qualquer que ela seja, está bem patente na“vontade de verdade mística” nietzschiana. Será Dioniso o últimoDeus, aquele para além do qual já não se acredita, já não se buscaa “verdade”?
Abstract: The purpose of this paper is to present a foundational problemof the Nietzschean philosophical proposal. Nietzsche’s first book, The Birthof Tragedy, sheds light upon a possibility of an empirical metamorphosis,which depends on a revolutionary insight into human nature. The mostsignificant element to the metamorphosability of experience in The Birth ofTragedy consists in the Appollonian-Dionysian complementary character.This issue is of fundamental importance for the Philosophy of Knowledge– in its intrinsic relation to the anthropological inquiry. Thus, the articleintends to set out this problematic epistemology, which roots in a natural-ized fastening to a questionable way of being.Key-words: Apollonian – Dionysian – epistemology – metamorphosis.

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
113cadernos Nietzsche 16, 2004 |
notas
1 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studien-ausgabe (KSA) in 15 Bänden, Herausgegeben von GiorgioColli und Mazzino Montinari, Walter de Gruyter, Berlin/New York, Neuausgabe 1999 (1980, 1988) (KritischeGesamtausgabe: 1967-1977). Die Geburt der Tragödie. Oder:Griechenthum und Pessimismus: KSA I, 9-156 (“Versucheiner Selbstkritik”: 11-22). Edição portuguesa: Obras Es-colhidas de Friedrich Nietzsche (OE), 7 volumes, Introdu-ção Geral de António Marques, “Friedrich Nietzsche:Imoralismo e Verdade. Apresentação de Alguns Tópicosda Filosofia de Nietzsche”, OE 1 (O Nascimento da Tragé-dia e Acerca da Verdade e da Mentira), pp. v-lxxiii, RelógioD’Água, Lisboa, 1997-2000. O Nascimento da Tragédiaou Mundo Grego e Pessimismo: OE 1, pp. 5-211 (“Ensaiode autocrítica”: pp. 7-20), Tradução (pp. 5-172), Comen-tário (pp. 173-178) e Notas (pp. 179-211) de Teresa R.Cadete, Prefácio de António Marques, “O Nascimento daSuprema Máscara: Dioniso”, pp. lxxvii-lxxxv. Os “Epílo-gos” (Nachworte) de Colli, escritos originalmente em italia-no para a edição da Adelphi e traduzidos para alemão naKSA, estão reunidos no livro Scritti su Nietzsche, Adelphi,Milano, 1980. Edição portuguesa: Escritos sobre Nietzsche,Tradução e Prefácio de Maria Filomena Molder,“Ensinamento sobre a experiência da veneração”, pp. vii-xix, Relógio D’Água, Lisboa, 2000.
2 No “Epílogo” de Giorgio Colli podemos ler: “Mas O Nasci-mento da Tragédia não é uma interpretação histórica. Pre-cisamente no momento em que parece desenvolver-se comotal, transforma-se numa interpretação de todo o helenismoe, como se não lhe bastasse sequer esta perspectiva incer-ta, torna-se definitivamente numa visão filosófica total”(COLLI 2, p. 8).

Venturinha, N.
114 | cadernos Nietzsche 16, 2004
3 A primeira ocorrência deste termo (que atualmente se grafaMass), a partir da qual Nietzsche introduz “desmedida” ou“excesso” (Uebermaass ou, na grafia actual, Übermass), éno capítulo 4 de Die Geburt der Tragödie, KSA I, 40. Ascitações seguirão a grafia original que se encontra na KSA.
4 KSA VI, 255-374 (“Die Geburt der Tragödie”: 309-315).Edição portuguesa: Ecce Homo. Como vir a ser o que se é,OE 7 (O Anticristo, Ecce Homo e Nietzsche contra Wagner),pp. 109-242 (“O Nascimento da Tragédia”: pp. 172-178),Tradução de Paulo Osório de Castro, Prefácio de AntónioMarques, “No Fim do Círculo: Nietzsche contra Wagnerou Dioniso contra Cristo”, pp. iii-ix.
5 Escreve Nietzsche: “Sim, o que é o dionisíaco? Neste livroestá uma resposta a tal pergunta – nele fala um ‘conhece-dor’, o iniciado e apóstolo do seu deus” (OE 1, p. 12).
6 Encontramos esta expressão logo no início da obra, concre-tamente no “Vorwort an Richard Wagner”, KSA I, 24 [“Pre-fácio a Richard Wagner”, OE 1, pp. 21-22]. O substantivoneutro Ernst pode ser traduzido por “seriedade”, “gravi-dade”, “sinceridade”, “exactidão”, termos que conduzem,numa só expressão, a uma identificação entre “autentici-dade” e “fundo problemático da vida”.
7 Uma interessante especificação do conceito de “criação” éapresentada por Gilles Deleuze em Différence et répétition,PUF, Paris, 1968, III, “L’image de la pensée”, p. 177:“Quand Nietzsche distingue la création des valeurs nouvelleset la récognition des valeurs établies, cette distinction ne doit,certes, pas être comprise d’une manière relative historique,comme si les valeurs établies avaient été nouvelles en leurtemps, et comme si les nouvelles valeurs demandaientsimplement du temps pour s’établir. Il s’agit en vérité d’unedifférence formelle et de nature, et le nouveau reste pourtoujours nouveau, dans sa puissance de commencement et derecommencement, comme l’établi était établi dès le début,

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
115cadernos Nietzsche 16, 2004 |
même s’il fallait un peu de temps empirique pour lereconnaître.”
8 Cf. KSA VI, 311; 312.9 Cf. KSA I, 13.10 Cf. KSA I, 41.11 Cf. KSA I, 33.12 Cf. KSA I, 52; 59, 60, 62, 63.13 Diz Nietzsche: “É com base neste conhecimento que te-
mos de entender a tragédia grega como sendo o corodionisíaco que se extravasa, de forma contínua e semprerenovada, num mundo apolíneo de imagens.” (OE 1, p.65); e continua: “Assim, o drama constitui a simbolizaçãoapolínea de formas dionisíacas de conhecimento e de re-percussão […].” (Ibidem)
14 Cf. KSA I, 57-58.15 Esta “desmedida” é identificada com “embriaguez”, “êx-
tase” (Rausch), ou seja “esquecimento-de-si”, precisamen-te aquilo que a metafísica ocidental critica. Cf. KSA I, 28-29; 30.
16 No prefácio a OE 1 António Marques refere: “[…] Nietzscheé, neste primeiro período da sua obra, kantiano quantobaste: a coisa em si é-nos inacessível pelo logos ou discur-so racional/argumentativo e nenhuma nomeação objectivadessa entidade é plausível. Mas se essa é uma situaçãoantropológica inevitável, o que não é inevitável é o esqueci-mento dessa situação, isto é, um encerramento no purofenoménico, no instituído, como se este fosse tudo, semjanelas para o não fenoménico, o não instituído. Este é onúcleo n’O Nascimento da Tragédia: como no ensaio sobrea verdade e a mentira, o problema consiste em activar umamemória de um objecto originalmente não dissimulado,não deslocado em linguagem que o represente e por isso

Venturinha, N.
116 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mesmo o esconda. Essa é certamente uma memória de umlugar e objectos míticos. Mas a filosofia de Nietzsche de-senvolve já nesta altura um elemento ou uma qualidadeque a vai definir: o perspectivismo. Como funciona ele aqui?Pela ficção de um mundo possível, visto ou imaginado apartir de um outro sujeito com qualidades praticamentedescontínuas em relação às nossas. O mundo visto da pers-pectiva dionisíaca é, neste quadro, um mundo possível edescontínuo em relação ao nosso fenoménico. Descontínuo,no entanto reconhecível como mundo possível. Como seriaum mundo sem dissimulação instituída pelo logos? Essa éa experiência e a simulação mais importante segundo ONascimento da Tragédia.” (pp. lxxxiv-lxxxv)
17 KSA IV. Edição portuguesa: Assim Falava Zaratustra. Umlivro para todos e para ninguém, OE 4, Tradução de PauloOsório de Castro, Prefácio de António Marques, “Zaratustrae o Renascer do Trágico”, pp. iii-xxx.
18 Cf. KSA I, 21-22; 118-119; 132; KSA 6, 313; 314.19 KSA II. Edição portuguesa: Humano, Demasiado Huma-
no. Um livro para espíritos livres, OE 2, Tradução de PauloOsório de Castro, Prefácio de António Marques, “’Huma-no, Demasiado Humano’: Objectividade e Possibilidade doJuízo Moral”, pp. iii-xiii.
20 Sobre estes problemas Deleuze tem um texto esclarecedorna Logique du sens (Les Éditions de Minuit, Paris, 1997[1969]), pelo menos produtor de aporias suficientementeinteressantes para que possamos reflectir melhor sobre estaproblemática. Escreve ele na quinzième série, “des singu-larités”, pp. 130-131: “Ce furent toujours des moments ex-traordinaires, ceux où la philosophie fit parler le Sans-fondet trouva le langage mystique de son courroux, de son infor-mité, de son aveuglement: Boehme, Schelling, Schopenhauer.Nietzsche fut d’abord de ceux-là, disciple de Schopenhauer,dans la Naissance de la Tragédie, quand il fit parler Dionysos

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
117cadernos Nietzsche 16, 2004 |
sans fond, l’opposant à l’individuation divine d’Apollon, etnon moins à la personne humaine de Socrate. C’est le pro-blème fondamental de ‘Qui parle en philosophie?’ ou quelest le ‘sujet’ du discours philosophique? Mais, quitte à faireparler le fond informe ou l’abîme indifférencié, de toute savoix d’ivresse et de colère, on ne sort pas de l’alternativeimposée par la philosophie transcendantale aussi bien quepar la métaphysique: hors de la personne et de l’individu,vous ne distinguerez rien... Aussi la découverte de Nietzscheest-elle ailleurs, quand, s’étant libéré de Schopenhauer et deWagner, il explore un monde de singularités impersonnelleset pré-individuelles, monde qu’il appele maintenant diony-siaque ou de la volonté de puissance, énergie libre et nonliée. Des singularités nomades qui ne sont plus emprisonnéesdans l’individualité fixe de l’Etre infini (la fameuseimmuabilité de Dieu) ni dans les bornes sédentaires du sujetfini (les fameuses limites de la connaissance). Quelque chosequi n’est ni individuel ni personnel, et pourtant qui estsingulier, pas du tout abîme indifférencié, mais sautant d’unesingularité à une autre, toujours émettant un coup de dés quifait partie d’un même lancer toujours fragmenté et reformédans chaque coup. Machine dionysiaque à produire le sens,et où le non-sens et le sens ne sont plus dans une oppositionsimple, mais co-présents l’un à l’autre dans un nouveaudiscours. Ce nouveau discours n’est plus celui de la forme,mais pas davantage celui de l’informe: il est plutôt l’informelpur. ‘Vous serez un monstre et un chaos’… Nietzsche répond:‘Nous avons réalisé cette prophétie’. Et le sujet de ce nouveaudiscours, mais il n’y a plus de sujet, n’est pas l’homme ouDieu, encore moins l’homme à la place de Dieu. C’est cettesingularité libre, anonyme et nomade qui parcourt aussi bienles hommes, les plantes et les animaux indépendamment desmatières de leur individuation et des formes de leur person-nalité: surhomme ne veut pas dire autre chose, le type supérieurde tout ce qui est. Etrange discours qui devait renouveler la

Venturinha, N.
118 | cadernos Nietzsche 16, 2004
philosophie et qui traite le sens enfin non pas comme prédicat,comme propriété, mais comme événement.” No prefácio men-cionado Maria Filomena Molder observa: “Assim FalavaZaratustra é a obra de Nietzsche em que as palavras pare-cem surgir da esfera das experiências primitivas, de talmodo que as suas palavras não se referem, por meio detransposições imaginativas, a sentimentos e conceitos jáinstituídos e constituídos. A expressão nietzschiana nãorevela outra expressão, mas aquilo a que Colli chama a‘imediatez’, o fundo da vida. Por isso os seus conceitos sãosímbolos de qualquer coisa que não tem figura, são ex-pressões nascituras.” (pp. xvi-xvii)
21 A expressão é de Colli in Dopo Nietzsche, Adelphi, Milano,1988 (1974), p. 103. Colli percebeu, de uma maneiraextraordinária, que Nietzsche, aquele que queria abolir todaa verdade, toda a crença, é, no entanto, o maior dos místi-cos, aquele que arriscou a vida como nenhum outro, o queseguiu o seu Deus, Dioniso, sacrificando a sua própria vida.
22 Cf. KSA VI, 313.23 KSA I, 873-890. Edição portuguesa: “Acerca da Verdade
e da Mentira no Sentido Extramoral”, OE 1, pp. 213-232,Tradução de Helga Hoock Quadrado.

Sobre a Metamorfoseabilidade da Experiência em Die Geburt der Tragödie
119cadernos Nietzsche 16, 2004 |
referências bibliográficas
1. COLLI, G. Dopo Nietzsche. Milão: Adelphi, 1988.
2. _______. Scritti su Nietzsche. Milão: Adelphi, 1980. Edi-ção portuguesa: Escritos sobre Nietzsche, Tradução ePrefácio de Maria Filomena Molder. Lisboa: RelógioD’Água, 2000.
3. DELEUZE, Gilles. Différence et repetition. Paris: PUF,Paris, 1968
4. _______. Logique du sens. Paris: Les Éditions de Minuit,1997.
5. NIETZSCHE, F. Obras Escolhidas de Friedrich Nietzsche.Organizada e prefaciada por António Marques. Lis-boa: Relógio D’Água, 1997-2000.
6. _______. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA)in 15 Bänden, Herausgegeben von Giorgio Colli undMazzino Montinari, Walter de Gruyter, Berlin/New York,Neuausgabe 1999.


Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
121cadernos Nietzsche 16, 2004 |
* Tradução: Vânia Dutra de Azeredo.** Colaborador Honorário do Departamento de Filosofia na Universidade de Málaga.
Nietzsche: o pluralismoe a pós-modernidade*
Marco Parmeggiani**
Resumo: A crise da subjetividade foi a problemática que marcou o sécu-lo XX nas diversas manifestações da cultura e, especialmente, da filo-sofia. Os fundamentos dessa crise, contudo, encontram-se já no séculoXIX. Partindo desses pressupostos, o presente artigo objetiva esboçar aslinhas básicas do pluralismo como tarefa fundante do pensamentonietzschiano, tanto no âmbito teorético como no da cultura, da sociedadee da antropologia.Palavras-chave: pluralismo – pós-modernidade – perspectivismo
A crise da subjetividade foi a problemática que marcou o sécu-lo XX nas diversas manifestações da cultura e especialmente dafilosofia, sobretudo durante sua última metade, e que, sem dúvida,persistirá premente durante o novo século. Mas os fundamentosdessa crise encontram-se já no século XIX. Entre as grandes figu-ras desse século, uma parece alçar-se no horizonte gradativamente,até chegar, imponente, a ultrapassar-nos. Porque talvez nenhumagerou tanta distância, produziu fratura entre si mesma e sua época.Nietzsche foi o único pensador – incluindo também os do séculoXX – que, com relação à reflexão da crise do sujeito, envolveu to-

Parmeggiani, M.
122 | cadernos Nietzsche 16, 2004
dos os aspectos da existência, da cultura e do conhecimento huma-no. Outros, também grandes – Heidegger, por exemplo –, só abor-daram a problemática sob aspectos que, embora importantes, eramparticulares. A radicalidade de seu pensamento atinge o fulcro dasubjetividade moderna: o sujeito do conhecimento. Seu questiona-mento radical abre as vias para uma superação da metafísica e daModernidade. Todavia, o problema, para Nietzsche, não é propria-mente desfazer-se da metafísica e abandoná-la no passado; mas sim,uma vez reconhecido que a crise radical do sujeito já é dada, con-seguir ‘instalar-nos’ e ‘mover-nos’ nela. O perspectivismo represen-ta, nesse caso, um dos intentos ou tentativas (Versuchung) básicas.É a ferramenta mais efetiva que Nietzsche utiliza para pôr à prova e‘congelar’ a força ilusória do conceito de sujeito cognoscente, e li-bertar o conhecimento humano do permanente auto-engano comque, durante séculos, as forças da moral têm trabalhado dia a dia,em cada rincão de nossa vida, para submetê-lo e bloqueá-lo: o su-jeito único com sua verdade única.
Sobre esses pressupostos, o presente artigo objetiva esboçar aslinhas básicas do pluralismo como tarefa fundante (gründendeAufgabe) do pensamento nietzschiano, tanto no âmbito teoréticocomo no da cultura, da sociedade, da antropologia, etc. Linhas queprocuraram deslindá-lo de outras proposições pluralistas dominan-tes em nossa pós-modernidade.
Na atualidade, nada é mais reivindicado do que o pluralismo.Nada está tão na ordem do dia como a diversidade de opiniões, decrenças, de formas de pensar e inclusive de sentir. O pluralismo é apalavra mágica de nossa época “pós-moderna”. No fundo, ninguémacredita em um “único padrão”, na vigência de valores absolutos emenos ainda de verdades absolutas. A opinião comum, em todos osâmbitos da atividade humana, prefere a pluralidade de pontos devista, antes da unicidade. Mas este fenômeno se estendeu até afetaro indivíduo em si mesmo. Não se reivindicam somente necessida-

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
123cadernos Nietzsche 16, 2004 |
des de indivíduos com crenças e opiniões distintas e sim algo mais:a coexistência no mesmo homem de formas de pensar e de sentirdistintas. Valoriza-se aquele que não se encerra em uma perspecti-va, que não se agarra a um “gosto” específico, que não busca forjaruma personalidade esgotando sua individualidade sob certas quali-dades muito determinadas. Valoriza-se a versatilidade anímica e depensamento. Esta dissolução do sujeito foi antecipada e descritaadmiravelmente por Musil, na figura do ‘homem sem qualidades’:
“De seu aspecto não podes decidir seu ofício, e, contudo, nãoparece um homem sem profissão. Figura-te como és: sabe sempreo que tem que fazer; sabe olhar nos olhos de uma mulher; poderefletir com agilidade a qualquer momento e é capaz de lutar. Temengenho, vontade, é despreocupado, valente, perseverante, resolvi-do, prudente... não quero adentar-me numa análise, pode ser quepossua todas essas qualidades. Mas ele não as possui. Elas fizeramdele o que ele é, marcaram seu caminho e, sem dúvida, não lhepertencem. Quando está indignado, há algo nele que ri. Quandoestá triste, prepara-se para fazer alguma coisa. Quando um senti-mento o comove, o rejeita. Toda ação má parece-lhe, desde algumponto de vista, boa. Somente uma possível conexão determinará seujuízo sobre um fato. Para ele não há nada firme, tudo é transfor-mável, tudo é parte de uma totalidade, de inumeráveis totalidades,talvez de uma supertotalidade que ele desconhece por inteiro. Porisso, todas as suas respostas são respostas parciais; seus sentimen-tos, opiniões; e de toda coisa não lhe interessa o ‘que’, mas o ‘como’marginal, a ação secundária e acessória”1.
Certamente, não são poucos, ou não se lhes ouve pouco, osdetractores apocalípticos, os que vertem todas suas suspeitas sobreessa maneira de ser plural do homem pós-moderno. No fundo sen-tem-se como todo o mundo – sem qualidades –, mas não o aceitame experimentam esse pluralismo como uma carência que lhes róipor dentro. Hoje em dia ser dogmático volta a ter o mesmo atrativo

Parmeggiani, M.
124 | cadernos Nietzsche 16, 2004
que teve nos tempos de Platão e do primeiro cristianismo. De modoque o mentir a si mesmo, o não reconhecer nossa condição, o nãofazer uso dela e atribui-la à liberdade viciada do homem atual, oconvencer-se a cada momento do dia de que os valores e verdadesabsolutos são possíveis – a condição do primeiro cristão, segundodescreve Nietzsche no Anticristo2 –, é o único que volta a se entusias-mar, que volta a sustentar nossa existência como um único sentidovigoroso que a ultrapassa. Os guias da moral voltam a vociferar queos valores e verdades absolutos são o único caminho para sair des-se estado de dissolução, como se eles não houvessem sido a causadireta dela.
Desde logo, em nossa época pós-moderna a confusão não domi-na pouco. O pluralismo não é único, mas há de muitos tipos, e commais razão tratando-se dele. É curioso que os defensores do plura-lismo caiam precisamente nas antigas dicotomias, do mesmo modoque ocorre com os dogmáticos: pluralismo/monismo de verdades evalores, de forma que se não se é um, se é o outro. O pluralismoconsiste, justamente, em romper as dicotomias e em reconhecer,portanto, que certas formas de pluralismo podem distanciar-se maisde outras formas de pluralismo mesmo do que de todo monismo.As relações entre as formas de pensar e sentir já não são lineares,nem os espaços que as configuram são quadriculados. A fim deevitar o dogmatismo, nem tudo vale. O pluralismo não deve ser umamera empresa de reação, que se conforma em assinalar ‘o que nãose deve fazer’, do que se há de afastar, mas ser cada vez mais deafirmação positiva. A nós interessa distinguir o pluralismo nietzschia-no, para captar melhor a especificidade de seu perspectivismo e desua filosofia da interpretação. Não se deve confundir nem com olocalismo nem com o ecletismo, imperantes hoje em dia.
O localismo é a reação previsível dos velhos códigos frente aoindelével movimento de decodificação ao qual o capitalismo sub-mete sociedades, culturas e indivíduos – sob este ponto de vista, a

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
125cadernos Nietzsche 16, 2004 |
globalização, tão em voga atualmente, não é mais do que um des-dobramento ulterior . Como nota Deleuze, a peculiaridade do capi-talismo é que seus dispositivos de poder não se baseiam em proces-sos de codificação, como ocorria nas sociedades pré-capitalistas3.Sua grande força de expansão e permeabilização do social e do in-dividual reside em que utiliza como elemento aquilo que constituíaa subversão e o terror para os outros tipos de sociedade: os proces-sos de decodificação. Ali onde se estende o livre mercado e sua leida oferta e da procura, destroem-se os costumes, os usos, as insti-tuições, quer dizer, os códigos que sustentavam as sociedades anti-gas. O capitalismo gera a perda da ‘terra’, como o ‘lugar’ de enrai-zamento do indivíduo, da sociedade, da cultura. Todavia, esteenraizamento não se processa em um lugar qualquer, mas somentenaquele lugar que dá sentido, dá razão, justifica, sem ter ele mes-mo uma justificação, uma razão ulterior. A terra é a expressão da-quele lugar que exerce a função de fundamento (Grund) sem sê-lopropriamente, porque dá sentido e razão sem ter ele mesmo umsentido ou uma razão. É como o fundo, que sem ser figura, é o queconstitui e dá sentido à figura que se forma sobre ele. No âmbito dacultura toma a forma da ‘tradição’. A esfera da tradição, o enraiza-mento na terra, está para além, ultrapassa a esfera da utilidade eda calculabilidade, a esfera do cálculo exaustivo das razões e dasconseqüências, do homo oeconimicus. Contrariamente ao que se crê,a essência da tradição não é funcionar como um sentido último,absoluto, que dá sentido a nossa existência. O enraizamento na tra-dição é um submergir as próprias raízes na terra, quer dizer, naausência de sentido, mas em seu significado positivo, não no nega-tivo da carência, enquanto é fonte plena de múltiplos sentidos, me-tas, fins e valores para nossa existência.
Não se deve confundir a crítica nietzschiana da moral e do pen-samento metafísico com a crítica ilustrada à tradição. O questiona-mento da moral não é propriamente um questionamento da tradição,

Parmeggiani, M.
126 | cadernos Nietzsche 16, 2004
mesmo sendo certo que a moral configurou certa tradição que é aque Nietzsche ataca especificamente. Nietzsche não recusa toda atradição, o conceito de tradição em si, mas unicamente a tradiçãomoral. Mais ainda, desde O nascimento da tragédia, questiona avisão moral do mundo por constituir-se e funcionar como condiçãode possibilidade de toda tradição. Sócrates e sua ironia represen-tam a arrogância do entendimento que se põe por cima da tradiçãoda qual depende intrinsecamente, para julgá-la desde uns supostosvalores absolutos4 Os valores e sentidos incondicionados, própriosda visão moral do mundo, não conformam a tradição porque a ne-gam em suas bases existenciais. Ésquilo e Sófocles fundam suasraízes nesse solo-fundo (Boden) da tradição, extraindo dele, comocondição a priori, multiplicidades de sentido que por isso mesmosão irredutíveis às dicotomias morais5. Pelo contrário, Eurípides põeem questão e desliga-se petulantemente da tradição helênica, des-de um sentimentalismo da moral, em que tudo se resolve no confli-to ‘dramático’, no combate entre o Bem e o Mal – ainda que nãotenha fim –, em busca de uma razão última –Grund, o grande guiado Bem – capaz de proporcionar um sentido autêntico a nossa exis-tência, separando-nos do fundo múltiplo e caótico que a constitui6.
Frente a estes incessantes processos de ‘desterritorialização’7
dos quais se alimenta o capitalismo, os grupos humanos e suas cul-turas reagem ressuscitando em si mesmos atavismos ancestrais.Nietzsche considera ilusória e nefasta a pretensão de recuperar essesolo originário da tradição, conservando e reanimando usos, costu-mes, crenças e valores peculiares da ‘nação’8. A forma preponde-rante que assume o localismo, em sua época mas também na nossa,é o nacionalismo. O nacionalismo, por um lado, é ilusório porqueessa recuperação não pode ser mais que externa e superficial, qua-se exótica, pois fica reduzida a incluir de novo em nossa existênciaelementos que já são completamente estranhos a ela. Mas, por ou-tro lado, o nacionalismo é nefasto porque não percebe que esses

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
127cadernos Nietzsche 16, 2004 |
elementos tradicionais, peculiares de cada nação européia, estãosustentados por valores básicos absolutamente ‘falsos’: os valoresmorais. De modo que, se o fim de toda tradição é o acréscimo davida, as tradições tal e como se constituíram na Europa em últimainstância são tradições niilistas que negam o fim mesmo para o qualfuncionam. O nacionalismo termina sendo então uma das melhoresformas modernas de continuar a tarefa da moral: bloquear acriatividade dos indivíduos e das sociedades.
O que talvez caracteriza melhor a nossa época ‘pós-histórica’,em todos os âmbitos do saber e das artes, seja o ecletismo. O ho-mem atual parece adotar, em todos os âmbitos da vida, uma atitudeeclética: seleciona desenvoltamente aqui e ali o que por momentoslhe convém, lhe interessa, o estimula ou o convence, desvinculandoidéias, percepções e afetos das totalidades nas quais estão integra-das. Renuncia a adscrever-se em um ponto de vista determinado,já não vê necessidade em esgotar até o fundo as possibilidades deuma perspectiva, mas prefere tomar de cada uma o que em cadamomento lhe convém. ‘Eclético’, eklektikós, procede do verbo gre-go eklégo, que significa escolher. O eclético é aquele que, diantedas diversas maneiras de pensar e sentir o mundo e a si mesmo,não assume uma em bloco, mas escolhe de cada uma o que maislhe convence. No âmbito filosófico, o sentido do ecletismo derivada transformação que sofreram as antigas escolas filosóficas gregasa partir de começos do século II a. C. Também nesse caso solidifi-cou um pluralismo que pareceu parar a história do pensamentodurante séculos: já não havia evolução de umas escolas a outras,nas quais se sucediam perspectivas mutuamente excludentes, masa coexistência em um espaço comum de elementos soltos muito di-versos (aristotélicos, platônicos, estóicos, pitagóricos, etc.), abertosa uma possibilidade infinita de combinação entre si. Acusou-se oecletismo de proceder de maneira superficial: não se podem extrairconteúdos parciais e isolados das totalidades as quais pertencem e

Parmeggiani, M.
128 | cadernos Nietzsche 16, 2004
lhe dão um sentido específico; isto conduz a um processo de justa-posição de conteúdos heterogêneos, que gera muitas incoerências.Na realidade, ao eclético do final do século XX as incoerências nãopreocupam; degusta a nova possibilidade de albergar incoerênciasna própria forma de ser e de pensar. As incoerências e contradi-ções convertem-se nas vias privilegiadas pelas quais o pluralismo sedesenvolve. Por isso, nossa época pós-moderna é cada vez mais pós-racional, e não simplesmente pós-racionalista. Costuma-se procla-mar que a razão absoluta entrou em crise, porém sem entendercorretamente este acontecimento. O que entrou em crise não foi sóa razão do idealismo ou do racionalismo, mas a razão mesma en-quanto valor em si. Está cada vez mais difundido, entre intelectu-ais, artistas e homens comuns, a convicção de que a razão não con-duz por si mesma nem à verdade nem ao bem, nem tampouco podepor si mesma aproximar-nos deles em um progresso sem fim que ospersiga como metas ideais. Uma certa espécie de relativismo pre-domina cada vez mais: a razão – em especial a razão científica –,o pensamento dedutivo que esclarece os problemas, a base do exa-me crítico de argumentos e fatos, não conduz a teorias verdadeiras,mas unicamente ‘mais úteis’, com as quais podemos controlar e ma-nipular melhor a realidade. Isto ocorre em todos os âmbitos nosquais se aplica, não somente nas ciências da natureza, mas tambémnas ciências humanas e sociais. A razão não nos ensina como é arealidade, mas somente como manejá-la. No âmbito prático, a ra-zão passou de subministradora do critério último para a ordenaçãodo comportamento humano individual e coletivo a um mero instru-mento técnico a serviço das outras dimensões humanas: os desejos,as emoções, os sentimentos e etc. Tem-se a íntima convicção – ain-da que haja quem não queira reconhecê-lo – de que a razão já nãopode decidir em último termo o que está bem e o que está mal, masque deve limitar-se a satisfazer o melhor possível nossos desejos einstintos. O homem contemporâneo está convencido de que somente

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
129cadernos Nietzsche 16, 2004 |
como razão técnica ou instrumental a razão segue sendo poderosa eimpondo sua influência tirânica. Toda esta pós-racionalidade (teóri-ca e prática) justifica a atitude eclética atual diante das contradi-ções e incoerências; frente à racionalidade, ela prefere tomar o ca-minho oposto e imbuir-se do caráter contraditório da vida.
Na realidade, o defeito do ecletismo é outro. A atitude ecléticaé um sintoma claro de debilitamento da capacidade criativa no in-divíduo. O eclético justapõe, não compõe nem desenvolve, porquese limita a mesclar de maneira engenhosa elementos heterogêneos.É fácil ver, sobretudo no campo da arte, que o paradigma do ecléticoé a mescla. Não pode chegar com ela a nada ulterior porque lhefalta justamente capacidade criativa. Ao longo da história houvegrandes temperamentos sintéticos, capazes de assimilar os elemen-tos mais heterogêneos e convertê-los em próprios: Bach, Mozart ouStravinski são exemplos claros. Mas ao eclético lhe falta precisa-mente essa capacidade de fazer próprios elementos tão distintos.Tampouco são suas as ‘estruturas abertas’ das vanguardas artísticas,como na música norte-americana – Charles Ives ou Elliot Carter –,baseadas na ausência mesma de relações formais entre os compo-nentes9: estas formas geram algo mais do que a mera mescla e pos-suem a assinatura inconfundível de seu autor. A mescla ecléticanão logra gerar nada novo e se decompõe em seus elementos frenteao interlocutor enfastiado. Tudo isso se conecta plenamente com ofato de que nossa pós-modernidade é também, no campo artístico,a era das pós-vanguardas10. Do mesmo modo no plano do pensa-mento, o eclético contemporâneo perdeu o ânimo explorador e expe-rimentador das vanguardas artísticas desse século, porque só lhepreocupa restabelecer códigos comuns, consensos, processos decomunicação garantidos, etc. – além disso, dispõe de toda umaampla e complexa teoria ética que o justifica. Em definitivo, oecletismo é um falso pluralismo, porque nasce da incapacidade, dacarência de espontaneidade e criatividade próprias do ser humano.

Parmeggiani, M.
130 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Ainda que com outros termos, Nietzsche já analisava uma si-tuação parecida da cultura em 1873, em sua primeira Considera-ção extemporânea, David Strauss, o devoto e o escritor. Utilizava osconceitos de estilo e epigono. “A cultura é antes de tudo a unidadede estilo artístico em todas as manifestações vitais de um povo. [...]A barbárie [...] a carência de estilo e a mistura caótica de todos osestilos”11. Nietzsche analisava o caso particular da Alemanha, ondeeste fenômeno estava se dando de modo marcante: “O homem ale-mão de nossos dias vive imerso, sem dúvida, nessa mistura caóticade todos os estilos. [...] Cada uma das visadas a sua própria indu-mentária, as suas próprias habitações, as suas próprias vivendas,cada um dos passos dados pelas ruas de suas cidades, cada umadas visitas realizadas às lojas dos mercadores da moda artística. [...]O que há aí é uma justaposição e uma superposição grotesca detodos os estilos possíveis”12. O homem converte-se em um sujeitoabstrato: usa como há muito tempo os diversos estilos possíveis devida de uma maneira que não afetam seu ser, porque no fundo jánão há ser algum que pudessem afetar: “O homem alemão amon-toa ao seu redor as formas, cores, produtos e objetos raros de todosos tempos e de todos os lugares e com eles fabrica aquele coloridodiverso de feira de coisas modernas que logo seus doutos hão deconsiderar e formular como o ‘moderno em si’; ele mesmo perma-nece, por sua parte, sentado tranqüilamente em meio a essa confu-são de todos os estilos”13. Nietzsche denuncia antes de tudo o que,sob aparência de pluralidade e vasta tolerância, não é produtivo:essa forma vital carece de “uma cultura real e efetiva, uma culturaprodutiva [eine wirkliche, productive Kultur], qualquer que seja seuvalor”14. “Mas se salta aos olhos que nem nossa vida pública nemnossa vida privada levam em si a assinatura de uma cultura produ-tiva e dotada de estilo”15. Esse é a tríade de Nietzsche para revelara essência do homem pós-moderno: se a cultura consiste essencial-mente em possuir um estilo de vida, ter estilo é ser produtivo.

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
131cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Nietzsche utiliza assim o conceito de epigono para caracterizara cultura do fim do século XIX. A “epigonalidade” não é uma pro-priedade oculta, mas uma condição conscientemente reconhecida eassumida com satisfação pelo homem do final do século. Mais doque inventar essa conceptualização, Nietzsche a assinalou e a res-saltou, a pôs em evidência, no texto de Strauss, como sintoma ine-quívoco de decadência na cultura alemã. “Excogitaram o conceitode ‘idade de epígonos’ com o único fim de estar tranqüilos e depoder dispor do veredicto recusador de ‘obra de epígono’ para opô-lo a toda inovação incômoda”16. O sentimento epigonístico reconhecea impossibilidade para o “último homem” de ir além dos mestresconsagrados. Esta impossibilidade converte-se em um dever quan-do se reconhece que nem se pode nem é desejável explorar novoscaminhos no pensamento, na arte e na vida. A idade de epígonos éuma nova época com relação à idade anterior de busca e explora-ção. Já não há nada para buscar porque todas as possibilidades jáestão aí disponíveis em qualquer momento. Depois do imenso es-forço dos grandes mestres, não tem sentido criar novas formas desentir e de pensar: só cabe parafraseá-los, parodiá-los, ou imitá-los.Os motivos, como sempre que se tenta bloquear pujantes forças vi-vas, são morais: não é aceitável para o bem-estar social a carga dedestruição afirmativa – com seus ingredientes inevitáveis de violên-cia e crueldade – que supõe toda exploração de novas vias; só é útiluma atitude construtiva. “Enquanto se simulava odiar o fanatismo ea intolerância em todas as suas formas, o que no fundo se odiavaera o genius dominador e a tirania das exigências de uma culturareal e efetiva; por isso foi pelo que se aplicaram todas as forças emcausar um efeito paralisador, embotador ou dissolvente em todosaqueles lugares onde acaso coube aguardar movimentos frescos epoderosos”17. A conseqüência de tudo isso é que nas épocasepigônicas se segue cultivando, e inclusive promove-se mais do quenunca, a arte e o pensamento, mas procurando sempre que não

Parmeggiani, M.
132 | cadernos Nietzsche 16, 2004
afetem o conjunto de nossa existência. Pondo a vista tantas propos-tas distintas e simultâneas, essas épocas dão uma forte aparênciade pluralismo. Mas o homem epigônico prefere a segurança maisdo que o risco, a utilidade mais do que a efetiva auto-superação, esó lhe interessa dedicar-se à arte e ao pensamento profissionalmen-te – desde logo, não surpreende que as coincidências com nossaépoca deixam de ser iluminadoras –. Nietzsche inventou um termopara assinalar o registro do espírito epigonístico: Bildungsphilister,o filisteu da cultura, o “cultifilisteu”. Se na vida estudantil alemã,filisteu “designa a antítese do filho das Musas, do artista, do autên-tico homem da cultura”18, o “cultifilisteu” “diferencia-se da idéiauniversal do gênero ‘filisteu’ por uma crença supersticiosa: o cultifi-listeu cria a ilusão de ser ele mesmo um filho das Musas e um ho-mem da cultura”.19 O epígono também cultiva a arte e o pensamen-to, mas sempre dentro de limites muito precisos, marcados pelasformas de poder estabelecidas: “Ele permitiu a todo mundo, e a simesmo, sofismar, investigar, estetizar um pouco, antes da tudo fa-zer poesia e música, também fabricar quadros, assim como filosofiascompletas: só que, por Deus, entre nós tudo tinha que seguir iguala antes”20. De modo surpreendente, aqui Nietzsche se aproxima deMarx: estas formas de poder são antes de tudo a divisão do traba-lho e o capitalismo burguês, que levam a efeito uma cisão entre oindivíduo e sua força produtiva: “Muito lhe agrada, certamente, en-tregar-se de quando em quando aos simpáticos e temerários exces-sos da arte e da historiografia cética, e não tem em pouca estima asexcitações causadas por tais objetos de distração e entretenimento:mas separa rigorosamente a ‘seriedade da vida’, quer dizer, suaprofissão, seus negócios, além de sua mulher e seus filhos, das zom-barias, e destas últimas fazem parte mais ou menos tudo aquilo quese relaciona com a cultura”21. Tais condições “materiais” provo-cam a marginalização e o exílio das vanguardas artísticas: “Por isso,pobre da arte que começa a tomar-se a sério a si mesma e propõe

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
133cadernos Nietzsche 16, 2004 |
exigências que atentem contra sua ganância, seu negócio, seus há-bitos, quer dizer, contra sua seriedade de Filisteu... aparta seus olhosde semelhante arte como se estivesse vendo algo obsceno, e com ogesto próprio de um guardião da castidade adverte a toda virtudenecessitada de amparo que nem sequer se lhe ocorra mirar”22.O homem epigonal começa a elaborar, já no final do século XIX,um conceito que lhe permitirá neutralizar todo intento de auto-su-peração, de ultrapassamento das redes de poder: a saúde. Em vir-tude da medicalização e psiquiatrização progressivas que a socie-dade sofreu ao longo do século XX , ficou patente o enorme efeitode dissuasão e controle que podem ter novos conceitos junto a no-vas práticas sociais: “Para qualificar seus próprios hábitos, seusmodos de considerar as coisas, seus repúdios e suas preferências, ofilisteu inventa ainda a fórmula ‘saúde’, que tem uma eficácia ge-ral, e com ela passa por cima de todos os desmancha-prazeresincômodos, arremessando sobre eles a suspeita de que são uns en-fermos e uns extravagantes”23. Esta saúde é oposta à “grande saú-de” teorizada por Nietzsche, pelo menos em um aspecto básico: asaúde do último homem funciona como o princípio de conservação(do indivíduo e da coletividade), enquanto a “grande saúde” funcio-na como o princípio de auto-superação, contido na dimensão doVersuch. O ensaio e o experimento deslocam a vida incessantemen-te aos seus últimos limites, ao seu limiar.
O pluralismo nietzschiano não tem nada a ver com o ecletismo.O ecletismo não se compromete com as possibilidades que toma,não se imbui delas; adota permanentemente uma atitude de desa-pego com a qual combina sem amarras isto ou aquilo, sem lhe im-portar muito os conteúdos específicos; só lhe interessa achar novosestímulos. Com todo seu pluralismo, o eclético atual conserva inde-lével a mitologia do sujeito: a categoria de escolha supõe um agen-te, sem coações exteriores ou interiores, que livremente pode dis-por das possibilidades segundo suas preferências. O ecletismo é

Parmeggiani, M.
134 | cadernos Nietzsche 16, 2004
quase a apoteose da subjetividade: o sujeito reduz-se a mero sujeitosem qualidades intrínsecas porque dispõe livremente delas. Frentea ele, o pluralismo nietzschiano segue uma direção inteiramentedistinta: na dimensão do Versuch, um experimento condutor (Leit-versuch) é o “congelamento” implacável do conceito metafísico desujeito, até conseguir extrair suas conseqüências extremas. O eclé-tico nega-se a reconhecer a “injustiça necessária” de toda perspec-tiva, de todo ponto de vista, e por isso aspira no fundo ao mesmo aque aspirava o pensamento metafísico: alcançar um ponto de vistasituado fora de toda perspectiva, ou, o que é o mesmo, uma perspec-tiva que abarque todas – ainda que seja como ideal inatingível eregulador. Esta perspectiva absoluta é o fulcro do conceito metafí-sico de sujeito, e em fundar sua possibilidade baseia-se toda a‘metafísica da subjetividade’. Não é a subjetividade o que faz possí-vel a prática e o conhecimento fora de toda perspectiva, mas é anegação do perspectivismo o que dá sentido a subjetividade oci-dental. A prova é que o postulado de uma perspectiva absoluta ani-nha no começo mesmo da metafísica ocidental, em Platão, emborasó mais tarde, com Descartes, adquirirá sua plena configuração comosujeito, depois de haver passado por um necessário processo decristianização (Agostinho de Hipona). Em conclusão, o pluralismonietzschiano não tem nada a ver com o ecletismo pós-moderno, por-que Nietzsche o elabora como perspectivismo, para congelar a ilu-são metafísica do sujeito, que de maneira tão efetiva segue atuandosob as formas mais recentes de pensamento.
Qual é a vinculação efetiva entre morte de Deus e morte dosujeito? Circula uma trivialização dos conceitos nietzschianos, pelaqual se crê achar a atualidade de seu pensamento no diagnósticodo tempo presente. O mal-entendido reside em assumir os concei-tos de morte de Deus e morte do sujeito, estabelecendo entre elesuma relação causal que não é própria. Pensa-se que, para Nietzsche,a morte de Deus é o acontecimento histórico que está provocando

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
135cadernos Nietzsche 16, 2004 |
no mundo moderno a morte do homem. A perda da transcendênciaestá gerando na existência humana uma carência total de sentido.O homem vive desorientado, sem estímulo, sem exigência nem ca-pacidade para integrar suas múltiplas vivências em um único cursoe forjar assim, pouco a pouco, sua personalidade. A vida avançadando solavancos sem poder manter um rumo fixo, o indivíduo dis-persa-se e cada vez torna-se mais difícil salvar a coesão social. Masquem assim interpreta – salvando a inquestionabilidade de váriosfenômenos concretos – está dominado pelo sentimento de reaçãoante o niilismo contemporâneo, pois anseia recuperar a vigência dosantigos valores absolutos, o sentido da transcendência. É a típicaatitude moral, que, como diz Nietzsche, intenta lutar contra a deca-dência e recuperar a antiga virtude. A interpretação nietzschianada conexão entre morte de Deus e morte do sujeito é bem distinta.É prévia não a morte de Deus, mas a morte do sujeito, enquantorepresenta as condições sob as quais se produz o acontecimento dadesvalorização dos valores supremos. Nietzsche insiste que comambos conceitos intenta descrever não o processo efetivo do niilis-mo, mas a sua lógica24. Nossa época caracteriza-se pelo aconteci-mento da morte de Deus porque seu processo histórico é anadificação da existência humana: o progressivo afloramento do nadaque jazia latente na forma ocidental de vida. Marcada pelo cristia-nismo e pela moral, a vida ocidental foi sendo construída, com umou outro desvio, na base de um permanente negar-se a si mesma ascondições essenciais a toda forma vital; a vida tem-se desenroladoa expensas de bloquear os campos de força sobre os quais se ba-seia toda a vida. A expressão acabada desta auto-negação vital –deste nada – é o Deus cristão e os valores que representa. Funcio-navam como um plano de transcendência que garantia e assegura-va essa forma vital completamente contraditória em si mesma. Por-tanto, a tese de Nietzsche é que só esse tipo existencial de niilismolarvado tornou possível a criação do Deus cristão: foi sua condição

Parmeggiani, M.
136 | cadernos Nietzsche 16, 2004
de possibilidade, mas não sua causa, já que este tipo existencialoriginou-se em outros lugares, com outros conceitos – a solução al-ternativa à mesma exposição, que costuma contrapor Nietzsche aocristianismo, é o budismo e seu conceito de nirvana. Com a nadifi-cação da vida ocidental, com a dissolução conseqüente do homemocidental naquilo que configura sua própria identidade, a transcen-dência perde pouco a pouco as condições existenciais, as configu-rações de força que a imbuíam de sentido. É a morte do sujeito oevento histórico-existencial que provoca a morte de Deus, e não ocontrário. Por isso, a grande contribuição de Nietzsche não é o anún-cio da morte de Deus – velho anúncio já em sua época – mas ohaver entendido e interpretado de maneira muito mais penetrante oacontecimento em si mesmo – com relação a um Schopenhauer,um Feuerbach, etc. –: explorando, recorrendo às forças que o le-vam a efeito, até o ponto de achá-las plasmadas na condição niilistado homem ocidental. Esta encerra em si mesma um complexo deforças, que havendo permitido seu desenvolvimento, agora trans-bordam-na, laceram-na e fendem-na no irrefreável processo de suaautodissolução. Por conseguinte, o objetivo de Nietzsche não é res-saltar a tragicidade do evento da morte do sujeito, como fizeramtantos pensadores apocalípticos no século XX; mas ao contrário:manter o que de trágico e dramático já lhe havia conferido a cria-ção de transcendências – pois se fazia para tentar estancar ou in-verter o processo, para “combater” a decadência – , a fim decompreendê-lo e assumi-lo plenamente. A morte do sujeito não é oacontecimento trágico de nossa época, porque bem compreendidotem sido desde o princípio o evento fundante da civilização ociden-tal: aquele que de maneira latente porém não menos operante temcondicionado todas as manifestações de nossa civilização. É o even-to que em nossa época aflora como morte de Deus.

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
137cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Abstract: Crisis of subjectivity is the dilemma which marked the 20th cen-tury in its main cultural expressions, especially in philosophy. The foun-dations of this crisis, however, are already given in the 19th century. Set-ting out from these presuppositions, the present article intends to draw thebasic outlines of pluralism as the fundamentals of Nietzsche’s thought, asmuch in the theoretical range as in culture, society and anthropology.Key-words: pluralism – post-modernity – perspectivism
notas
1 R. Musil, El hombre sin atributos, trad. J. M. Sáenz, Barce-lona: Seix Barral, vol. I, 1993, 4 ed., (1969), lib. I, parteI, § 17, p. 80. Corrigimos ligeiramente a tradução.
2 “Moral da história: toda palavra na boca de um ‘primeirocristão’ é uma mentira, toda ação que ele realiza, uma fal-sidade instintiva” (AC/AC, § 46).
3 Cf. G. Deleuze, El antiedipo. Capitalismo e esquizofrenia,trad. F. Monge, Barcelona: Paidós, 1985, cap. III, §§ 9 e10, p. 229-269.
4 Cf. sobretudo a exaustiva análise de G. B. Smith, Nietzsche,Heidegger and the transition to postmodernity. Chicago:University of Chicago, 1996.
5 Pense-se como é difícil enquadrar sob a dicotomia moralbom/mau tragédias como Os sete contra Tebas, Os Persas etodo Sófocles.
6 Sobre como a razão construtiva é o pressuposto último dopensamento moral e metafísico, veja-se meu livro Perspec-tivismo y subjetividad em Nietzsche, Málaga: Analecta Mala-citana, 2002, cap. I, p. 57-64.

Parmeggiani, M.
138 | cadernos Nietzsche 16, 2004
7 Utilizo o termo adotado por Deleuze, embora não sob omesmo conceito, cf. G. Deleuze – F. Guattari, Mil mesetas.Capitalismo e esquizofrenia, trad. Vázquez Pérez, Pre-Tex-tos, Valencia, 2 ed., cap. 9, p. 213-237.
8 São numerosos os textos da crítica ao nacionalismo, umlugar privilegiado de condensação acha-se em Para alémde bem e mal, § 256.
9 Cf. C. Kühn, Tratado de la forma musical, trad. M. A.Centenero Gallego, Barcelona: Labor, 1992, p. 29-32.
10 Note-se a esse respeito a diferença substancial entre o de-lineamento atual de um compositor que tem pertencido àsvanguardas musicais da segunda metade do século XX,György Ligeti, e as atitudes pós-modernistas. Sua inauditaenergia criadora só podia conduzir Ligeti a declarar seudistanciamento expresso com relação à falta de compro-misso e Versuchung em grande parte da pós-modernidade:“minhas composições escapam completamente a toda ca-tegorização: não são nem ‘de vanguarda’ nem ‘tradicio-nais’, nem tonais nem atonais. E certamente tampouco pós-modernas”. U. DIBELIUS, György Ligeti. Eine Monographiein Essays, Schott, Mainz, 1994, p. 35-36. Em suas últimasobras-primas – o “Concerto para piano e orquestra” ou“Estudos para piano” – reúne uma multiplicidade de ele-mentos heteróclitos, que derivam dos grandes mestres doteclado clássico (Scarlatti, Chopin, Schumann, Debussy),das peças para piano mecânico de Nancarrow, de certosfraseados jazzísticos (Monk e Evans), de ritmos e timbresdas músicas da África susbsriana, e das matemáticas (for-mas fractais), mas “compondo-as” umas com outras de talmaneira que o resultado gerado é inteiramente pessoal eimpele sem cessar a mente, a sensibilidade e afetividadeaté seus próprios limiares de percepção.
11 Consieraciones intempestivas I. David Strauss, el confessor yel escritor (e fragmentos póstumos), ed. Sánchez Pascual,Madrid: Alianza, 1988, § 1, p. 30-31.

Nietzsche: o pluralismo e a pós-modernidade
139cadernos Nietzsche 16, 2004 |
12 Idem, § 1, p. 30-31.13 Idem, § 1, p 32.14 Id. ibidem.15 Idem, § 2, p 34.16 Idem, § 2 p 41.17 Idem, § 2, p 42.18 Idem, § 2, p 35.19 Idem.20 Idem, § 2, p 43.21 Idem, § 2, p 44. Modifico consideravelmente a tradução.22 Idem, § 2, p 44. Modifico consideravelmente a tradução.23 Idem, § 2, p 44-45.24 Cf. meu livro Mudando reposa. Desafios de Nietzsche,
Málaga: Ágora, 2002.
referências bibliográficas
1. DELEUZE, G. El antiedipo. Capitalismo e esquizofrenia,trad. F. Monge, Barcelona: Paidós, 1985.
2. DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Mil mesetas. Capitalis-mo e esquizofrenia, trad. Vázquez Pérez, Pre-Textos,Valencia.
3. DIBELIUS, U. György Ligeti. Eine Monographie in Essays,Schott, Mainz, 1994.
4. KÜHN, Tratado de la forma musical, trad. M. A. CenteneroGallego, Barcelona: Labor, 1992, p. 29-32.

Parmeggiani, M.
140 | cadernos Nietzsche 16, 2004
5. MUSIL, R. El hombre sin atributos, trad. J. M. Sáenz,Barcelona: Seix Barral, vol. I, 1993.
6. NIETZSCHE, F. Sämtliche Werke – Kritische Studien-ausgabe. Berlim/Munique: de Gruyter/dtv, 1980.
7. _______. Consieraciones intempestivas I. David Strauss, elconfessor y el escritor (e fragmentos póstumos), ed.Sánchez Pascual, Madrid: Alianza, 1988.
8. PARMEGGIANI, Marco. Perspectivismo y subjetividad emNietzsche, Málaga: Analecta Malacitana, 2002.
9. _______. Mudando reposa. Desafios de Nietzsche, Málaga:Ágora, 2002.
10. SMITH, G. B. Nietzsche, Heidegger and the transition topostmodernity. Chicago: University of Chicago, 1996.

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
141cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Convenção para a citaçãodas obras de Nietzsche
Os cadernos Nietzsche adotam a convenção proposta pela ediçãoColli/Montinari das Obras Completas do filósofo. Siglas em portuguêsacompanham, porém, as siglas alemãs, no intuito de facilitar o trabalhode leitores pouco familiarizados com os textos originais.
I. Siglas dos textos publicados por Nietzsche:
I.1. Textos editados pelo próprio Nietzsche:
GT/NT – Die Geburt der Tragödie (O nascimento da tragédia)DS/Co. Ext. I – Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück: David Strauss:
Der Bekenner und der Schriftsteller (Considerações extemporâneas I:David Strauss, o devoto e o escritor)
HL/Co. Ext. II – Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzenund Nachteil der Historie für das Leben (Considerações extemporâneasII: Da utilidade e desvantagem da história para a vida)
SE/Co. Ext. III – Unzeitgemässe Betrachtungen. Drittes Stück: Schopen-hauer als Erzieher (Considerações extemporâneas III: Schopenhauercomo educador)
WB/Co. Ext. IV – Unzeitgemässe Betrachtungen. Viertes Stück: RichardWagner in Bayreuth (Considerações extemporâneas IV: Richard Wagnerem Bayreuth)

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
142 | cadernos Nietzsche 16, 2004
MAI/HHI – Menschliches Allzumenschliches (vol. 1) (Humano, demasiadohumano (vol. 1))
VM/OS – Menschliches Allzumenschliches (vol. 2): Vermischte Meinungen(Humano, demasiado humano (vol. 2): Miscelânea de opiniões e sen-tenças)
WS/AS – Menschliches Allzumenschliches (vol. 2): Der Wanderer und seinSchatten (Humano, demasiado humano (vol. 2): O andarilho e suasombra)
M/A – Morgenröte (Aurora)IM/IM – Idyllen aus Messina (Idílios de Messina)FW/GC – Die fröhliche Wissenschaft (A gaia ciência)Za/ZA – Also sprach Zarathustra (Assim falava Zaratustra)JGB/BM – Jenseits von Gut und Böse (Para além de bem e mal)GM/GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral)WA/CW – Der Fall Wagner (O caso Wagner)GD/CI – Götzen-Dämmerung (Crepúsculo dos ídolos)NW/NW – Nietzsche contra Wagner
I.2. Textos preparados por Nietzsche para edição:
AC/AC – Der Antichrist (O anticristo)EH/EH – Ecce homoDD/DD – Dionysos-Dithyramben (Ditirambos de Dioniso)
II. Siglas dos escritos inéditos inacabados:
GMD/DM – Das griechische Musikdrama (O drama musical grego)ST/ST – Socrates und die Tragödie (Sócrates e a tragédia)DW/VD – Die dionysische Weltanschauung (A visão dionisíaca do mundo)GG/NP – Die Geburt des tragischen Gedankens (O nascimento do pensa-
mento trágico)BA/EE – Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Sobre o futuro de
nossos estabelecimentos de ensino)

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
143cadernos Nietzsche 16, 2004 |
CV/CP – Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern (Cinco prefáciosa cinco livros não escritos)
PHG/FT – Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (A filosofiana época trágica dos gregos)
WL/VM – Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (Sobre ver-dade e mentira no sentido extramoral)
Edições:Salvo indicação contrária, as edições utilizadas serão as organizadas
por Giorgio Colli e Mazzino Montinari: Sämtliche Werke. Kritische Stu-dienausgabe em 15 volumes, Berlim/Munique, Walter de Gruyter & Co./DTV, 1980 e Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe em 8 volumes,Berlim/Munique, Walter de Gruyter & Co./DTV, 1986.
Forma de citação:Para os textos publicados por Nietzsche, o algarismo arábico indicará
o aforismo; no caso de GM/GM, o algarismo romano anterior ao arábicoremeterá à parte do livro; no caso de Za/ZA, o algarismo romano remete-rá à parte do livro e a ele se seguirá o título do discurso; no caso de GD/CI e de EH/EH, o algarismo arábico, que se seguirá ao título do capítulo,indicará o aforismo.
Para os escritos inéditos inacabados, o algarismo arábico ou romano,conforme o caso, indicará a parte do texto.
Para os fragmentos póstumos, o algarismo romano indicará o volumee os arábicos que a ele se seguem, o fragmento póstumo.

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
144 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Contents
Nietzsche: life and metaphor 7Eric Blondel
Nietzsche and the reading of EduardHanslick’s On the Musically Beautiful 53Anna Hartmann Cavalcanti
Schopenhauer, Nietzscheand the critic of universitary philosophy 85Jarlee Oliveira Silva Salviano
On Metamorphosability of Experiencein Nietzsche’s Die Geburt der Tragödie 99Nuno Venturinha
Nietzsche: pluralism and post-modernity 121Marco Parmeggiani

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
145cadernos Nietzsche 16, 2004 |
NOTES TO CONTRIBUTORS
the author’s last name, initials,followed by the year of publi-cation in parentheses, should beheaded ‘References’ and placedon a separate sheet in alphabe-tical order.
3. All articles will be strictly refer-eed, but only those with strictilyfollowed the convention ruleshere adopted for the Nietzsche’sworks.
INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
1. Os trabalhos enviados parapublicação devem ser inéditos,conter no máximo 55.000caracteres (incluindo espaços) eobedecer às normas técnicas daABNT (NB 61 e NB 65) adapta-das para textos filosóficos.
2. Os artigos devem ser acompa-nhados de resumo de até 100palavras, em português e inglês(abstract), palavras-chave emportuguês e inglês e referênciasbibliográficas, de que devemconstar apenas as obras citadas.Os títulos dessas obras devem
ser ordenados alfabeticamentepelo sobrenome do autor enumerados em ordem cres-cente, obedecendo às normasde referência bibliográfica daABNT (NBR 6023).
3. Reserva-se o direito de aceitar,recusar ou reapresentar o origi-nal ao autor com sugestões demudanças. Os relatores de pa-recer permanecerão em sigilo.Só serão considerados para apre-ciação os artigos que seguirema convenção da citação das obrasde Nietzsche aqui adotada.
1. Articles are considered on theassumption that they have notbeen published wholly or in parte lse-where. Contr ibut ionsshould not normally exceed55.000 characters (includingspaces).
2. A summary abstract of up to 100words should be attached to thearticle. A bibliographical list ofcited references beginning with

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
146 | cadernos Nietzsche 16, 2004
Os cadernos Nietzsche visam a constituir um forum de debates emtorno das múltiplas questões colocadas acerca e a partir da reflexãonietzschiana.
Nos cem anos que nos separam do momento em que o filósofo interrom-peu a produção intelectual, as mais variadas imagens colaram-se à sua figu-ra, as leituras mais diversas juntaram-se ao seu legado. Conhecido sobretudopor filosofar a golpes de martelo, desafiar normas e destruir ídolos, Nietzsche,um dos pensadores mais controvertidos de nosso tempo, deixou uma obrapolêmica que continua no centro da discussão filosófica. Daí, a oportunidadedestes cadernos.
Espaço aberto para o confronto de interpretações, os cadernosNietzsche pretendem veicular artigos que se dedicam a explorar as idéiasdo filósofo ou desvendar a trama dos seus conceitos, escritos que se consa-gram à influência por ele exercida ou à repercussão de sua obra, estudos quecomparam o tratamento por ele dado a alguns temas com os de outros auto-res, textos que se detêm na análise de problemas específicos ou no exame dequestões precisas, trabalhos que se empenham em avaliar enquanto um todoa atualidade do pensamento nietzschiano.
Ligados ao GEN – Grupo de Estudos Nietzsche, que atua junto aoDepartamento de Filosofia da USP, os cadernos Nietzsche contam difundirensaios de especialistas brasileiros e traduções de trabalhos de autores es-trangeiros, artigos de pesquisadores experientes e textos de doutorandos emestrandos ou mesmo graduandos.
Publicação que se dispõe a acolher abordagens plurais, os cadernosNietzsche querem levar a sério este filósofo tão singular.

Convenção para a citação das obras de Nietzsche
147cadernos Nietzsche 16, 2004 |
Founded in 1996, cadernos Nietzsche is published twice yearly - ev-ery May and September. Its purpose is to provide a much needed forum in aprofessional Brazilian context for contemporay readings of Nietzsche. In par-ticular, the journal is actively committed to publishing translations of contem-porary European and American scholarship, original articles of Brazilian re-searchers, and contributions of postgraduated students on Nietzsche’sphilosophy.
Cadernos Nietzsche is edited by Scarlett Marton with an internation-ally recognized board of editorial advisors. Fully refereed, the journal hasalready made its mark as a forum for innovative work by both new and estab-lished scholars. Contributors to the journal have included Wolfgang Müller-Lauter, Jörg Salaquarda, Mazzino Montinari, Michel Haar, and Richard Rorty.
Attached to GEN – Grupo de Estudos Nietzsche, which takes placeat the Department of Philosophy of the University of São Paulo, cadernosNietzsche aims at the highest analytical level of interpretation. It has a cur-rent circulation of about 1000 copies and is actively engaged in expandingits base, especially to university libraries. And it has been sent free of chargeto the Brazilian departments of philosophy, foreigner libraries and researchinstituts, in order to promote the discussion on philosophical subjects andparticularly on Nietzsche’s thought.