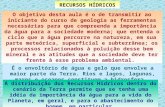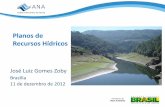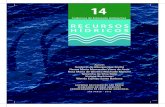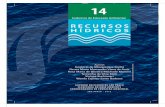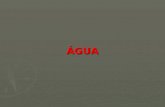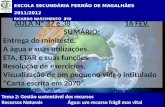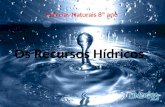DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO … · 3 1. INTRODUÇÃO O século vinte passou por...
Transcript of DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO … · 3 1. INTRODUÇÃO O século vinte passou por...
DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL
Carlos E. M. Tucci Instituto de Pesquisas Hidráulicas – UFRGS
SAMTAC - GWP
Janeiro- 2004
2
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................................3 2. VISÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS...................................................................................5
2.1 Institucional .....................................................................................................................5 2.1.1 legislação ..................................................................................................................5 2.1.2 Outorga .....................................................................................................................6 2.1.3 Meio Ambiente .........................................................................................................7 2.1.4 Financiamento do setor .............................................................................................8
2.2 Desenvolvimento urbano .................................................................................................9 2.2.1 Impactos....................................................................................................................9 2.2.2 Institucional ............................................................................................................10
2.3 Agricultura .....................................................................................................................12 2.4 Energia ..........................................................................................................................13 2.5 Navegação......................................................................................................................13 2.6 Eventos críticos..............................................................................................................14 2.7 Meio Ambiente ..............................................................................................................14 2.8 Formação de pessoal e Ciência e Tecnologia ................................................................15 2.9 Plano Nacional de Recursos Hídricos............................................................................16
3. EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS............................................................................................18
3.1 Visão institucional .........................................................................................................18 3.2 Desenvolvimento urbano ...............................................................................................19 3.3 Agricultura .....................................................................................................................20 3.4 Energia ...........................................................................................................................21 3.6 Navegação......................................................................................................................22 3.7 Eventos críticos e conservação ambiental .....................................................................22 3.8 Ciência eTecnologia ......................................................................................................22
4. SÍNTESE...............................................................................................................................23
4.1 O problema: Desenvolvimento dos recursos hídricos no Brasil....................................23 4.2 Ações desenvolvidas......................................................................................................24 4.3 Resultados......................................................................................................................26
5. CONCLUSÕES....................................................................................................................27
3
1. INTRODUÇÃO
O século vinte passou por várias transições que marcaram o desenvolvimento dos recursos hídricos e o meio ambiente no Brasil e a nível internacional (tabela 1). Este processo caracteriza a relação entre o crescimento econômico e populacional e a busca da sustentabilidade ambiental.
Logo após a 2o guerra mundial, houve a necessidade de grande investimento em infra-estrutura, principalmente para recuperar os países que sofreram com o conflito, seguido por uma fase de crescimento econômico e de população em muitos países desenvolvidos. Neste período ocorreu uma forte industrialização e aumento dos adensamentos populacionais que resultou numa crise ambiental devido a degradação das condições de vida da população e dos sistemas naturais.
No início da década de 70 iniciou a pressão ambiental para reduzir estes impactos, com ênfase no controle dos efluentes das industrias e das cidades. O Brasil investia fortemente em hidrelétricas, anos em que as grandes barragens do rio Paraná foram construídas. O movimento ambiental no Brasil se resumiu a um conflito no rio Guaíba no rio Grande do Sul pela operação de uma fábrica de papel. Nos anos 80 o mundo enfatizou os efeitos do clima global, onde os principais focos foram: o acidente de Chernobyl, impacto do desmatamento de florestas e o uso de barragens. No Brasil observou-se a aprovação da lei ambiental em 1981; grande pressão sobre os investimentos internacionais em hidrelétricas, pelo seu impacto ambiental local e talvez global em regiões como a Amazônia. Foram eliminados os empréstimos internacionais para construção de hidrelétricas, com grande impacto na capacidade de expansão deste sistema no Brasil. A maioria da empresas consultoras voltadas para projetos hidrelétricos tiveram redução de pessoal da ordem de 90%. No final dos anos 80 (em 1987) começa a discussão da lei de recursos hídricos onde três grupos setoriais disputam forças: energia, meio ambiente e agricultura.
Os anos 90 foram marcados pelo seguinte: concepção do desenvolvimento sustentável que busca o equilíbrio entre o investimento no crescimento dos países e a conservação ambiental; o desenvolvimento dos recursos hídricos de forma integrada, com múltiplos usos; e o início do controle da poluição difusa nos países desenvolvidos. Os investimentos internacionais no Brasil, que atuavam principalmente no setor energético, se voltaram para investimentos na recuperação ambiental, de efluentes domésticos e industriais das cidades (estágio observado nos países desenvolvidos nos anos 70), iniciando com as grandes metrópoles brasileiras e na conservação dos grandes biomas brasileiros. No ambiente institucional, na metade da década, foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos, que apoiou a discussão e finalmente a aprovação da lei de recursos hídricos em janeiro de 1997. Algumas legislações estaduais já tinham sido aprovadas e outras foram induzidas pela legislação federal. Assim, se completa o primeiro estágio do desenvolvimento institucional do país. Também neste período, entre o final da década de 80 e os anos 90 houveram reformas no Estado brasileiro que permitiram apoiar a aprovação da legislação e a formação do setor de recursos hídricos dentro do governo. Anteriormente, este setor era comandado setorialmente através do Ministério de Energia, das entidades ambientais e pelo período que existiu o Ministério de Irrigação.
O início do novo século (e milênio) está marcado internacionalmente pelo movimento pela busca de uma maior eficiência no uso dos recursos hídricos dentro de princípios básicos de Dublin e consolidados na Rio 92. A Nações Unidas definiu as chamadas metas do milenium para redução pobreza, e tem na água e saneamento o foco principal. Estas metas foram consolidadas em Johanesburgo e discutidas em diferentes Fóruns depois disto, como a 3º Conferência Mundial da Água em Kyoto em 2003. Em síntese estas metas, no âmbito da água, estabelecem que deve-se procurar reduzir pela metade o número de pessoas sem água potável e saneamento até 2015. O relatório contratado pela Global Water Partnership, GWP e World Water Council (WWC) denominado de Camdessus (coordenado pelo ex-presidente do FMI), introduziu propostas para os elementos econômicos financeiros para busca da viabilidade das metas propostas. O Brasil tem uma boa cobertura serviços de abastecimento de água, se comparados com a maioria dos países em desenvolvimento, mas necessita de fortes investimentos para atingir a meta do saneamento.
4
Tabela 1 Comparação dos Períodos de desenvolvimento (adaptado de Tucci, et al, 2000) Período Países desenvolvidos Brasil
1945-60 Crescimento industrial e
populacional
• Uso dos recursos hídricos: abastecimento, navegação, energia, etc
• Qualidade da água dos rios • Controle das enchentes com obras
• Inventário dos recursos hídricos; • Início dos empreendimentos hidrelétricos e
planos de grandes sistemas.
1960-70
Início da pressão ambiental
• Controle de efluentes; • Medidas não estruturais para
enchentes • Legislação para qualidade da água
dos rios
• Início da construção de grandes empreendimentos hidrelétricos;
• Deterioração da qualidade da água de rios e lagos próximos a centros urbanos.
1970-1980
Início do Controle ambiental
• Legislação ambiental • Contaminação de aqüíferos; • Deterioração ambiental de grandes
áreas metropolitanas; • Controle na fonte da drenagem
urbana, da poluição doméstica e industrial;
• Ênfase em hidrelétricas e abastecimento de água;
• Início da pressão ambiental; • Deterioração da qualidade da água dos rios
devido ao aumento da produção industrial e concentração urbana.
1980-90
Interações do Ambiente Global
• Impactos Climáticos Globais; • Preocupação com conservação das
florestas; • Prevenção de desastres; • Fontes pontuais e não pontuais; • Poluição rural; • Controle dos impactos da urbanização
sobre o ambiente • Contaminação de aqüíferos
• Redução do investimento em hidrelétricas; • Piora das condições urbanas: enchentes,
qualidade da água; • Fortes impactos das secas do Nordeste; • Aumento de investimentos em irrigação; • Legislação ambiental
1990-2000
Desenvolvimento Sustentável
• Desenvolvimento Sustentável; • Aumento do conhecimento sobre o
comportamento ambiental causado pelas atividades humanas;
• Controle ambiental das grandes metrópoles;
• Pressão para controle da emissão de gases, preservação da camada de ozônio;
• Controle da contaminação dos aqüíferos das fontes não-pontuais;
• Legislação de recursos hídricos • Investimento no controle sanitário das
grandes cidades; • Aumento do impacto das enchentes urbanas; • Programas de conservação dos biomas
nacionais: Amazônia, Pantanal, Cerrado e Costeiro;
• Início da privatização dos serviços de energia e saneamento;
2000-
Ênfase na água: metas do Milênio
das Nações Unidas
• Desenvolvimento da Visão Mundial da Água;
• Uso integrado dos Recursos Hídricos; • Melhora da qualidade da água das
fontes difusas: rural e urbana; • Busca de solução para os conflitos
transfronteriços; • Desenvolvimento do gerenciamento
dos recursos hídricos dentro de bases sustentáveis
• Avanço do desenvolvimento dos aspectos institucionais da água;
• Privatização do setor energético e de saneamento;
• Diversificação da matriz energética; • Aumento da disponibilidade de água no
Nordeste; • Planos de Drenagem urbana para as cidades.
De outro lado para buscar atender esta e outras metas existe um movimento enfatizado pelo
GWP, WWC, IWRA International Water Resource Association, entre outras ONGs internacionais, que buscam impulsionar o denominado IWRA, Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos, como meio de busca da sustentabilidade hídrica. A legislação brasileira contempla os princípios básicos do Gerenciamento Integrado, portanto a primeira etapa deste processo foi vencida. O
5
desenvolvimento institucional pós 1997 (depois da aprovação da lei de recursos hídricos) tem sido a regulamentação e implementação da legislação de recursos hídricos. Este processo de institucionalização foi marcado no Brasil pela criação da Secretaria de Recursos Hídricos (citado acima) e posteriormente a criação da ANA Agência Nacional da Água (em 2000) e a regulamentação da legislação que pressupõe a cobrança pelo uso da água e a penalização dos poluidores através do comitê e agências de bacia hidrográfica. Este cenário se mostra promissor à medida que existem regras e procedimentos que permitem a participação de todos os atores na definição do uso dos recursos hídricos e da sua preservação dentro do desenvolvimento econômico e social.
Este documento trata justamente desta fase recente do desenvolvimento institucional dos recursos hídricos no Brasil como um exemplo a ser avaliado pela comunidade internacional na busca de utilizar suas vantagens e evitar seus problemas. No item seguinte é apresentado um diagnóstico dos recursos hídricos no Brasil dentro de uma visão global. A seguir são apresentadas a evolução e tendência dos recursos hídricos e no capítulo 4 uma avaliação síntese das lições de sucesso e as dificuldades.
2. VISÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
Para melhor compreender os diferentes aspectos dos recursos hídricos dentro Brasil, seus desafios e a composição institucional necessária para desenvolver de forma integrada estes recursos de forma sustentável é apresentado neste capítulo uma visão sumária, em cada um dos setores principais da sociedade, dos componentes dos recursos hídricos.
Uma importante fonte de informações de apoio ao desenvolvimento sustentável são os documentos gerados dentro da Agenda 21 Brasileira, que foi criada com o objetivo de estabelecer uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o País, através da articulação entre o governo e sociedade. Este processo está sendo desenvolvido pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 (CPDS). Foram selecionadas áreas temáticas que refletem a realidade brasileira e são as seguintes: Agricultura Sustentável; Cidades Sustentáveis; Infra-estrutura e Integração Regional; Gestão dos Recursos Naturais; Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável; Redução das Desigualdades Sociais. Os documentos destes temas podem ser encontrados no site www.agenda21.org.br. Além destes documentos temáticos existem sínteses regionais de eventos sobre o assunto. Novaes (2000) apresentou uma avaliação dos documentos temáticos e regionais, resumindo os principais aspectos dos temas. A seguir são destacados os aspectos relacionados com os recursos hídricos destes documentos, caracterizando um diagnóstico do que tem ocorrido nos últimos anos.
2.1 Institucional 2.1.1 legislação
O texto legal básico que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos é a Lei n. 9433 de 8 de janeiro de 1997. Esta política se baseia dos princípios de Dublin, ou seja: (a) a água é um bem de domínio público; (b) a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico; (c) estabelece a prioridade para o consumo humano; (d) prioriza o uso múltiplo dos recursos hídricos; (e) a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento; (f) gestão descentralizada.
Os principais instrumentos da Política são os Planos, enquadramento dos rios em classes, outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, sistema de informações e a cobrança pelo uso da água. Os Planos devem englobar os Planos Estaduais e os Planos de Recursos Hídricos de bacias. Estes planos devem buscar uma visão de longo prazo, compatibilizando aspectos quantitativos e de qualitativos da água. O enquadramento trata de definição da compatibilidade da qualidade da água e os usos da mesma, buscando a minimização dos impactos de qualidade da água. O processo de outorga trata de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. A cobrança pelo uso
6
da água visa incentivar o uso racional da água e reconhecer a água como um recurso natural dotado de valor econômico.
A lei também estabelece que o mecanismo de gestão descentralizada ocorrerá através do comitê de bacia com o apoio de agência executiva. Apesar de enfatizar a descentralização, a própria legislação se contradiz ao estabelecer que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos deverá ter até 51% de representantes de entidades federais, o que o governo tem exercido neste limite. Os Estados que no Brasil são 26, possuem apenas cinco representações regionais.
A lei federal n. 9984 de 17 de julho de 2000 dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas ANA, entidade de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Algumas das principais atribuições da ANA são: outorgar o direito de uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União; prevenção contra secas e estiagens; fiscalizar os usos de recursos hídricos em rios de domínio da União; estimular a criação de comitê de bacia. No que se refere à energia hidráulica a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica deverá promover junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de reserva de disponibilidade hídrica.
A ANA, assim como o IBAMA, é vinculado ao Ministério de Meio Ambiente. Este ministério por meio da Secretaria de Recursos Hídricos- SRH estabelece as políticas de recursos hídricos e ações como o Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o órgão deliberativo do setor a nível federal. Este Conselho é constituído por membros federais (em sua maioria), representantes dos Estados, ONGs, setores usuários da água e entidades de pesquisa.
A Constituição Federal de 1988 define como um rio de domínio da União (constituição de 1988) todo rio que escoa através de mais de um Estado ou por trechos internacionais. De outro lado a lei 9.433 define a bacia como a unidade de abrangência de planejamento. Esta combinação de legislações tem gerado diferentes interpretações para bacias em que o rio na sua cabeceira é estadual e a jusante federal.
Os cenários são: (a) Um rio que escoa todo ele por um mesmo Estado (até a seção de interesse) e tem bacia hidrográfica em mais de um Estado; (b) um rio que escoa e tem sua bacia totalmente num mesmo Estado, mas é afluente de rio federal. Este é um vazio legal que pode gerar contestações judiciais.
Combinando a constituição e a lei das águas, apenas os rios que nascem num Estado e escoam para o mar seriam de domínio estadual, os demais de domínio da União. Na prática a ANA tem estabelecido convênios com os Estados para a promoção do comitê de bacia e a gestão estadual em sub-bacias de rios federais que englobem apenas um Estado. De outro, lado existem contestações sobre a abrangência da licença ambiental dentro do mesmo contexto, principalmente no caso (a) acima. A licença ambiental está relacionada com a área de influência do empreendimento, que muitas vezes pode levar a diferentes interpretações. Se a área de influência envolve áreas de mais de um Estado o ambiente de licença passa a ser federal.
2.1.2 Regulação
A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos foi estabelecida na lei 9.433, art 14, onde especifica que a mesma será efetivada por ato da autoridade competente do Poder executivo Federal, dos Estados ou do Distrito federal. No art 12, a referida lei dispõe que estão sujeitas as outorgas: (I) a derivação ou captação de água superficial ou subterrânea para consumo final, ou para insumo de processo produtivo; (II) o lançamento de esgotos resíduos líquidos e gasosos, tratados ou não, para fins de diluição, transporte ou disposição final; (III) o aproveitamento hidrelétrico das águas e qualquer outro uso das mesmas que altere o regime, quantidade ou qualidade das águas de um rio.
No caso da geração de energia elétrica a mesma estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, obedecida à disciplina da legislação setorial específica. A outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou prazo determinado, quando não forem cumpridos, pelo outorgado, os seus termos. Estas condições são: ausência de uso por três anos consecutivos; necessidade premente de água para atendimento de condições adversas; manter a navegabilidade do
7
rio. Esta outorga não poderá concedida por prazo que exceda 35 anos, mas é passível renovação. A outorga não implica na alienação das águas, mas o direito de uso.
A cobrança pelos usos outorgados da água foi prevista na Lei 9.433, art 20. Os recursos resultantes da cobrança devem ser aplicados prioritariamente nas bacias hidrográficas em que foram gerados. Em 2003 o processo de cobrança foi iniciado no rio Paraíba do Sul por meio de convocação à regularização de todos os usuários da bacia. Foi realizada uma ampla campanha de divulgação pública por meio de radio, televisão e jornais. Na tabela 2.1 é apresentado o resultado da declaração realizada de acordo com o tipo de usuário e a origem dos Estados envolvidos no Rio Paraíba do Sul. A outorga foi dada por três anos considerando o valor declarado pelo usuário como correto. Segundo a ANA está sendo desenvolvida uma fiscalização após da declaração dos usuários.
Tabela 2.1 Resumo das declarações recebidas. Classificação por finalidade do empreendimento e dominialidade dos pontos de captação e/ou lançamento (ANA,2003a).
Uso Estados Federal Total M.Gerais S. Paulo R.Janeiro
Abastecimento e Esgotamento Sanitário 63 56 46 93 219 Dessedentação Animal 52 512 17 109 2865
Indústria/Mineração 34 116 118 188 375 Irrigação 10 52 4 33 693
Outros usos 178 804 196 447 Observação: A soma dos valores correspondentes às diferentes dominialidades para uma dada finalidade pode não coincidir com o valor do número total de declarações indicado para esta finalidade, uma vez que nem todas as declarações podem ser classificadas do ponto de vista de dominialidade, ou, ainda, uma vez que há declarações que são classificadas em duas ou mais categorias de dominialidade.
2.1.3 Meio Ambiente
No âmbito de meio ambiente, a licença ambiental tem sido definida pelo Estado quando a área
de influência é estadual e de outro lado, quando o impacto envolve mais de um Estado a licença tem sido dada IBAMA.
A grande complexidade atual é que o processo de implementação dos usos da água passa por vários órgãos federais com diferentes entradas, o que torna o processo complexo, principalmente quanto aos aproveitamentos hidrelétricos. A ANEEL faz a licitação sem a licença ambiental, o empreendedor ao ganhar a licença do uso ainda não tem garantido a sua condição de usuário, pois os aspectos ambientais não foram analisados. Este processo é totalmente contra a racionalidade do desenvolvimento sustentável, na medida que os projetos não incorporam no estudo de alternativas os componentes ambientais. Novos procedimentos têm sido discutidos no âmbito das entidades federais e poderão ser implementados no futuro, como um guichê único de entrada dos projetos. Este processo está em discussão dentro do governo e deverá em breve ser produzida uma regulamentação sobre o assunto.
No processo de outorga a avaliação dos usuários e a quantidade de água outorgada passa pela definição das condições de escoamento remanescente para conservação ambiental. Não existem critérios bem definidos ou unificados sobre o assunto. Na tabela 2.2 abaixo são apresentados os critérios adotados em alguns estados Brasileiros
Para um trecho de rio onde o impacto fundamental é a carga efluente de esgotos domésticos e industriais a avaliação das suas condições sanitárias e a vazão remanescente associada deve priorizar as condições sanitárias e estabelecidas segundo uma vazão mínima. Na tabela 2.2 observa-se que o critério de definição de uma vazão remanescente está relacionado a um valor máximo outorgado. Isto indica que, por exemplo, ao definir a Q90 como vazão de referência, a vazão remanescente será 20% deste valor para garantir uma quantidade mínima de vazão no rio que permita a vida aquática e o atendimento da qualidade da água. No entanto, esta metodologia não garante que o rio manterá a sua biota, se por exemplo, toda a vazão for desviada, mantendo-se este valor mínimo durante todo o tempo.
8
Para um trecho de rio onde o impacto fundamental é um aproveitamento hidrelétrico deve-se procurar garantir através da vazão remanescente a variabilidade natural das vazões para que não produzam impactos sobre a biota do sistema aquático ao longo do tempo. Onde vários usos e seus impactos estiverem presentes num rio, deve-se procurar garantir os diferentes cenários ambientais e de disponibilidade hídrica para definição das vazões remanescentes no rio.
Tabela 2.2 Legislações adotadas nos Estados Brasileiros (Pereira, 2000).
Estado Decreto Critério de vazão de referência Vazão mínima Garantida
Bahia 6.296/1997
O valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem outorgados corresponde a 80% da vazão de referência do manancial; 95% nos casos de abastecimento urbano.
20% da vazão de referência.
Ceará 23.067/1994 O valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem outorgados não poderá exceder a 90% da vazão de referência.
10% da vazão de referência.
Distrito Federal
22.359/2001 A vazão de referência no processo de outorga pode ser a Q7,10 ou Q,90. O somatório das vazões a serem outorgadas não poderá exceder 80% das vazões de referência, e 80% das vazões regularizadas. No caso de abastecimento humano, o limite máximo poderá chegar a 90% da Q7,10.
20% da vazão de referência.
Rio Grande do Norte
13.283/1997 O valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem outorgados não poderá exceder a 90% da vazão de referência.
10% da vazão de referência.
Rio Grande do Sul
37.033/1996 O valor de referência será a descarga regularizada anual com garantia de 90%. O somatório dos volumes a serem outorgados corresponde a 80% da vazão de referência do manancial.
20% da vazão de referência.
Minas Gerais
Portaria n° 010 de 1996
O somatório dos volumes a serem outorgados corresponde a uma percentagem fixa de 30% da Q7,10
70% da vazão de referência
O critério de enquadramento dos rios em classes tem sido disciplinado pelo CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente (Resolução CONAMA 20, que está sendo revisado). O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes, visa principalmente assegurar às águas, qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. 2.1.4 Financiamento do setor
O setor de recursos hídricos está sendo financiado pela legislação de compensação financeira pela inundação de áreas pelos reservatórios energéticos. No futuro o objetivo será de ser financiado pela cobrança pelo uso da água. A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 estabelece que 6,75 % da energia produzida na Usina deve ser utilizada nesta compensação, onde 0,75 % é para financiar as ações referente a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos da lei federal pela ANA ( Agência recebe também outros recursos orçamentários). Do restante que são 6 % , 45% para Estados e a mesma parcela para municípios atingidos. Do restante, 3% para o Ministério de Meio Ambiente, 3% para o Ministério de Minas e Energia e 4% para Ciência e Tecnologia. A estimativa dos valores médios dos últimos 3 anos são apresentados na tabela 2.3 dos valores envolvidos. Estes são valores do
9
orçamento, mas infelizmente no Brasil o valor orçado não está disponível para execução. O Ministério da Fazenda contingencia os recursos do orçamento e apenas uma parcela do mesmo pode ser executada, variando de ano para ano. Apesar dos recursos ficarem em conta para uso futuro, o acesso ao mesmo não é permitido, visando o controle do déficit público do país. A parcela efetivamente executada pode ser da ordem de 50% do valor disponível.
Em resumo, a boa notícia é que o setor de recursos hídricos tem fonte permanente de financiamento, mas a má notícia é que mesmo arrecadado e explicitado em lei o recurso não fica disponível devido a artifícios gerado pelo governo para controle de gastos públicos que englobam todo o orçamento.
Tabela 2.3 Valores médios aproximados dos últimos três anos baseados em dados da ANA e
ANEEL. Entidade Parcela do total
arrecadado %
Valores R$ milhões
Valores em(*) US $
ANA 11,1 88,8 30,6 Estados 40 320 110,4 Municípios 40 320 110,4 MMA 2,67 21,36 7,37 MME 2,67 21,36 7,37 C & T Cthidro 3,56 28,48 9,8 Total 100 800 275,9 (*) estimativa com US $ 1 = R$ 2,9 Está previsto na legislação a cobrança pelo uso da água que deve financiar as ações
descentralizadas de gerenciamento de recursos hídricos na bacia hidrográfica. Este processo está no seu início com a bacia do Paraíba do Sul entre São Paulo e Rio de Janeiro pela sua estratégica representatividade econômica.
2.2 Desenvolvimento urbano 2.2.1 Impactos
A população urbana brasileira é de 83%, neste cenário foram geradas grandes metrópoles na capital dos Estados brasileiros. Estas regiões metropolitanas (RM) possuem um núcleo principal e várias cidades circunvizinhas. A taxa de crescimento na cidade núcleo da RM é pequena enquanto que o crescimento da periferia é muito alto. Este processo também ocorre em cidades que são pólos regionais de desenvolvimento. Cidades acima de 1 milhão crescem a uma taxa média de 0,9 % anual, enquanto os pólos regionais de população entre 100 e 500 mil, crescem as taxas de 4,8% (IBGE, 1998). Portanto, todos os processos inadequados de urbanização e impacto ambiental que se observaram nas RMs estão se reproduzindo nessas cidades de médio porte.
O crescimento urbano tem sido caracterizado por expansão irregular da periferia com pouca obediência da regulamentação urbana relacionada com o Plano Diretor e normas específicas de loteamentos, além da ocupação irregular de áreas públicas por população de baixa renda. Essa tendência dificulta o ordenamento das ações não-estruturais do controle ambiental urbano.
Os principais problemas relacionados com a ocupação do espaço podem ser resumidos no seguinte:
• a expansão irregular mencionada acima ocorre sobre as áreas de mananciais (conseqüência de uma legislação inadequada) de abastecimento humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades;
• Na medida que a população aumenta e se concentra em áreas urbanas, explora ao limite a disponibilidade hídrica. Além disso, produz efluentes que não tratados e despejados
10
nos rios inviabilizando o uso da água dos rios. Mesmo nas regiões com grande disponibilidade hídrica como a cidade de São Paulo, observa-se permanente racionamento da água, já que após o seu uso a água retorna aos rios totalmente contaminada inviabilizando os mananciais próximos;
• Além deste balanço desfavorável, as áreas urbanas são impermeabilizadas e o escoamento dos pequenos riachos canalizados. O resultado deste processo é o aumento da freqüência da ocorrência das inundações com grandes prejuízos (figura 2.1).
Estes problemas ocorrem devido a falta de gestão integrada da ocupação do solo urbano e dos recursos hídricos urbanos. Esta gestão deficiente se destaca nas seguintes ações: (a) contaminação de mananciais por ocupação irregular e falta de tratamento. Este processo vem ocorrendo devido a legislação equivocada e pela falta de gestão dos municípios; (b) Os serviços de água nas cidades brasileiras possuem problemas crônicos, com perda de água na distribuição e falta de racionalização de uso da água em nível doméstico e industrial.. Quando falta água, a tendência é de buscar novos mananciais sem que sejam reduzidas as perdas e desenvolvidas práticas para a racionalização do uso da água; (c) a grande carga de efluentes domésticos, industriais e pluviais sem tratamento despejado nos rios, junto com material sólido do lixo e da erosão, além do crescimento da inundação urbana como pode ser observado nos dados de Belo Horizonte (figura 2.1). Este processo é decorrência da deficiente gestão das empresas de saneamento e a falta de capacidade do município na gestão da ocupação do espaço e a transferência de impactos.
Figura 2.1 Evolução urbana e ocorrência de inundações em Belo Horizonte (adaptado de Ramos,
1998)
Os impactos diretos desta falta de gestão são: (a) deteriorização da saúde da população: 65% das internações hospitalares no Brasil são provenientes de doenças veiculadas pela água. Esse impacto é maior sobre a população de baixa renda que possui menor cobertura da infra-estrutura de água e saneamento; (b) inundações urbanas com prejuízos freqüentes para a população no tráfego, materiais e de vidas. Em janeiro de 2004 morreram mais de 80 pessoas no Brasil devido a inundações por afogamento ou escorregamento de encostas; (c) contaminação dos rios urbanos e aqüíferos; (d) redução da água segura distribuída para a população e racionamento de água.
2.2.2 Institucional
Na visão institucional do ambiente urbano devem-se destacar os seguintes aspectos institucionais: (a) usos e controle do solo; (b) abastecimento de água e esgotamento sanitário; (c) drenagem urbana; (d) resíduo sólido; (e) meio ambiente. No que se refere ao uso do solo as cidades brasileiras foram obrigadas a prepararem um Plano Diretor Urbano de acordo com a constituição brasileira de 1988. Os Planos desenvolvidos se limitaram a abordagem de aspectos viários, sombreamento dos edifícios e alguns aspectos ambientais, desprezando os demais. Os planos
11
geralmente atuam tentando entender para onde a cidade crescerá, quando na realidade deveria condicionar e direcionar o crescimento.
Antes deste período na década de 70, preocupados com a contaminação das bacias de abastecimento de água, os Estados de forma geral adotaram a legislação para mananciais. Esta lei, que procurava preservar as bacias da ocupação da população para manter a água de abastecimento cometeu o erro de não avaliar a pressão econômica. A lei não permite que a superfície da bacia de manancial (definida em cada cidade) fosse ocupada e obrigava o proprietário a pagar imposto pela mesma. O que vem ocorrendo é a total desobediência civil, pois com o abandono da área pelos proprietários ocorre invasão pela população de baixa renda ou os próprios proprietários organizavam a invasão para negociar com as prefeituras. O resultado foi o pior possível, pois loteamentos clandestinos ou favelas ocupavam áreas de mananciais sem nenhuma estrutura, contaminando a qualidade da água. Houve também falta de fiscalização por parte dos municípios. A principal lição tirada é que o confisco através da legislação da propriedade privada sem desapropriação leva à desobediência civil. É necessário criar um mercado alternativo para estas áreas ou desapropriação com ressarcimento. Nas regiões metropolitanas existem vários municípios que cobrem uma bacia hidrográfica. Geralmente os municípios a montante no sistema fluvial ou manancial não possuem interesse em serem rígidos neste controle porque o impacto ocorre à jusante da cidade e fora de sua jurisdição. Este cenário envolve a intervenção do Estado ou da União.
Na década de 70 as Companhias de Saneamento (empresas públicas) foram criadas para atender o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Estas empresas tinham a visão de cobertura estadual e escala econômica para obtenção de financiamento, que os municípios não dispunham. A constituição de 1988 outorgou aos municípios o direito da concessão dos serviços de água e saneamento. Poucas cidades brasileiras funcionavam com serviços municipais de água e a infra-estrutura foi construída pelas empresas estaduais. No final da década de 90 foi planejada a privatização dos serviços de água e saneamento como de outros setores da administração pública. Um impasse foi criado porque as empresas estaduais não tinham a concessão dos serviços das cidades, as mesmas operavam sem o estabelecimento do elemento legal da concessão e outras tinham concessão vencendo em pouco tempo. Desta forma, as empresas não tinham valor econômico para serem privatizadas. O governo enviou para o Congresso um projeto de lei estabelecendo procedimentos que regulamentavam os elementos da Constituição. Neste processo, se estabelecia que a empresa estadual poderia gerir os municípios das regiões metropolitanas onde existiam instalações que atendiam mais de um município. Também procurava estabelecer o financiamento da agência de fiscalização dos serviços. No entanto, este projeto entrou na discussão política da privatização de empresas do Estado e não foi aprovada no congresso.
Está em discussão no governo federal um documento para regulamentação do setor de saneamento. O mesmo não é público até o momento. A proposta do governo deverá se tornará pública no primeiro semestre de 2004.
Atualmente no país existe um universo de várias cidades com serviços privatizados (empresas de direito privado é da ordem de 10%), com serviços públicos municipais e a grande maioria com serviços de públicas estaduais. As empresas estaduais representam cerca de 82% da população atendida para abastecimento e 77% da população no esgoto (IPEA,2002). Estes serviços não possuem fiscalização quanto aos preços e qualidade dos mesmos. Toda a avaliação é realizada pelas próprias companhias. O Ministério da Saúde estabeleceu padrões de qualidade da água para os rios, foi criada a ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a capacidade fiscalizadora ainda é pequena.
Os serviços atuais das companhias de saneamento em geral são os seguintes (IPEA,2002): (a) a cobertura de abastecimento de água no país é de 92,4 %; (b) As perdas de águas na rede de abastecimento são em média de 39 %. Não existe financiamento para redução de perdas, mas existe para a busca de novos mananciais e novas obras, além disso como não existe fiscalização dos serviços basta inserir no preço da água; (c) a cobertura de esgotamento sanitário é de 50,4 % em média no país e 25,6 % é tratado. Da parcela tratada a eficiência é muito baixa ao longo do tempo (também não há fiscalização de resultado). Existem muitas redes que não coletam esgoto e estações ociosas
12
porque o município não possui legislação que obrigue o proprietário fazer a ligação do efluente da residência no sistema de esgoto sanitário, evitando o pagamento do adicional de esgoto. A ANA Agência Nacional de Águas lançou um programa em 2001 o chamado programa PRODES que atua na ponta do problema. O programa financia 50% das obras e tratamento de esgoto, mas somente paga de acordo com a eficiência do sistema, através da fiscalização da quantidade tratada e do nível de tratamento. Os municípios para construir as obras, utilizam os títulos públicos para contratação das empresas. Para que o município possa aderir ao programa é necessária a solicitação ser aprovada no comitê de bacia. Até 2002, 170 empreendimentos foram aprovados num valor total de R$ 1,15 bilhões ( ~ US $ 400 milhões) equivalente a 25,6 milhões de pessoas. No entanto, com recursos limitados em 2002 a Agência investiu apenas R $ 17 milhões para um valor total dos empreendimentos de R$ 66 milhões ( ~ 22 milhões), ou seja 6% da demanda (ANA, 2003b). Em 2003 o programa está sofrendo ainda mais com a falta de recursos no orçamento e o programa está em fase de avaliação por parte do governo.
2.3 Agricultura
Tanto em nível mundial como no Brasil, o grande consumidor de água é a agricultura (próximo de 70%). Um hectare de irrigação de arroz por inundação pode consumir o equivalente ao consumo de 800 pessoas. As tecnologias modernas em irrigação podem reduzir o consumo da água em 50% com relação aos métodos tradicionais. Nos Estados Unidos resultados mostraram que com novas tecnologias pode-se obter de 30 a 70% de redução do consumo da água com aumento de 20 a 90% na produção com relação aos tradicionais métodos de inundação (Unesco, 1999). A região semi-árida brasileira, que representa cerca de 10% do território brasileiro, tem um grande desafio de sustentabilidade do homem em um espaço tão difícil, considerando que a evapotranspiração chega até 3500 mm para precipitação da ordem de 250 a 600 mm. Estados como o Ceará têm 60% do seu território com formação cristalina onde o aqüífero praticamente não existe. Em muitas regiões, como no sertão Pernambucano, a água do sub-solo é salobra o que inviabiliza seu uso sem dessalinizadores. O semi-árido necessita de volume de água suficiente para regularizar a disponibilidade nos anos críticos, mas quando o tempo de residência do reservatório é alto (volume muito grande com relação a vazão de entrada), a renovação de volume é pequena e existe a tendência de salinização.
A água é fator essencial de desenvolvimento rural no Nordeste, onde a viabilidade do desenvolvimento econômico depende, muitas vezes, da disponibilidade de água. Existe expansão de empreendimentos voltados para a fruticultura irrigada, que apresenta adequada rentabilidade econômica. Esse processo se desenvolve na vizinhança do rio São Francisco, área em que a disponibilidade hídrica é maior, enquanto que nas áreas distantes dos rios perenes persiste uma agricultura de subsistência que sofre freqüentes perdas. Para estas áreas várias técnicas tem sido utilizadas, como barragens de enrocamento e subterrâneas, com relativo sucesso, mas é necessário criar maior conhecimento tecnológico para um manejo adequado destas técnicas locais. Foram desenvolvidos vários programas de cisternas no Nordeste com a forte participação de ONGs. Um dos problemas é o processo político-assistencialista como o uso do caminhão de abastecimento de água (caminhão pipa). Este caminhão cria um vínculo entre o político local e o fornecimento de água. Observa-se em certas regiões que a cisterna não tem a coleta de água do telhado, pois a água vem do caminhão, preservando esta dependência feudal.
Nas regiões Sul e Sudeste, o uso da irrigação ainda depende de redução do custo dos projetos de irrigação para a maioria das culturas, à exceção do arroz por inundação no Sul. Grande parte do setor agrícola prefere assumir os riscos, que ocorrem somente em alguns anos, do que o investimento em irrigação. No entanto, na irrigação do arroz existem conflitos do uso da água na bacia do rio Uruguai e ambientais na região da lagoa Mirim. Existe um conflito natural entre o uso da água para agricultura e o abastecimento humano em algumas regiões brasileiras, principalmente quando a demanda é muito alta como para irrigação de arroz por inundação. A solução desse tipo de conflito passa pelo aumento da eficiência dos sistemas de irrigação e pelo gerenciamento adequado dos efluentes agrícolas quanto à contaminação.
13
Além do atendimento hídrico à produção agrícola, deve-se ressaltar a necessidade de conservação do solo, já que solo mal conservado é fonte da poluição difusa. Em grande parte do Sul do Brasil, tem-se observado uma mudança de prática agrícola no sentido de troca de plantio conservacionista para plantio direto, com importantes benefícios como: redução da erosão, aumento da contribuição do freático para os rios e maior regularização das vazões. No entanto, existem várias regiões do Brasil onde a erosão e as degradações do solo são importantes como na bacia do rio Paraguai, onde o gado e a soja têm produzido importante alteração na geração de sedimentos que se desloca para o Pantanal, principalmente no leque do rio Taquari. O efeito da variabilidade climática produziu importantes impactos climáticos e sociais nesta região (Tucci, 2002).
2.4 Energia
No setor energético, o país tem sua matriz fundamentalmente baseada em geração hidrelétrica. Em termos mundiais, o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de energia hidrelétrica com 10% da produção mundial. Silveira e Guerra (2001) avaliaram a crise de energia atual do setor elétrico e mostraram que os investimentos no setor entre 1985 e 1995 foram inferiores à demanda o que resultou no rebaixamento do reservatório equivalente do sistema Sudeste Centro Oeste, transformando um sistema de regularização interanual em um sistema de regularização intra-anual. Associado ainda ao risco de falha, deve-se considerar que, desde 1970, as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (onde se encontra grande parte da capacidade instalada) apresentam vazão média cerca de 30% maior que a do período anterior, o que significa que, para a mesma capacidade instalada, é possível gerar mais energia, com menor risco de falha. O sistema, mesmo com o período de vazões altas, está no limite de atendimento da demanda. Considerando que períodos longos climáticos abaixo e acima de determinados patamares podem ocorrer, o sistema, dessa forma, apresenta forte dependência da climatologia. Em condições climáticas mais desfavoráveis, mantidas as tendências de aumento da demanda e com reduzida ampliação da oferta, podem ser criados condicionantes desfavoráveis ao desenvolvimento econômico brasileiro pela limitação no fornecimento de energia.
A ampliação da capacidade depende de dois componentes principais: (a) capacidade de investimento do estado e a atratividade para o setor privado, que depende da regulação do setor. No final de 2003 o governo apresentou a nova regulamentação do setor elétrico (em janeiro de 2004 foi aprovada a regulação na Câmara e deve ir para o Senado. A probabilidade de aprovação é muito alta) Os meios de comunicação têm mostrado que poucas pessoas entenderam esta regulação, muitos criticam e mencionam que a atratividade para o setor privado de investimento é pequena. Muitas empresas citadas na imprensa mencionaram que não irão investir. O governo não possui capacidade financeira para investir da ordem de US$ 3 bilhões anuais necessários para garantir a ampliação da oferta de energia para um crescimento econômico modesto de 2 a 3%; (b) De outro lado, num lay-out de aproveitamentos hidrelétricos existem vários aproveitamentos de queda (pequeno volume) e apenas um ou dois de regularização (grande volume). Nos últimos anos devido aos impactos no deslocamento de pessoas (aspectos sociais) e nos impactos ambientais, os reservatórios de regularização não estão sendo construídos, o que aumenta ainda mais o risco climático do sistema com um todo. Neste cenário a tendência é de menor crescimento da energia firme com relação a capacidade instalada. O reservatório equivalente que permite a regularização da água entre anos está diminuindo na sua relação com a capacidade instalada.
2.5 Navegação
Atualmente a navegação interior é ainda limitada, concentrando-se no rio Tietê, no Sul no rio Taquari-Jacuí e Lagoa dos Patos e rio Amazonas. As dificuldades maiores estão relacionadas com os investimentos necessários a manutenção das vias e a logística dos sistemas de transporte. O crescimento da produção agrícola brasileira que passou de 100 milhões de toneladas de grãos (previsão de 132 milhões de grãos para 2004, representando 8% da produção mundial) está exigindo meios mais eficientes de transportes, já que está concentrado basicamente no transporte rodoviário de conhecida baixa eficiência econômica se comparado com o ferroviário e a navegação. Observa-se um
14
maior transporte de grãos através dos rios da Amazônia (rio Madeira) da safra de grãos do Mato Grosso (um dos maiores produtores de grãos do país e apresentou o maior crescimento em 2003), saindo próximo do Atlântico Norte. 2.6 Eventos críticos
As enchentes urbanas têm sido uma das grandes calamidades a que a população brasileira tem
estado sujeita como resultado de: (a) ocupação inadequada do leito maior dos rios; ou (b) urbanização das cidades. A impermeabilização do solo e a canalização produzem aumento da freqüência e magnitude das inundações se não houver controle pelo município. O aumento da vazão média de inundação é de 6 a 7 vezes com relação as suas condições naturais (Tucci, 2001). Não existe nenhuma política de controle e as que existem são totalmente equivocadas, o que tem aumentado os prejuízos nas cidades. Normalmente, existe uma combinação de falta de conhecimento e de interesse na solução desses problemas, na medida em que, ocorrendo o evento, é declarado estado de calamidade pública. Nesse caso, o município recebe recurso a fundo perdido, sem que seja necessária concorrência pública para o dispêndio (veja comentários no item 2.1).Com esse tipo de ação, dificilmente serão implementados programas preventivos eficientes, que, na sua maioria, não envolvem obras estruturais, mas regulamentação do uso do solo, o que geralmente é politicamente pouco “rentável”.
Outra calamidade que pode ocorrer devido às enchentes é o rompimento de barragens. Atualmente, não existe regulamentação quanto a programas preventivos de segurança das barragens. Essa situação é preocupante na medida em que um evento dessa natureza em um sistema de cascata de barragens poderá produzir um cenário desastroso, caso não existam programas preventivos de minimização de impactos. Nos Estados Unidos e França esta legislação somente foi instituída depois de um grande desastre. Na Argentina depois da privatização. No Brasil, se ocorrer um evento desta natureza, mesmo que o operador tiver conhecimento com antecipação, não saberá quem retirar da área de risco, pois não sabe qual é esta área ou quem está ocupando. No passado (em 1977) romperam duas barragens hidrelétricas no rio Pardo (SP), várias menores (açudes) e muitas em construção (Orós no Ceará) .
As secas, principalmente no Nordeste brasileiro, são eventos freqüentes. Existem programas específicos e ações isoladas ou pontuais, mas não há um programa regional preventivo de minimização dos seus impactos para a população, seja na sua própria subsistência, como alternativa econômica. Um dos projetos em curso, que poderá contribuir para minimizar esse problema, é o ProÁgua, que possui um expressivo volume de recursos planejado para diferentes Estados do Nordeste. A aferição dos resultados das iniciativas deverá ser realizada a partir de indicadores sociais e de saúde da população. A construção de açudes, poços e cisternas nem sempre beneficia diretamente a população mais carente.
2.7 Meio Ambiente
A conservação dos recursos hídricos no ambiente hídrico depende: (a) do controle dos efluentes de esgoto doméstico, industrial, pluvial e poluição difusa agrícola sobre os rios, reservatórios e os aqüíferos; (b) das práticas agro-pastoril e do uso do solo; (c) desenvolvimento de áreas urbanas em áreas costeiras; (d) construção de obras hidráulicas como reservatórios, diques, entre outros. No entanto, as grandes limitações atuais estão relacionadas com: (a) a falta de conhecimento do comportamento integrado (Rodrigues-Iturbe, 2000) de vários dos biomas brasileiros através do monitoramento sistemático da qualidade da água, da produção de e transporte de sedimentos, das áreas de recargas dos aqüíferos e áreas críticas e do efeito do uso do solo.
Um dos principais problemas de qualidade da água, além dos mencionados das cidades brasileiras, é o do efluente de indústrias alimentícias no Sudoeste de Santa Catarina, que agora se expande para Mato Grosso do Sul e Goiás. O Brasil aumentou de forma significativa a produção de aves e suínos. A forma como a industria encontrou para gerenciar seus custos foi terceirizar a produção com pequenas granjas, transferindo para elas o ônus ambiental, pois cada uma destas
15
propriedades, que não trata seu efluente acaba se tornando carga difusa que se concentra a jusante nos rios principais. Estas mesmas indústrias ainda recebem a ISO ambiental pelas suas instalações, o que é uma ironia, já que estão se utilizando de um forte subsídio do meio ambiente na sua industrialização através de terceiros, já que não é incluído o custo de tratamento de pequenas cargas no custo final da produção. Atualmente este problema ainda não tem uma solução, pois exige investimentos no tratamento do efluente de pequenas cargas. A carga produzida necessita ser tratada já que tem baixa capacidade de reciclagem. O produtor e a indústria não estão dispostos a pagar este subsídio e o governo não encontrou um mecanismo de ação.
Outros impactos importantes que possuem forte implicação para o ambiente aquático são: (a) desmatamento e queimadas: Parte importante do Sul e Sudeste da Amazônia sofre freqüentes queimadas transformando áreas de floresta em pasto e/ou de plantio. Estas condições alteram totalmente o ambiente e o ciclo hidrológico local; (b) mineração que ocorre em regiões do Mato Grosso e Sul de Santa Catarina produziu grandes passivos ambientais. Podem-se observar pequenos lagos de áreas de rejeito que depois de 10 anos sem exploração ainda possuem água com Ph de 2,5 (ácida); (c) Contaminação difusa dos aqüíferos em áreas urbanas e costeiras devido a a grande concentração de população e de lançamentos de efluentes para o sub-solo; (d) o uso de pesticidas e seu impacto sobre os rios.
2.8 Formação de pessoal e Ciência e Tecnologia
O desenvolvimento e a preservação dos recursos hídricos dependem de profissionais qualificados tanto para a execução de vários tipos de atividades, como para a tomada de decisões. A maioria dos profissionais que trabalha na área adquiriu seu conhecimento exercendo a função, sendo que apenas um grupo reduzido se capacitou por meio de Mestrado e Doutorado. Atualmente, existe falta de pessoal qualificado no setor, principalmente na medida em que ocorrer a implementação da regulamentação com a expansão de comitês e agências para as bacias.
O desenvolvimento tecnológico e científico tem sido incentivado por programas especiais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), PADCT/CIAMB, CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e FINEP (Financiadora de Projetos) por meio de programas como PROSAB e REHIDRO. Existem grupos qualificados no país, mas, na sua maioria com visão setorizada dos recursos hídricos. Devido às características continentais do País e à grande variabilidade dos ambientes, é necessário um maior enfoque na especialização de conhecimento interdisciplinar em regiões do País como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e o Semi-Árido (entre outros), onde as características e os problemas são diversos exigindo pesquisas de médio longo prazo que apoiem o desenvolvimento e a conservação ambiental dessas regiões.
Em 2001 foi criado o CTHidro o Fundo Setorial dos recursos hídricos para investimentos em Ciência e Tecnologia na área de recursos hídricos. O foco deste investimento foi no sentido de desenvolver conhecimento para resolver os problemas identificados no país, ou seja o comitê gestor define as prioridades e convida os pesquisadores para desenvolver pesquisas a partir de editais específicos. Este tipo de investimento procura evitar a pulverização de recursos da pesquisa, apesar de que parte dos recursos foi mantida para demanda espontânea. Os investimentos ocorrem desde setembro de 2001, com fundos previstos de cerca de 28 milhões por ano, mas efetivamente aplicados de 40 milhões em dois anos em função do contingenciamento dos recursos públicos. Observou-se neste investimento forte resistência de parte dos pesquisadores quanto ao seguinte: (a) grupos consolidados não desejam receber o tipo de orientação prevista e pressionam por recursos para sua manutenção; (b) a necessidade de uma visão mais integrada do desenvolvimento do conhecimento. Estes problemas persistem e podem comprometer a qualidade do investimento da pesquisa, de acordo com a capacidade de mobilização destes grupos dentro do processo decisório.
O CThidro investiu num grande número de projetos entre 2001 e 2002 em diferentes áreas de recursos hídricos. As áreas de investimentos são apresentadas na tabela 2.3.
16
2.9 Plano Nacional de Recursos Hídricos
Para sintetizar os principais problemas brasileiros relacionados com recursos hídricos dentro de uma visão espacial, foram utilizados os dados e elementos do Plano Nacional de Recursos Hídricos (FGV, 1998).
O resumo foi realizado de acordo com cada bacia brasileira (bacias brasileiras definidas pelo Plano), veja tabela 2.5 e basearam-se nos seguintes critérios:
• Usos da água: abastecimento, irrigação, energia elétrica, navegação recreação/turismo; • Impactos dos Usos: efluentes urbanos, efluentes industriais, difusos agrícolas; • Impactos sobre a sociedade: inundações e doenças de veiculação hídrica; • Impactos ambientais: desmatamento, dessertificação, mineração, erosão e degradação
do solo. Este mapeamento permite num primeiro estágio identificar os principais aspectos de recursos
hídricos nas diferentes bacias e verificar quais são os reais problemas a nível nacional (grande abrangência espacial) e os com características mais regionais. Como se observa da análise regional, os principais aspectos que aparecem em todas as bacias são:
Tabela 2.4 Projetos aprovados em 2001 e 2002 (CGEE,2002)
Número de Proporção do total dos Recursos (*) Áreas Prioritárias
Projetos % Sustentabilidade hídrica de regiões semi-áridas 5 1,1
Água e o gerenciamento urbano integrado 57 33,6 Gerenciamento dos impactos da variabilidade climática sobre sistemas hídricos e sociedade
9 2,3
Uso e conservação do solo e de sistemas hídricos 27 8,1 Usos integrados dos sistemas hídricos e conservação ambiental
8 4,0
Prevenção e controle de eventos extremos 1 0,4 Qualidade da água dos sistemas hídricos 25 10,9 Gerenciamento de bacias hidrográficas 33 17,8 Uso sustentável dos recursos hídricos costeiros 1 0,4 Comportamento dos sistemas Hídricos 4 1,0 Desenvolvimento de produtos e processos 6 1,8 Capacitação de recursos humanos 221 18,0 Outros 10 0,7
Total de bolsas para os projetos acima 305 Total de projetos 407
Total 712 100 (*) total investido de R$ 42,8 milhões, equivalentes a aproximadamente US $ 14,3 milhões; (**) incluídas as bolsas de mestrado e doutorado.
(a) efluentes urbanos: deteriorização da qualidade da água dos rios na vizinhança das cidades
devido aos efluentes de esgotamento sanitário doméstico e de drenagem urbana; (b) inundações ribeirinhas e urbanas: inundações resultantes da ocupação das áreas de risco
ribeirinhas e devido a urbanização das cidades; (c) impactos devido ao inadequado uso do solo: desmatamento, queimadas, e erosão do
solo;
17
(d) monitoramento e previsão : limitações da rede de monitoramento quantitativo necessita modernização, ampliação e melhoria para monitoramento de sedimentos e qualidade da água; a necessidade de desenvolvimento de previsão antecipada dos condições hidroclimáticos;
(e) Instrumentos legais: apoio aos Estados para instituir sua legislação estadual e criar as bases da gestão a nível dos Estados;
(f) Instituir os instrumentos de gestão: implementação dos comitês e agências de bacia, desenvolvimento dos Planos e dos mecanismos de outorga e cobrança;
(g) Capacitação: investimento em capacitação em recursos hídricos para atender a demanda de todos os níveis.
Tabela 2.5 Síntese dos principais aspectos dos recursos hídricos nas bacias brasileiras (Tucci, 2001) Tipos AM TO ANNE SF AL PR PA UR AS Usos da água Abastecimento de água 2 2 1 1 2 1 1 1 1 Irrigação 3 1 1 1 2 3 2 1 1 Energia elétrica 2 1 1 3 1 3 1 3 Navegação 1 1 2 2 1 2 1 Recreação/turismo 1 3 1 3 1 2 1 2 1 Impacto dos usos Efluentes urbanos domésticos: cloacal, drenagem urbana e resíduo sólido
2 2 1 1 1 1 2 2 1
Efluentes industriais 1 2 1 1 1 2 1 1 Navegação (riscos de transporte, efeitos de alteração da via)
2 3 3 3 1 3 2
Energia elétrica (barragens) 2 2 2 3 2 2 1 3 Impactos sobre a sociedade Inundações 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Doenças de veiculação hídrica 1 1 1 1 1 2 1 3 3 Impactos ambientais correlatos Desmatamento 1 1 3 1 2 1 1 1 Queimadas 1 2 3 1 Mineração: degradação e efluentes 1 1 2 1 1 1 Erosão do solo na produção agropecuária
3 2 1 2 2 1 1 1 1
Dessertificação 1 2 2 Poluição difusa do uso de agrotóxico 3 2 3 2 3 1 1 1 1 Impactos nos sistemas costeiros 1 1 1 Institucional Apoio aos Estados 1 1 1 1 2 1 2 2 Instrumentos de gestão 1 1 1 1 2 1 2 2 Monitoramento 1 1 1 1 1 1 1 1 Capacitação 1 1 1 1 1 1 1 1 • termos - AM – Amazônia; TO – Tocantins; ANNE – Atlântico Sul – Norte/Nordeste; SF – São Francisco;
AL – Atlântico Sul – Leste; PR – Paraná, PA – Paraguai; UR – Uruguai e AS – Atlântico Sul – Sul; • avaliação: 1 destacado; 2 – secundário. Quando não é citado não foi destacado na avaliação nem nos
programas de ação da bacia; 3 citado com pouco destaque; alguns dos aspectos foram incluídos por este autor, mesmo sem citação no texto em função de sua interpretação de importância.
18
3. EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS 3.1 Visão institucional
A década de 90 foi promissora quanto ao desenvolvimento institucional em recursos hídricos. No capítulo anterior foram mencionadas as legislações estabelecidas e a governabilidade através da SRH e da ANA a nível federal e de várias entidades a nível estadual. Alguns comitês de bacias federais e muitos estaduais estão funcionando. Em 2003 iniciou a cobrança pelo uso da água no rio Paraíba do Sul.
A evolução deste processo institucional na gestão macro das bacias parece seguir um caminho promissor. Os principais avanços e dificuldades identificados são os seguintes:
• Observa-se de forma geral uma forte preocupação com os recursos do país na agenda pública, que no passado praticamente não existia. Atualmente é freqüente a busca de informação sobre o assunto por setores da população;
• vários setores têm sido receptivos à cobrança pela água, como o industrial, apesar da resistência do setor agrícola. Por exemplo, a legislação do Estado do Paraná somente foi aprovada com a concordância que não houvesse cobrança da água na agricultura;
• existe uma grande desconfiança da população quanto à cobrança e ao uso dos recursos obtidos, já que a experiência recente com impostos que são aprovados para uma finalidade e depois utilizados para outra finalidade é muito grande no Brasil;
• caso não ocorra uma concordância entre todos os atores para a execução da cobrança as ações judiciais podem impedir o processo e a gestão das bacias;
• um dos grandes riscos para o sistema institucional está na gestão dos recursos, pois os valores arrecadados irão para o caixa da União, que independentemente da disponibilidade dos fundos, poderá condicionar sua liberação como faz com todo o orçamento. Esta situação poderá ser mortal para a confiança dos atores e para a cobrança pelo uso da água e seus impactos. O maior risco para que o sistema de gerenciamento tenha sucesso pode estar nas próprias práticas de administração dos governos;
• a permanência ao longo do tempo da estrutura técnica de administração pública é fundamental para dar continuidade a gestão hídrica. Deve-se evitar esta descontinuidade técnica em função dos grupos políticos de pressão;
• enquanto existe apenas o comitê de bacia e não existe agência associada e recursos para desenvolver ações o resultado é mínimo e muitas vezes desestimula a participação dos membros que não observam evolução do processo de gestão. O comitê funciona quase como um happy hour, ou seja um local de discussão que não se transforma em ações ou resultados;
• Algumas dificuldades devem ainda ser vencida na governabilidade na gestão das bacias, que ainda está de certa forma indefinido. Por exemplo, em bacias de grande porte que passa por muitos Estados existirão vários comitês, como os mesmos tomarão decisão? e sua abrangência? na medida que as mesmas podem interferir uma na outra (principalmente as de montante sobre as de jusante);
• Os contingenciamentos dos recursos têm limitado o funcionamento da SRH e da ANA nos últimos anos, criando dificuldades para a manutenção da rede de monitoramento (condição básica para o funcionamento do sistema);
• A rede de coleta de dados federal é significativa e os dados estão disponibilizados sem custo na internet. Este é um avanço importante considerando que em muitos países da região a obtenção dos dados é uma tarefa quase impossível. No entanto o sistema necessita ser atualizado com relação ao seguinte: (a) o banco de dados não recebe dados com intervalo menor que um dia, o que faz com que uma parte importante da informação não esteja disponível e existe o risco desta informação se perder com o tempo; (b) a rede nacional somente monitora bacias de grande e médio porte ( > 500 km2 ), com raras exceções. Isto limita a gestão em bacias menores. Como os Estados
19
geralmente não possuem monitoramento, o país te problemas de gestão de usos da águas que são típicos de bacias menores como o abastecimento de água, irrigação de pequenas áreas, conservação ambiental e inundação; (c). há um déficit bastante grande na coleta e divulgação dos dados de monitoramento de sedimentos e qualidade da água, área onde o sistema de informações é ainda incipiente.
O desenvolvimento institucional é a condição básica para todo processo de gerenciamento do
País. A tendência mostra que haverá um conjunto legal instituído consolidado, mas com grandes variações regionais quanto à sua implementação. Nas áreas onde o conflito pelo uso da água é mais intenso, serão estabelecidos acordos devido à necessidade de se chegar a soluções (veja o caso do Ceará, que atingiu este estágio). Nas regiões sem um aparente conflito, poderão ocorrer discussões mais prolongadas com processo decisório pouco efetivo. Essa situação, por um lado, é benéfica por seu caráter didático, mas, por outro, não favorece o processo de planejamento. No entanto, o fator de demonstração poderá alterar esta tendência. 3.2 Desenvolvimento urbano
O setor de água e saneamento está em transição institucional, a tendência é de não existir incentivo a privatização dos serviços e as empresas na sua grande maioria deverão continuar públicas. Desta forma, deverá ocorrer negociação entre municípios e empresas de Saneamento Estadual quanto a concessão dos serviços. O maior problema atual é a falta de instrumentos estáveis que permitam o investimento de curto e médio prazo. As empresas estaduais geralmente são deficitárias e com baixa capacidade de investimento. Os serviços prestados na área de saneamento são deficientes. Grande parte das redes de coletas de esgotamento sanitário que entram nas estatísticas oficiais não coletam esgoto, pois não foram feitas as ligações domiciliares. Este volume escoa direto para o pluvial e para os rios sem tratamento. As estações de tratamento não tratam o volume projetado e o investimento realizado não foi efetivo e não atendeu a sociedade. Colocar mais recursos em empresas ineficientes não apresentará o retorno esperado. O programa de compra de esgotos PRODES procura atacar este problema comprando esgoto tratado e não em obras que não atinge seus objetivos, mas está indefinido o investimento neste programa. O serviço de água e saneamento necessita de fiscalização sobre os serviços prestados, pois como existe apenas uma empresa, a fiscalização por parte da sociedade através de uma agência ou outro mecanismo buscará a qualidade adequada dos serviços e a eficiência econômica que resulta no menor preço final para o usuário. Atualmente o serviço e o preço são estabelecidos pelas empresas sem fiscalização independente.
Todas estas iniciativas abordam abastecimento de água e saneamento, mas não tratam de drenagem urbana. A própria drenagem urbana é mantida fora dos financiamentos governamentais pela alegação de que não gera receita. Esta foi a causa principal do aumento das dívidas dos municípios na década de 70. Os municípios tomaram dinheiro do banco de desenvolvimento (na época BNH), fizeram obras de drenagem, mas não previram a cobrança das melhorias, sobrecarregando o orçamento municipal. Este problema é extremamente sério e necessita de uma abordagem mais ampla e integrada por parte do governo, já que o município não possui capacidades institucional, econômica e técnica para resolvê-lo. O cenário comum é o de declarar calamidade pública por parte do Estado e município, o governo federal fornece recursos a fundo perdido, que pode ser gasto sem concorrência pública dentro de seis meses (pela emergência). Este gasto geralmente é realizado no atendimento de pessoas e recuperação de infra-estrutura pública. Portanto, não existe nenhum programa de prevenção, que poderia evitar esta indústria da inundação. Este consultor foi contratado no final de janeiro de 2004 pelo Ministério das Cidades para preparar um documento de estratégia para um Plano de Drenagem Urbana para o país.
Cada um dos problemas citados (abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana) é tratado de forma isolado, sem planejamentos integrados, preventivos ou mesmo curativo dos processos. Como conseqüência, observam-se prejuízos econômicos, forte degradação da qualidade de vida, com retorno de doenças de veiculação hídrica, mortes, perdas de moradias e bens, interrupção de atividade comercial e industrial em algumas áreas, entre outras conseqüências. Esse
20
fenômeno está agravado nas grandes cidades, exigindo recursos significativos para minimização dos impactos. O custo de controle na fase de planejamento é muito menor que o curativo depois que os problemas ocorrem. A tendência urbana atual é de redução do crescimento das metrópoles e aumento das cidades médias. Nesse sentido, os impactos tenderiam a se disseminar para esse tipo de cidade, que ainda não possui degradação e ainda existe espaço para prevenção. No entanto, não existe capacidade gerencial nas cidades para busca de melhoria e desenvolvimento sustentável.
Com o gerenciamento por bacias hidrográficas, que deverá contar com a participação de diversos atores sociais poderão ser introduzidos mecanismos de impulsão para a redução dos impactos. Entretanto, a melhoria dos serviços de saneamento (aqui incluídos drenagem e resíduos sólidos) dependerá do seguinte: (a) mecanismos legais para cobrança de planos integrados urbanos de esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduo sólido, de acordo com o tamanho das cidades; (b) mecanismos de financiamento do plano e de sua implementação com recuperação de custo dos investimentos; (c) fiscalização do funcionamento das empresas através de agências que tenham representantes da sociedade.
3.3 Agricultura
Com a implementação da regulamentação do uso da água e da cobrança, poderão ocorrer dois
processos opostos na área rural: (a) redução da demanda da irrigação nos projetos existentes devido à cobrança e à racionalização do uso da água, criando melhores oportunidades para a sustentatibilidade regional da atividade, com obediência aos acordos e às decisões dos comitês de bacia; (b) aumento de conflitos, com dificuldades na implementação das decisões dos comitês e de restrições de diferentes naturezas. Provavelmente, o País deverá registrar os dois tipos de processos, mas é esperado que o primeiro predomine.
Na região Semi-Árida a tendência é do uso agrícola na vizinhança dos grandes mananciais seja voltada para produtos de maior rentabilidade e para agricultura de subsistência nas áreas de pouca disponibilidade de água. A fruticultura e o café em algumas regiões têm mostrado rentabilidade que tornam viáveis o investimento, principalmente pela maior número de safras em um mesmo ano. Por outro lado, esses empreendimentos exigem uma regularização da água sem falhas durante períodos longos, já que o plantio é permanente. Pode-se, esperar uma tendência de investimento de empresas agrícolas na região do São Francisco, com crescimento econômico da região por meio de investimentos privados. A sustentatibilidade desse processo a longo prazo dependerá do aprimoramento tecnológico. Nas áreas agrícolas fora da cobertura de disponibilidade hídrica sem riscos, onde os rios não foram perenizados, o potencial de água é pequeno, sendo pouco eficiente e conflituoso o recurso sistemático à irrigação de baixo valor agregado. De acordo com as condições atuais, o desenvolvimento se dará muito mais no sentido de buscar a sustentabilidade social da população por meio da melhora dos indicadores sociais a partir de investimentos sociais não necessariamente relacionados à água. O cenário potencial é de gradual solução de alguns problemas críticos de sustentabilidade social, como mencionado, por meio de investimentos externos à região, proporcionando atendimento a uma maior demanda por água para irrigação, sobretudo para a fruticultura irrigada, praticada no raio de ação dos rios perenes ou perenizados.
O atual governo está estudando a implementação da transposição de água do rio São Francisco para a região do semi-árido, diminuindo a vulnerabilidade hídrica (principalmente irrigação) de uma extensão região. Este desenvolvimento poderá ocorrer num período longo e pode ser fator de desenvolvimento, desde que o processo tenha caráter distributivo do subsídio, pois a tendência é de que o investimento da infra-estrutura não tenha seu retorno econômico assegurado.
Quanto aos programas de conservação do solo, deve-se observar que ainda ocorrerão grandes discrepâncias regionais de ações. As regiões em que o agricultor é mais bem treinado e, em que há uma ação mais presente da extensão rural, deverão apresentar resultados bons como já acontece hoje. Em outras regiões, prevê-se uma ação federal mais efetiva para garantir investimentos em capacitação do homem do campo, em pesquisa aplicada e em extensão rural. Os grandes desafios deverão envolver no controle da ocupação dos limites da Amazônia e o desenvolvimento do Cerrado. O
21
Cerrado é fortemente dependente da água no período seco, pois passa sem meses sem precipitação e o lençol freático é muito baixo. A gestão da água desta área de grande potencial agrícola é fundamental, pois os rios apesar de apresentarem boa regularização natural possuem uma capacidade limite de atendimento a demanda. Esse processo dependerá muito das políticas governamentais de apoio de investimento.
3.4 Energia
Com a nova regulamentação do setor existe uma grande incógnita quanto ao investimento privado no setor. O governo busca dois objetivos com a regulamentação: a garantia de energia (evitar racionamento) e preço baixo. Neste sentido separou a geração da transmissão e distribuição. Não permitirá a verticalização das empresas, mantendo limites de cobertura de distribuição para empresas de geração. Sendo que a transmissão será de controle do governo.
O país atualmente necessita da ordem de US 3 a 5 bilhões de investimentos em energia por ano para manter a oferta de uma demanda de crescimento de 2 a 4 %. Desde a década 80 a oferta o risco de falha veio aumentando em face do acréscimo médio anual de oferta de energia ser menor que o aumento da demanda. O racionamento que ocorreu em 2001 deveria ter ocorrido antes, mas a partir de 1970 os rios passaram a ter vazões maiores que o período anterior por razões de variabilidade climática, o que aumentou a oferta de MW médio. Estima-se este acréscimo da ordem de 30%. Este processo ocorreu principalmente na bacia do rio Paraná onde se concentra da ordem de 70% da produção brasileira. Em 2001, durante o racionamento ocorreu uma forte redução da demanda de energia em função das medidas de racionamento (aproximadamente 15 a 20%) que se tornaram quase que permanente (mesmo na região fora do racionamento ocorreu redução da demanda da ordem de 7 a 10%). A partir deste patamar vem ocorrendo o crescimento econômico e aumento da demanda , mas o aumento de novas usinas não vem acompanhando esta tendência. Portanto, esta regulamentação é essencial para que não venha ocorrer novo racionamento que seria ainda mais crítico, já que a população fez economia e não teria muito espaço para redução consumo.
Associado a este cenário existe o componente climático e ambiental. O climático é de que a vazão que aumentou no período após 70 pode reduzir ou é permanente? Provavelmente poderão existir períodos com vazões menores. Este fenômeno é mundial, pois no mesmo período em parte da América do Sul houve aumento em parte da África Sub-ariana houve redução significativa. Não existe resposta a esta questão com o conhecimento científico atual, pois os modelos não são confiáveis para este tipo de prognóstico. O segundo aspecto se refere à capacidade de regularização do sistema. O reservatório equivalente do setor, que é a soma dos volumes acumulados dos reservatórios que podem produzir energia, está diminuindo na sua relação com a capacidade de energia total. Isto significa que o setor fica cada vez mais vulnerável a uma seqüência de anos climáticos desfavoráveis.
O risco de um sistema hidrelétrico com pouca folga de oferta é o de ocorrência de externalidades climáticas, cíclicas e de longo prazo, que podem comprometer as atividades econômicas durante um longo período, dada a inércia de ajuste do sistema. Como é impossível prever as condições climáticas de longo prazo, torna-se necessário conceber e planejar o sistema não só para que ele possa ter um plano de emergência para esta situação como também incorporar duas premissas para planejamento da diversificação das fontes e da localização dos sistemas hidrelétricos.
No cenário tendencial espera-se que será mantida a grande predominância das Usinas Hidrelétricas (> 80%) devido ao potencial disponível, mas se as empresas geradoras forem responsáveis pelo risco de racionamento poderá ser ampliado o número de térmicas a gás para reduzir a sua vulnerabilidade energética e econômica, com pressão sobre os preços. A nova regulamentação ainda necessita de uma maturação e entendimento para avaliação dos seus potenciais resultados, mas o país não pode se dar ao luxo de errar neste setor, pois comprometerá todo o futuro da nação.
22
3.6 Navegação
O aumento da produção de grãos no Brasil nos últimos 7 anos foi de 100%, o país dificilmente poderá continuar a aumentar a produção e transportar toda esta carga por caminhões, como acontece hoje. Existe portanto, a perspectiva de aumento do transporte da carga por ferrovias e pela navegação em trechos estratégicos. A grande área de expansão tem sido no centro-oeste e o cerrado. É natural que esta região procure escoar os grãos para o Norte e não para o Sul. A navegação do rio Madeira e Amazonas e Araguaia-Tocantins poderão aumentar. No Araguaia-Tocantins existem fortes limitações físicas ambientais para transporte permanente. Em menor escala o transporte pelo rio Paraguai para o Sul também possui potencial, mas principalmente a partir de Corumbá, pois o trecho de montante apresenta muitos conflitos ambientais.
3.7 Eventos críticos e conservação ambiental
A elaboração recente dos Planos de Drenagem Urbana de algumas cidades brasileiras provavelmente permitirá mitigar os impactos das enchentes urbanas dessas cidades. No entanto, acredita-se que haverá ainda um ponderável fator de perdas, já que será necessário mudar a concepção de projeto e planejamento adotada pela grande maioria dos engenheiros que atuam em drenagem, o que representa toda uma geração de profissionais.
Devem-se modificar, principalmente, a visão técnica e política equivocada das obras de controle enchentes. Essas ações requerem um processo lento de educação de diferentes segmentos profissionais, muitos dos quais ainda em fase incipiente de organização. Portanto, apesar de eventuais evoluções positivas, somente existirão melhoras concretas se houver uma forte mudança de atitude de técnicos e decisores nos próximos anos. Caso contrário, as perspectivas desse setor serão as piores possíveis.
Quanto aos sistemas de alerta e de prevenção de riscos das barragens brasileiras, espera-se que sejam desenvolvidos mecanismos legais e programas preventivos para as bacias onde o impacto pode ser significativo. Existe uma ação no congresso de encaminhamento de legislação sobre o assunto, mas tem como base a segurança de barragens, ou seja a busca de ações para evitar o rompimento, mas não existem elementos de planejamento da mitigação preventiva quando da ocorrência deste tipo de evento.
Os efeitos das secas de grandes proporções no Brasil já começam a ser mitigado com a adoção de medidas preventivas. De fato, as previsões de médio prazo meteorológicas têm permitido avaliar o evento com antecedência de alguns meses. Torna-se necessário, no entanto, que programas preventivos sejam aperfeiçoados, aproveitando essas informações nas áreas mais críticas. À medida que metodologias de previsão sejam desenvolvidas e soluções para as áreas críticas sejam implementadas, o impacto das secas será minimizado.
Considerando os grandes impactos atuais sobre o meio ambiente hídrico, a conservação depende: de ações que controlem o efeito do desmatamento na Amazônia, o que depende de políticas agrícolas e fiscalização; avaliação global dos impactos ambientais de grande número de empreendimentos hidrelétricos numa mesma bacia, já que atualmente a avaliação tem sido muito mais pontual; do controle da poluição difusa industrial do Sul, Sudeste e Centro-Oeste relacionado com aves e suínos; a conservação do solo através das práticas agrícolas e principalmente o controle dos efluentes cloacais e pluviais urbanos, que são a grande fonte de degradação atual. Este processo somente pode ser obtido com um eficiente monitoramento da qualidade da água e o uso de mecanismos fiscais como a cobrança pela poluição e o ICMS ecológico,.
3.8 Ciência e Tecnologia
Os investimentos do CTHidro com fundos do setor (veja tabela 2.2) se baseou em programas de: Capacitação voltada para formar gestores estaduais e municipais em recursos hídricos e no
23
fomento de bolsas de mestrado e doutorado; Águas urbanas; Semi-árido; Clima e recursos hídricos; e Gerenciamento de recursos hídricos.
Foram propostas de prospecções tecnológicas nos seguintes temas : Produtos e equipamentos de hidrometria, Qualidade da águas superficial e subterrânea, saneamento, Observação de sistemas hídricos dos biomas brasileiros e racionalização da água no meio rural. Estas prospecções foram concluídas em janeiro de 2004 e poderão ser utilizadas com base para investimento em pesquisa no setor. Os tópicos tecnológicos identificados dentro destas prospecções confirmaram os principais problemas nacionais dentro de recursos hídricos. Na tabela 3.1 são destacados os principais tópicos selecionados de um total de 69 tópicos. O processo contou com cerca de 50 de especialistas em recursos hídricos de diferentes áreas. Para cada tema foi desenvolvido um documento de base e foram realizadas seis reuniões técnicas e um workshop (CGEE,2004).
O investimento realizado no setor tem permitido aumentar o número de pesquisadores e profissionais que atuam em recursos hídricos. A grande limitação é de novo o contigenciamento dos recursos, que em 2002, foi da ordem de 50%.
Tabela 3.1 Tópicos tecnológicos selecionados da prospecção em recursos Hídricos (CGEE, 2004) Área Tópico tecnológico Qualidade da Água superficial Reuso e subterrânea, Saneamento Racionalização do uso da água em áreas urbanas Desenvolvimento de arranjos institucionais e de instrumentos de
planejamento urbano e sua integração com o planejamento do saneamento ambiental, dando ênfase ao controle social.
Pesquisa e Desenvolvimento em água subterrânea: exploração, técnicas de infiltração e armazenamento, áreas de risco.
Avaliação da poluição nos aspectos físicos, químicos e biológicos nos ambientes brasileiros;impactos na saúde e mitigação
Desenvolvimento de materiais para sistemas de abastecimento, esgotamento sanitário e drenagem urbana
Técnicas de Monitoramento e sistemas de informação. Clima e recursos hídricos e produtos e equipamentos
Monitoramento de bacias hidrográficas em diferentes escals espaciais e temporais, das variáveis hidroclimáticas e ambientais representativas dos biomas nacionais
Projetos pilotos para aumento da produtividade e qualidade das informações produzidas por redes de monitoramento e disseminação de uso
previsão e predição da variabilidade climática natural e antrópica sobre sistemas hídricos e seus efeitos no desenvolvimento econômico e social, incluindo potenciais medidas de mitigação
Racionalização da água no meio rural
Técnicas alternativas de manejo e conservação do solo que promovam o aumento da infiltração
Desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias de irrigação e métodos de certificação para o aumento das eficiência técnica e econômica do uso da água
Previsão climática e a disponibilidade hídrica como subsídio para avaliação de risco e seguro agrícola
4. SÍNTESE 4.1 O problema: Desenvolvimento dos recursos hídricos no Brasil
O Brasil até a década de 80 era um país em que a gestão dos recursos hídricos era realizada de forma setorial sem nenhuma integração. Os setores atuantes eram de: energia (o setor mais bem organizado com planejamento setorial); irrigação, pois neste período o país neste período chegou a
24
possuir um ministério da Irrigação para enfatizar o seu uso, principalmente no Nordeste; meio Ambiente, com a implementação da legislação ambiental e a criação das agências estaduais de fiscalização; o abastecimento de água e saneamento representado pelas companhias de água e saneamento; e na navegação dentro do Ministério dos Transportes um setor mais marginal. Aspectos como inundação e saúde por doenças veiculadas pela água estavam dispersos dentro da estrutura do Estado sem grande significância.
Dentro do contexto institucional existia apenas o código de águas aprovado em 1934 e a aprovação de projetos passava pelos órgãos setoriais. A base de dados hidrológica estava no Ministério de Minas Energia e os projetos eram desenvolvidos com um único objetivo e sem visão de bacia por entidades setoriais e com limitada observância ambiental. O único planejamento era realizado pelo setor hidrelétrico que adotava as etapas de: Potencial hidrelétrico e Inventário (bacia toda); Viabilidade, Projeto Básico e Executivo para cada empreendimento.
No setor de água e saneamento as companhias estaduais ampliaram de forma significativa o abastecimento de água, mas desprezaram a cobertura de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, sendo que drenagem urbana e resíduos sólidos não estavam na agenda, apesar das freqüentes inundações urbanas. 4.2 Ações desenvolvidas
Neste período da segunda metade da década de 80, principalmente após as restrições impostas ao financiamento de hidrelétricas por parte das entidades de fomento internacionais e o início de financiamento do controle ambiental das cidades e dos biomas, aumentou a discussão sobre a necessidade de uma gestão integrada dos recursos hídricos no país. Este processo foi discutido principalmente dentro da ABRH Associação Brasileira de Recursos Hídricos de forma técnica e sem componentes políticos partidários que pudessem gerar impedimentos a sua evolução e consolidação. A ABRH criou o Fórum para discussão em vários eventos, inclusive aprovando os elementos de consenso nas suas cartas de Salvador em 1987 (Usos Múltiplos, descentralização, Sistema Nacional de Gestão de recursos Hídricos, aperfeiçoamento de legislação, desenvolvimento tecnológico e recursos humanos, sistemas de informações e política nacional de recursos hídricos) e Foz de Iguaçu em 1989 (Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Gerenciamento, Legislação, Tecnologia e Recursos Humanos e sistemas de Informações, ABRH,1995). Todos os princípios aprovados em Dublin, no qual se baseia a Agenda 21 de recursos hídricos, estavam presentes nestes documentos.
Em 1990 o setor conseguiu aprovar uma legislação que passou ser a base de financiamento setorial, apesar de atender muito mais interesses de Estados e Municípios. A lei de Compensação financeira pelo alagamento de terras produtivas, retira 6% do valor da energia na Usina para compensar o Estado e Município, mas uma parcela do recurso é destinada a coleta de dados hidrológicos, ciência e tecnologia e estudos hidrológicos. No entanto, o destino dos recursos vai para o setor de energia, que garante a base de dados hidrológicos de forma permanente. Esta é primeira grande lição de sucesso desenvolvida, pois independentemente do orçamento, são garantidos em lei os recursos para a coleta de dados e estudo básico.
Neste período existiam algumas forças preponderantes na negociação da legislação: o setor de energia que pela sua organização e recursos sempre dominou o desenvolvimento dos recursos hídricos, o meio ambiente que contrapunha os potenciais impactos e desejava participar da gestão do processo, a irrigação por circunstâncias da época, pois passou a deter um Ministério. O setor de água e saneamento se manteve distante deste processo principalmente devido a sua ação mais estadual enquanto que a discussão era muito mais a nível federal.
Com a reforma do Estado na década de 90, foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos em 1995. Com um trabalho político junto ao congresso foi possível preparar uma minuta de lei que contivesse os principais elementos técnicos discutidos, ficando alguns artigos para discussão. Em 1997, finalmente é aprovada a lei de recursos hídricos após forte negociação dos setores envolvidos. Com a legislação aprovada era necessário passar a etapa seguinte de implementação das suas ações.
25
Dentro do governo, neste momento estava sendo realizada uma segunda reforma com a criação de Agências que permitissem o controle do desenvolvimento setorial, ficando para os Ministérios a definição das políticas. A Agência das Águas – ANA foi criada neste momento político-institucional de governança (em 2000). Talvez não fosse criada se não houvesse este ambiente. Com a criação da Agência também foi alterada a lei de compensação para dar financiamento ao setor, ficando a ANA com 11,1% dos recursos que passaram a ser de 6,75% do valor da energia gerada. A Ciência e Tecnologia em recursos hídricos ficaram com 3,67 % dos fundos da compensação. São valores expressivos para uma realidade que antes desta legislação vinha sendo sustentado por sobras orçamentárias.
Pode-se dizer que foi concluída a construção da primeira fase (chamado aqui de Fase I) da construção institucional dos Recursos Hídricos do Brasil, onde foram estabelecidos elementos legais a nível federal da gestão e criadas as instituições para a governança. A nível estadual praticamente todos os Estados criaram sua legislação com base na legislação estadual e alguns estabeleceram agências para seu desenvolvimento, mas ainda em número reduzido.
Neste período foram também estabelecidos comitê e agências de bacias federais e estaduais com diferentes experiências. A maioria delas somente com comitê o que limitou as ações. No setor de Ciência e Tecnologia houve um aumento considerável no investimento de pesquisa no setor com foco nos problemas e com permanência de recursos.
A fase (chamada aqui de fase II) em desenvolvimento possui várias frentes, as principais são as seguintes:
Legislação setorial: Deve-se considerar que a legislação e gestão são do conjunto dos recursos hídricos, mas os setores ainda necessitam de elementos que permitam seu desenvolvimento econômico social e ambiental sustentável. Principalmente água e saneamento como de energia estão desenvolvendo elementos legais para dar sustentabilidade ao seu desenvolvimento. Esta é a fase atual de construção legal que permite compatibilizar os objetivos da lei de recursos hídricos com os desenvolvimentos setoriais. Neste documento, foram apontados vários problemas e ações em curso para a busca destes elementos legais e construção de uma visão de gestão integrada dos recursos hídricos.
Implementação e desenvolvimento dos instrumentos de gestão: estabelecimento do comitê de bacia e as agências com recursos da cobrança pelo uso da água. Para que este desenvolvimento ocorra é necessário que os três elementos mencionados existam, caso contrário dificilmente haverá sucesso. Plano Nacional de Recursos Hídricos, Planos Estaduais e Planos de Bacias: o gerenciamento integrado dos recursos hídricos será desenvolvido quando os planos foram implementados. Desta forma, é possível conciliar os setores, estabelecer outorga, controlar o meio ambiente. Esta fase está em desenvolvimento a nível federal, em poucos Estados e em algumas bacias. Sistema Nacional de Informações: o sistema de informações hidrológicas foi mantido ao longo do tempo, mas necessita de ampliação e modernização. Atualmente as informações são de fácil acesso pela sociedade. A ampliação e modernização da base de dados envolvem: (a) ampliar as informações além das hidrológicas básicas; (b) ampliar a rede de coleta cobrindo um universo de escala de bacias mais amplo e representativo; (c) modernizar o banco de dados e acesso à informação. Recursos Humanos, Ciência e Tecnologia: foram realizados investimentos no setor e o prosseguimento deste processo é importante na medida que tenderá a aumentar a demanda por pessoal qualificado para atuar nas agências de bacias. Além disso, o desenvolvimento de conhecimento voltado para os instrumentos de gestão e dos sistemas hídricos é essencial para a solução dos problemas críticos do país.
26
4.3 Resultados
No texto dos capítulos anteriores foram discutidos os vários aspectos relacionados com os resultados encontrados no desenvolvimento dos recursos do Brasil. Na tabela 4.1 é apresentada uma seleção resumida dos principais resultados para a fase I deste processo de desenvolvimento dos recursos hídricos. A fase II está em desenvolvimento e possui vários desafios que depende muito da construção e entendimento político dos agentes envolvidos na governança.
Os principais desafios são:
• A disponibilidade dos recursos orçamentários de lei para sua execução durante o ano. O setor tem sofrido por falta de recursos que existem, mas são contingenciados;
• Os recursos arrecadados nas bacias federais estão sujeitos também ao contingenciamento. Isto poderá desacreditar o sistema de cobrança pelo uso da água, pois o usuário poderá contestar na justiça o pagamento, já que o recurso não chega ao seu destino;
• O desafio de desenvolver a visão integrada dos recursos hídricos no ambiente setorial como água e saneamento e energia. No primeiro falta a visão integrada no meio urbano e busca de resultados de melhoria ambiental a jusante das cidades. No segundo, os conflitos ambientais e busca de projetos mais sustentáveis de produção de energia.
• Ampliar o processo descentralizado de ação da gestão de recursos hídricos através da gestão nas bacias;
• Melhoria do sistema de informações hidrológicas e de gestão das bacias hidrográficas;
• Manutenção da política de investimento em Ciência e Tecnologia com participação dos agentes de governo e comunidade científica, mas com aumento da participação empresarial.
Tabela 4.1 Resultados do desenvolvimento dos recursos hídricos.
Avaliação Fase I de implementação (1987 – 2002) Resultados obtidos 1. Lei nacional de recursos hídricos e em quase todos os Estados do país 2. Governança: SRH para política e ANA para gestão e aplicação da Política de
recursos hídricos 3. Investimento permanente Ciência e Tecnologia 4.Mecanismo de financiamento do setor a nível federal 5. desenvolvimento de programas para abastecimento rural no semi-árido e
tratamento de esgoto 6. Manutenção dos sistema de informações hidrológicas Problemas encontrados
1. Limitação da disponibilidade dos Recursos existente no orçamento. Este problema poderá ser sério e inviabilizar a gestão a nível de comitê de bacia, fase II
2. falta de ação em áreas estratégicas como gestão de inundações, racionalização da água no meio urbano e rural.
3. Maior descentralização do processo de gestão. O processo é ainda muito federal pela própria composição do Conselho de Recursos Hídricos
4. Falta de integração da outorga e da licença ambiental no processo de concessão de empreendimentos.
5. Falta de uma visão integrada no gerenciamento dos recursos hídricos urbano. Principais impactos 1. Houve forte alteração da percepção por parte da sociedade com relação a gestão
da água; 2. Redução da poluição dos rios com a ação junto aos municípios (ainda em escala
pequena para a dimensão do país) 3. Maior produção de pesquisadores e pesquisas no setor 4. aumento da participação pública no comitê de bacia a nível federal e estadual. Sustentabilidade A sustentabilidade legal é garantida por lei, a política depende de cada governo, a
econômica depende da execução do orçamento, que tem sido fortemente contigenciado nos últimos 3 anos
27
4.4 Lições
Em países em desenvolvimento como o Brasil a parte institucional (na área de recursos
hídricos) tem um peso muito grande já que o próprio país passou por períodos políticos e de construção da democracia e da estrutura do Estado. Em 1985 o país saia do período autoritário o que coincidiu com o início da discussão da gestão de recursos hídricos. Portanto, a primeira lição que se pode tirar é que o desenvolvimento de um regime legal e institucional para a gestão de recursos hídricos é necessário que o país esteja maduro na democracia e na participação pública.
O processo evolui dentro de bases de conhecimento técnico, com pequena politização partidária através de Fórum de discussão. A ABRH foi um Fórum importante porque é uma associação de profissionais que adotou padrões éticos importantes como: não privilegiar setores; no consenso aprovar cartas publicas; criar fórum para discussão quando não há consenso; evitar a participação político partidária e independência.
Buscar a sustentabilidade econômica do setor através de legislação que permita garantir em orçamento dos recursos para: o sistema de informações, a governabilidade, a ciência e tecnologia. Mesmo com os recursos garantidos em lei, a liberação dos mesmos é um problema sério que pode comprometer todo o sistema e deve-se buscar com que os recursos fiquem livres destas amarras.
Uma legislação moderna que contemple os princípios da agenda 21, entre eles: descentralização, valor econômico da água, uso integrado dos recursos hídricos. É essencial a construção conjunta do comitê, da agência e do mecanismo econômico de sustentabilidade.
Talvez a maior lição de todas seja que este processo é lento e gradual, dificilmente será possível completá-lo em curto prazo, mas a construção peça por peça é importante para consolidar na sociedade, a educação sobre o problema e a solução dentro de um universo integrado.
5. CONCLUSÕES
Este documento não tem a pretensão de ser completo, apenas apresenta a análise de um processo rico que pode ser visto com otimismo na medida que foram obtidos resultados estruturais importantes ao longo dos anos ou com pessimismo na medida que ainda falta muito para ser obtida a gestão integrada dos recursos hídricos nos diferentes setores e de forma descentralizada. Seja como for, o caminho através do qual o desenvolvimento dos recursos hídricos no Brasil está ocorrendo é promissor, mas é necessária uma forte participação da sociedade na sua construção, pois a história é cheia de exemplos de sucesso que se transformaram em fracasso, pois o esforço para construir é muito maior que para destruir. Recursos Hídricos não é diferente de nenhum outro setor porque é desenvolvido por pessoas com os mais variados interesses imediatos e futuros que movem o processo.
A construção institucional apresentada é um exemplo rico para ser observado e entendido como lição para países em desenvolvimento, apesar das especificidades de cada sociedade. O futuro dirá se o país conseguirá continuar avançado nesta construção para que se torne um exemplo completo de sucesso.
REFERÊNCIAS
ANA, 2003a http://www.ana.gov.br/GestaoRecHidricos/Cobranca/docs/arrecadacao.html ANA, 2003b http://www.ana.gov.br ABRH, 1996. Catálogo ABRH 1977 – 1995. Associação Brasileira de Recursos Hídricos. CGEE,2002. Relatório CTHidro 2001-2002. Centro de Gestão de Estudos Estratégicos.
28
CGEE, 2004. Prospecção em Recursos Hídricos. CGEE Centro de Gestão de Estudos Estratégicos e FINEP Financiadora de Estudos e Projetos (minuta).
FGV, 1998. Plano Nacional de Recursos Hídricos, Fundação Getúlio Vargas, (9 volumes). IBGE, 1998 “Anuário Estatístico do Brasil – 1997”, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Rio de Janeiro, 1998 (CD-ROM) IPEA, 2002. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2001. Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento SNIS. Programa de Modernização do Setor de Saneamento PMSS. NOVAES W. 2000. Agenda 21 Brasileira: Bases para discussão Comissão de Políticas de
Desenvolvimento e da Agenda 21. 172p PEREIRA, P.R.G., 2000. Suporte Metodológico de Apoio à Tomada de Decisão no processo de
outorga dos direitos de usos dos Recursos Hídricos da bacia do Descoberto. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília.
RAMOS, M.M.G. 1998 Drenagem Urbana: Aspectos urbanísticos, legais e metodológicos em Belo Horizonte. Dissertação de Mestrado Escola de Engenharia Universidade Federal de Minas Gerais.
RODRIGUES-ITURBE, I., 2000. Ecohydrology : A hydrologic perspective of climate-soil-vegetation dynamics. Water Resources Research vol 36 n.1 p 3-9 janeiro.
SILVEIRA, CARLOS A C.; GUERRA, HÉLVIO N. 2001. A crise Energética e o monitoramento de reservatórios hidrelétricos. XIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos Aracaju.
TUCCI, C.E.M; HESPANHOL, I; CORDEIRO, O C. , 2000. Cenário de Gestão da Água no Brasil:uma contribuição para a visão Mundial da água. RBRH v5 n. 3
TUCCI, C.E.M.,2001. Apreciação do PNRH e visão prospectiva e programas e ações. ANA Agência Nacional de Águas.
TUCCI, C.E.M. 2002. Gerenciamento da Drenagem Urbana, RBRH V7 N.1 p-5-25. UNESCO, 1999. A rare and precious. The UNESCO Courier fevereiro, 1999.