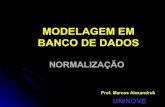Disser Ta Cao
description
Transcript of Disser Ta Cao
-
Rafael Correia Fuso
SELETIVIDADE TRIBUTRIA
Mestrado em Direito Tributrio
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo
2006
-
2
Rafael Correia Fuso
SELETIVIDADE TRIBUTRIA
Dissertao apresentada Banca Examinadora da Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, como exigncia parcial para obteno do ttulo de Mestre em Direito do Estado (Direito Tributrio), sob a orientao do Professor Doutor Paulo de Barros Carvalho.
Pontifica Universidade Catlica de So Paulo
2006
-
3
BANCA EXAMINADORA
1_________________________________________
2_________________________________________
3_________________________________________
-
4
O jurista o semntico da linguagem
do Direito. (Alfredo Augusto Becker)
-
5
AGRADECIMENTOS
Agradeo aos meus pais, Wallace e Mara, com o respeito, o amor e a admirao de sempre.
A Vivien Lys, com todo meu carinho, amor e companheirismo.
Aos mestres Celso Campilongo, Roque Carrazza e Heleno Trres, pelas lies no mestrado.
Aos professores e amigos Trek Moussallem, Maria Rita Ferragut e Eurico de Santi.
Ao orientador, mestre e amigo Prof. Dr. Paulo de Barros Carvalho, pelos ensinamentos, e a
quem eu dedico este trabalho.
-
6
RESUMO
O presente trabalho, intitulado Seletividade Tributria, busca trazer a anlise das
acepes semnticas contidas nesse princpio constitucional, aplicvel em trs impostos
apontados na Constituio Federal de 1988, quais sejam, o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) e o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
A acepo semntica atribuda seletividade no IPI e no ICMS distinta da que se
atribui ao IPTU. Nos dois primeiros tributos, a seletividade vista do prisma da necessidade
do consumo do produto, mercadoria ou servio, enquanto no terceiro tributo o critrio
diferenciador est no uso e na localizao do bem imvel.
Neste trabalho, percorremos as principais questes que envolvem esse princpio
constitucional, analisando seu papel e sua importncia no subsistema jurdico tributrio
brasileiro.
Vislumbramos que a Carta Magna de 1988 dirige-se, em um primeiro momento,
quando trata do princpio, ao legislador ordinrio. Entretanto, o mesmo Colex estende sua
obrigatoriedade ao Executivo e ao Judicirio, que expediro normas jurdicas para regular
condutas intersubjetivas.
O princpio deve ser aplicado pelo legislador e por aqueles que julgam no plano
administrativo ou judicial. Para que seja possvel identificar a aplicao da seletividade,
devemos buscar no contexto da regra os critrios objetivos e subjetivos para se aplicar as
conotaes do princpio. Munidos desses elementos, o prximo passo ser a exegese
sistemtica da seletividade de forma a nos possibilitar fazer as escolhas mais exatas das
significaes.
-
7
Assim, se a concluso do exegeta for no sentido de no-atendimento ao princpio
pela regra, poder questionar sua aplicao, como maneira de preservar direitos e garantias
constitucionais.
-
8
SUMMARY
This paper, entitled Tax Selectivity, analyses the semantic meanings included in this
constitutional principle, applicable in three taxes appointed in the Federal Constitution of
1988, to wit, the Tax on Manufactured Products (IPI), Tax on Distribution of Goods and
Services (ICMS) and the Municipal Property Tax (IPTU).
The semantic meaning attributed to the selectivity in the IPI and in the ICMS is
separate from the attributed to the IPTU. In the first two taxes, the selectivity is foreseen from
the prism of the need of the excise of the product, goods or services, while in the third tax, the
criteria of differentiation is in the use and in the localization of the real estate property.
In this paper, we will go through the main questions that involves such constitutional
principle, analyzing its roles and its importance in the Brazilian legal tax subsystem.
We identified that the Brazilian Federal Constitution of 1988 focuses, in a first
moment, when mentioning of the principle, in the ordinary legislator. However, such Federal
Constitution extends its obligation to the Executive and the Judiciary Branches, that will issue
legal rulings to regulate intersubjective conducts.
The principle shall be applied by the legislator and by those that judge in the
administrative or judicial spheres. In order to be possible to identify the application of the
selectivity, we shall seek in the context of the rules of the objective and subjective criteria to
apply the connotations of the principle. With the supply of such elements, the next step shall
be the systematic interpretation of the Law of the selectivity in a way to allow us to make the
most exact choices of the significations.
Therefore, if the conclusion of the ones that governs is in a way of non-attendance to
the principle by the rule, may question its application in order to preserve the constitutional
rights and guarantees.
-
9
NDICE SISTEMTICO
Introduo.................................13
Captulo 1. Propedutica geral..................................................................................................20
1.1. Delimitao do objeto...........................................................................20
1.2. A linguagem no direito.............................20
1.3. Norma jurdica..............................................23
1.3.1. Enunciados e proposies............................................................................23
1.3.2. Conceito de norma jurdica......................25
1.3.3. A estrutura lgica das normas jurdicas.......................27
1.3.4. Normas primrias e secundrias.......................28
1.3.5. Normas gerais e abstratas, individuais e concretas......................................33
1.4. Fato jurdico e ato jurdico........................................................................................37
1.5. Relao jurdica........................................................................................................39
1.6. Validade (pertinncia), vigncia e eficcia: tcnica, jurdica e social......................42
1.7. Noo de sistema e classificao..............................................................................45
1.8. O processo de interpretao das regras jurdicas......................................................52
1.9. A aplicao do direito...............................................................................................59
Captulo 2. Princpios e o subsistema constitucional tributrio................................................62
2.1. Regras de comportamento e regras de estrutura...............................62
2.2. Noo de princpios..............................................65
2.3. Valor e limite objetivo..............................70
2.4. O subsistema constitucional tributrio e o IPI..........................................................73
2.5. O subsistema constitucional tributrio e o ICMS.....................................................80
2.6. O subsistema constitucional tributrio e o IPTU......................................................89
Captulo 3. O princpio da seletividade no subsistema tributrio brasileiro.....................96
-
10
3.1. Consideraes sobre a seletividade..............................96
3.2. Conceito e funo da seletividade....................97
3.3. As necessidades de bens e servios da sociedade de consumo............99
3.4. A manifestao de riqueza e a incidncia tributria...............................................100
Captulo 4. A seletividade e a extrafiscalidade...........................103
4.1. O conceito de extrafiscalidade no sistema jurdico tributrio........103
4.2. A extrafiscalidade na Constituio Federal de 1988......107
4.3. A seletividade como critrio implementador da extrafiscalidade...................111
4.4. A extrafiscalidade no IPI........................................................................................113
4.5. A extrafiscalidade no ICMS...................................................................................115
4.6. A extrafiscalidade no IPTU....................................................................................118
Captulo 5. A seletividade em funo da essencialidade do produto e do servio..................122
5.1. O conceito de essencialidade (necessidade) como critrio de tributao.......122
5.2. A seletividade e os princpios constitucionais........................................................123
5.2.1. A legalidade...............................................................................................124
5.2.2. A capacidade contributiva..........................................................................125
5.2.3. A razoabilidade..........................................................................................127
5.2.4. A proporcionalidade...................................................................................128
5.2.5. A igualdade................................................................................................129
5.2.6. A uniformidade..........................................................................................131
5.3. A seletividade no IPI..................................................................................133
5.3.1. A seletividade como critrio obrigatrio no IPI.........................................133
5.3.2. A seletividade do IPI e a alquota zero...................................................136
5.3.3. A variao das alquotas do IPI conforme a etapa da circulao ou a
destinao do produto..........................................................................................138
-
11
5.3.4. A seletividade do IPI e a tutela do meio ambiente.....................................139
5.4. A seletividade no ICMS.........................................................................................139
5.4.1. A seletividade como critrio obrigatrio no ICMS....................................139
5.4.2. A aplicabilidade do poder-dever no ICMS................................................143
5.4.3. A seletividade na energia eltrica..............................................................146
5.4.4. A seletividade no servio de telecomunicao...........................................149
Captulo 6. A seletividade em razo do uso e localizao do imvel.....................................152
6.1. A seletividade como critrio obrigatrio no IPTU.................................................152
6.2. A acepo semntica da seletividade quanto ao uso do imvel.............................154
6.3. A acepo semntica da seletividade quanto localizao do imvel...................156
6.4. A seletividade e os princpios constitucionais no IPTU.........................................158
6.4.1. A progressividade.......................................................................................158
6.4.2. A capacidade contributiva..........................................................................163
6.4.3. A razoabilidade..........................................................................................165
6.4.4. A proporcionalidade...................................................................................167
6.4.5. A igualdade................................................................................................167
6.5. A seletividade como princpio determinante das alquotas do IPTU.....................169
Captulo 7. Interpretao e aplicao da seletividade.............................................................171
7.1. A interpretao do princpio da seletividade..........................................................171
7.2. A aplicao do princpio da seletividade no direito positivo..................................174
7.3. As regras produzidas pelo Poder Executivo sujeitas seletividade.......................177
7.3.1. No IPI.........................................................................................................177
7.3.2. No ICMS....................................................................................................178
7.3.3. No IPTU.....................................................................................................180
7.4. As regras produzidas pelo Poder Legislativo sujeitas seletividade.....................181
-
12
7.4.1. No IPI.........................................................................................................181
7.4.2. No ICMS....................................................................................................183
7.4.3. No IPTU.....................................................................................................184
7.5. As normas produzidas pelo Poder Judicirio sobre a seletividade.........................187
7.5.1. No IPI.........................................................................................................189
7.5.2. No ICMS....................................................................................................194
7.5.3. No IPTU.....................................................................................................196
7.6. O dever de corrigir distores no exerccio jurisdicional.......................................198
7.6.1. A funo tpica do Poder Judicirio...........................................................198
7.6.2. A impossibilidade de se aplicar alquotas diferentes pela equidade..........200
7.6.3. A suspenso da eficcia tcnica e a invalidade da regra que no atenda
seletividade...........................................................................................................206
Concluses..............................................................................................................................212
Bibliografia.........................................................................224
-
13
INTRODUO
A maior parte dos estudos realizados no Brasil quanto incidncia dos impostos
sobre o consumo e o patrimnio conclui que nosso sistema tributrio est em regresso. A
Carta Magna de 1988 tentou, sem sucesso, amenizar esse problema, ao estabelecer o princpio
da seletividade tributria.
Aplicvel ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao Imposto sobre
Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS) e ao Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), deparamo-nos, nesse princpio, com acepes semnticas distintas. Nos dois
primeiros impostos, o critrio tributrio de distino a essencialidade do produto,
mercadoria ou servio. No terceiro, a distino devida ao uso e localizao do bem imvel.
Encontramos em nosso sistema jurdico algumas falhas normativas, justificadas pela
atecnia do legislador. Porm, o fato de haver palavras e expresses incorretas no impedem o
intrprete e o aplicador do direito de cumprirem sua funo, qual seja, apontarem a
significao mais exata ao princpio, revelada nas alquotas das regras de conduta.
Apesar de o texto constitucional atribuir certa liberdade ao legislador ordinrio, este
est sob o manto da imposio legal no atendimento ao princpio.
Para no editar regras inconstitucionais, o legislador ordinrio deve mergulhar na
axiologia e identificar os critrios objetivos do princpio. Poder, assim, fazer a melhor
escolha, a que atenda s intenes do legislador constituinte e, conseqentemente, aos direitos
daqueles que suportam a carga fiscal.
Ressalte-se que a seletividade um princpio eivado de carga valorativa, sendo
interpretado sob o manto da discricionariedade, mas limitado a critrios que impedem a
liberalidade do legislador.
Ao explicitar esse princpio, a Constituio Federal de 1988 tentou impor parmetros
para atender seletividade nos casos que envolvem o IPI, o ICMS e o IPTU. Entretanto, esses
-
14
parmetros, traduzidos, amparados e delimitados no arqutipo constitucional do princpio,
acabam no sendo ou sendo mal interpretados e compreendidos pelo legislador e pelo
aplicador do direito.
Como forma de registrar as falhas, e at mesmo a no-aplicao desse princpio
constitucional, a doutrina vem entendendo que, na prtica, no temos uma seletividade
efetivamente estabelecida.1
A no-observncia desse princpio d-se por culpa do legislador, do aplicador e
daqueles que devem fazer do seu direito uma arma de questionamentos.
A Cincia do Direito vem buscando abrir os olhos dos legisladores e dos aplicadores
do direito quanto necessidade de desonerar os produtos e servios essenciais
sobrevivncia, ao bem-estar social e ao crescimento econmico dos consumidores, que so, de
fato, os verdadeiros contribuintes dos tributos. Mas esse trabalho s produzir efeitos quando
aqueles a quem dirigido o princpio aplicarem-no efetivamente.
Em comentrios sobre os captulos, apontamos, inicialmente, os principais
fundamentos que serviram de base para o desenvolvimento do estudo, como forma de fixar
preceitos bsicos que sero utilizados na identificao, na interpretao e na aplicao desse
fundamental princpio.
Conceituamos norma jurdica e fato jurdico, analisamos o processo de subsuno do
conceito fato ao conceito norma, com a criao da norma individual e concreta a partir da
norma geral e abstrata.
1 MACHADO. Hugo de Brito. IPTU. Ausncia de progressividade. Distino entre progressividade e seletividade. Revista Dialtica de Direito Tributrio n. 31. So Paulo: Dialtica, 1998, p. 83-84.
-
15
Tratamos do processo de interpretao, que se inicia no texto legal, percorremos
caminhos imprescindveis para chegar compreenso do contexto2 das regras, com o objetivo
de aplicar as significaes mais exatas quando da produo de normas jurdicas.
No segundo captulo, apresentamos o conceito de princpio como forma de fixar
premissas, destacando o critrio axiolgico e objetivo que essas regras jurdicas estruturais
apresentam.
Identificamos no sistema jurdico alguns princpios que carregam consigo grande
carga de valor, e outros que so identificveis por limites objetivos.
Discorremos brevemente sobre o tratamento constitucional dado ao IPI, ao ICMS e
ao IPTU, como forma de identificar os tributos sujeitos seletividade tributria.
No terceiro captulo, passamos a conceituar a seletividade e destacamos sua funo
no subsistema tributrio brasileiro, considerando que tal princpio deve ser observado pelo
legislador ordinrio, pelo Executivo e pelo Judicirio, haja vista tratar-se de um direito
constitucional do contribuinte.
Ao aplicar-se a seletividade tributria no tempo, percebem-se mutaes no plano das
necessidades de bens e servios da sociedade de consumo, haja vista que em um processo
histrico e evolutivo passou-se a considerar essenciais produtos e servios antes considerados
teis e suprfluos, assumindo esses produtos e servios outra conotao.
Encerramos o terceiro captulo identificando a manifestao de riqueza, considerada
como elemento definidor da incidncia tributria. No IPI e ICMS, diante da sistemtica
indireta de repasse da carga tributria para o preo dos produtos e servios, constata-se que a
manifestao de riqueza o preo do produto industrializado ou comercializado, bem como
2 Contexto pode ser definido como um conjunto de elementos que condicionam, de um modo qualquer, o significado de um enunciado. ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de filosofia. 3 ed. So Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 199.
-
16
do servio prestado no plano da competncia estadual, sujeitos ao balizamento estabelecido
pela seletividade.
No caso do IPTU, a manifestao de riqueza est atrelada capacidade econmica
do contribuinte, sujeita tributao de acordo com o uso e a localizao do bem imvel.
No quarto captulo, identificamos, nas regras jurdicas, a presena de critrios fiscais
e extrafiscais em conjunto, aplicados em harmonia, podendo haver prevalncia de um sobre o
outro, mas sem interferir em suas funes e identidades.
Constatamos que a extrafiscalidade visa a atender ao desenvolvimento
socioeconmico, justia social e proteo ao meio ambiente, elementos extrnsecos que
no so includos nos anseios arrecadatrios do Estado.
Na Constituio Federal, identificamos nas regras de estrutura a extrafiscalidade dos
tributos. Especial ateno foi dada s regras dirigidas ao legislador competente para instituir,
modificar ou extinguir as regras-matrizes do IPI, do ICMS e do IPTU.
No quinto captulo, analisamos o conceito da essencialidade, vista como critrio
definidor da tributao dos produtos (IPI), das mercadorias e dos servios (ICMS).
No IPI, demonstramos que o texto constitucional imps ao legislador ordinrio
obrigao de aplicar o princpio nas regras jurdicas. As alquotas devem ser aplicadas na
razo inversa da necessidade de consumo do produto ou do servio.
Discorremos, ainda, sobre a relao da seletividade com a alquota zero, a
impossibilidade de distinguirem-se alquotas conforme a etapa da circulao ou a destinao
do produto, e a falta de critrio direto de aplicao da seletividade para atender a tutela ao
meio ambiente.
No caso do ICMS, o legislador constituinte tambm atribuiu uma obrigao aos
editores das regras de conduta, em atendimento ao princpio. No haveria porque no se
-
17
aplicarem os mesmos critrios a esse tributo nacional, que onera da mesma forma mercadorias
e servios essenciais.
Valorizamos a interpretao do exegeta e demonstramos que a Carta Magna, quando
cria um poder, acaba criando, na verdade, um dever ao legislador ordinrio. Da considerar-se
a seletividade tambm obrigatria para o ICMS.
A ttulo de exemplificao, aprofundamos os estudos da seletividade nas operaes
com a energia eltrica e na prestao dos servios de telecomunicao, considerados
essenciais a todos os brasileiros em uma sociedade moderna.
No sexto captulo, investigamos a seletividade quanto ao IPTU. Por meio da
interpretao sistemtica, conclumos que o legislador constituinte derivado tambm imps
uma obrigao, quando da edio da Emenda Constitucional n. 29/2000. Em um primeiro
momento, essa regra dirigida ao legislador ordinrio, mas foi estendida aos aplicadores do
direito, de forma mediata.
O fundamento est na criao do poder/dever, no se permitindo regras obsoletas no
texto constitucional que possibilitem ao legislador a escolha de instituir ou no os tributos.
Outro fundamento que se pode acrescer a possibilidade de atender-se a capacidade
econmica do contribuinte por meio da progressividade de alquotas em face do valor do
imvel.
No momento em que foram inseridos no mesmo pargrafo enunciados tratando da
progressividade e da seletividade em face do uso e da localizao do bem imvel, o
constituinte derivado almejou a aplicao harmnica desses dois subprincpios,
implementadores da capacidade contributiva. Sendo possvel atender capacidade
contributiva no IPTU, devem-se ento ser aplicadas a progressividade e a seletividade
tributria.
-
18
O critrio de distino das alquotas em face do uso do imvel a destinao dada
pelo proprietrio, possuidor ou detentor do bem imvel: se para fim comercial, industrial,
especial ou residencial.
No caso da localizao, a distino de alquotas, a ser implementada pelo legislador
municipal, deve ater-se infra-estrutura, ao desenvolvimento socioeconmico e ao patrimnio
histrico e cultural de certas regies, a fim de implementar critrios objetivos de discrmen da
tributao.
Assim, o legislador possui como meio para atender seletividade no IPTU a variao
de alquotas, a serem aplicadas juntamente com a progressividade, em conformidade ao
princpio da capacidade contributiva, por tratar-se de um imposto pessoal, e no real.
No ltimo captulo, buscamos demonstrar o processo de interpretao e aplicao do
princpio da seletividade, tanto pelo legislador quanto por aqueles que expedem normas
individuais e concretas (Executivo e o Judicirio).
Transcrevemos algumas regras jurdicas que tratam da seletividade. No caso do IPI,
foram analisados atos normativos primrios (Lei Ordinria) e secundrios (Decreto),
considerando que nesse ltimo caso h previso constitucional que permite a alterao de
alquotas pelo Executivo nos limites estabelecidos em lei.
No caso do ICMS, foram analisados Convnios expedidos pelo Conselho Nacional
de Poltica Fazendria e leis editadas pelas Assemblias Legislativas dos Estados, a ttulo de
demonstrar como vem sendo aplicado o princpio da seletividade tributria.
No caso do IPTU, por sua vez, as regras jurdicas foram limitadas ao legislador
municipal, diante da falta de competncia jurisdicional do aplicador administrativo, a quem
est vedado declarar ou no a inconstitucionalidade das regras jurdicas.
Por fim, investigamos o papel do Poder Judicirio quanto ao seu exerccio
jurisdicional. Analisamos suas funes tpicas e atpicas no sistema jurdico brasileiro.
-
19
Constatamos que o critrio utilizado pelos contribuintes nos questionamentos das
alquotas em razo da seletividade d-se pela comparao. Objetiva-se, quando muito,
estender isenes, reduzir alquotas de certos produtos e servios, aplicar a eqidade de
alquotas etc.
Esses argumentos so inacatveis pelo Judicirio, haja vista que a funo
jurisdicional no reduzir alquotas, restabelecer isenes, dar tratamento semelhante pela
eqidade, mas sim realizar o controle de legalidade e constitucionalidade repressivo, por meio
da expedio de normas individuais e concretas pelo controle difuso, atacando a eficcia
sinttica das regras que no atendem ao princpio.
No caso do controle concentrado, pelo fato de ser atribudo pela Carta Magna
controle de validade das regras jurdicas, o Supremo Tribunal Federal acaba expedindo norma
geral e concreta para excluir as regras invlidas do sistema jurdico, tanto pelo seu vcio
formal quanto pelo seu vcio material.
Portanto, este mais um trabalho que tenta trazer para a Cincia do Direito no s
uma anlise dogmtica do princpio da seletividade no subsistema tributrio brasileiro, mas
busca respeito ao atendimento dessa regra de estrutura constitucional por aqueles que
legislam, interpretam e aplicam as regras jurdicas.
-
20
Captulo 1. Propedutica geral
1.1. Delimitao do objeto
No presente trabalho, objetiva-se apresentar fundamentos cientficos em relao ao
princpio da seletividade previsto na Constituio Federal de 1988, especificamente sobre o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o Imposto sobre Circulao de Mercadorias e
Servios (ICMS) e sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Ressalte-se, porm, que no objeto do presente estudo a seletividade em relao ao
Direito Previdencirio Brasileiro, nem a seletividade das mercadorias destinadas
importao, decorrentes de restries impostas pela extrafiscalidade dos decretos e portarias
expedidos pelos rgos federais de controle e fiscalizao do comrcio exterior, nos termos
do artigo 237 da Constituio Federal de 1988.
Dessa forma, passamos a tratar da linguagem, do conceito de norma, do fato jurdico,
da relao jurdica, da leitura, interpretao e compreenso do texto (funes hermenuticas),
bem como da aplicao da regra jurdica no caso concreto, no sendo o objetivo deste
trabalho esgotar qualquer desses assuntos.
A fixao de certas premissas importante, porque utilizaremos o tempo todo
conceitos, classificaes e descries trazidas no momento inaugural deste trabalho, que
serviro para o desenvolvimento e a compreenso do estudo sobre a seletividade tributria.
1.2. A linguagem no direito
Iniciemos a questo da construo da linguagem, conceituando signo como unidade
de um sistema que permite a comunicao inter-humana. Signo um ente que tem o status
lgico de relao.3
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Lngua e linguagem signos lingsticos funes, formas e tipos de linguagem hierarquia de linguagens. Filosofia do direito I apostila de lgica jurdica. So Paulo: PUC/SP, 2003, p. 13.
-
21
Aplicando-se a terminologia de EDMUND HUSSEL, em que sob o prisma de um
tringulo encontram-se trs elementos (suporte fsico, significado e significao), pode-se
afirmar que um suporte fsico associa-se a um significado e a uma significao.
O suporte fsico da linguagem a palavra falada ou escrita, tendo natureza fsica ou
material. O significado refere-se a algo do mundo exterior ou interior do homem, podendo ser
concreto ou imaginrio. A significao a noo, a idia que surge em nossas mentes quando
nos deparamos com o objeto.
O homem, a partir dos signos, altera o mundo social por meio da produo de
significados, transforma e constri realidades por meio da interpretao dos signos.
A semitica, denominada de cincia que estuda os signos, apresenta um sistema
sgnico dividido em trs planos: (i) o sinttico, que estuda as relaes entre os signos; (ii) o
semntico, que estuda a relao dos signos com seus objetos; e (iii) o pragmtico, que
examina a relao dos signos com seus utentes, quais sejam, o emissor e o receptor.4
Dessa forma, os signos so elementos importantes para o conhecimento,
principalmente para a comunicao entre os homens, feita somente por meio da linguagem.
ALF ROSS descreve que, de todos os sistemas de smbolos5, a linguagem o mais
plenamente desenvolvido, o mais eficaz e o mais complicado. A linguagem pode manifestar-
se como uma srie de formas auditivas ou visuais (fala e escrita).6
S conseguimos transformar as coisas no mundo e dar sentido realidade quando
utilizamos a linguagem. LUDWIG WITTGENSTEIN, na proposio 5.6 de sua obra
Tractatus Lgico Philosophicus, traduziu muito bem a importncia da linguagem na vida do
homem, ao afirmar: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo.
4 Charles Sanders Peirce e Charles Morris foram os mentores da distino em trs planos na investigao dos sistemas sgnicos. Signo, linguagem e conduta. Ed. Losada (Cf. Idem, ibidem, p. 14). 5 Conceituamos smbolo como uma construo artificial arbitrariamente construda, que no guarda, em princpio, qualquer relao com o objeto que o smbolo representa. 6 ROSS, Alf. Direito e justia. Trad. Edson Bini. Bauru-SP: Edipro, 2003, p. 140.
-
22
Da o papel fundamental da linguagem para que o ser humano construa as normas
gerais e abstratas, e, em decorrncia destas, as individuais e concretas, no processo de
positivao do direito. Se no conseguirmos traduzir em linguagem o fato social, no
podemos sequer consider-lo no mundo do direito como fato jurdico, pela ausncia de
traduo em linguagem competente.
A linguagem no direito positivo possui forma prescritiva (prescreve
comportamentos), com funo reguladora de condutas intersubjetivas, juridicizando fatos e
condutas. A Cincia do Direito possui linguagem descritiva (descreve normas jurdicas),
sendo uma linguagem de sobrenvel, pois est acima da linguagem do direito positivo e a
toma como linguagem objeto (Lo). Portanto, podemos afirmar que a Cincia do Direito uma
metalinguagem.
Note-se, no plano da linguagem, que podemos construir uma escala hierrquica. Os
enunciados prescritivos dos textos de lei so: a linguagem-objeto (Lo); a Cincia do Direito,
que tem como objeto os textos de lei, uma sobrelinguagem (L1); a linguagem que fala da
linguagem da Cincia do Direito uma outra sobrelinguagem (L2), e assim sucessivamente.
A Lgica Jurdica, como metalinguagem, poder estar tanto no nvel L2, quando
formaliza a linguagem do direito positivo, como no nvel L3 (Dogmtica) ou at L4
(Filosofia).
PAULO DE BARROS CARVALHO descreve que o direito positivo no , em si,
metalinguagem. Suas proposies prescritivas apontam para fatos e para condutas
intersubjetivas, entidades extralingsticas. Sua natureza, portanto, de linguagem-de-objeto.
E continua: ali onde houver uma linguagem existir sempre a possibilidade de falar-se a
respeito dela, e sendo a Lgica Jurdica uma camada de linguagem, encontraremos em
sobrenvel a Metalgica Jurdica.7
7 Filosofia do direito I apostila de lgica jurdica, p. 42.
-
23
Como forma de melhor entender a investigao sobre as caractersticas e formas da
linguagem do Direito Positivo e da Cincia do Direito, vejamos o quadro abaixo:
Critrios Linguagem do Direito Positivo Linguagem da Cincia do Direito
a) tipo de linguagem tcnica cientfica
b) tipo de discurso prescritivo descritivo
c) hierarquia objeto sobrelinguagem
d) Lgica dentica (dever-ser) apofntica (lgica das cincias)
Assim, devemos ter sempre em mente que a linguagem do direito positivo no
passiva de empirismo, vez que apresenta estrutura de linguagem correspondente lgica
dentica, podendo ser vlida ou invlida. Na Cincia do Direito, a linguagem passiva de
valorao e verificabilidade, apresentando uma estrutura lgica altica ou apofntica, podendo
ser verdadeira ou falsa.
1.3. Norma jurdica
1.3.1. Enunciados e proposies
O direito positivo apresenta-se em linguagem na forma enunciativa. Enunciado o
produto da atividade psicofsica de enunciao. Trata-se de um conjunto de grafemas e
fonemas que, sob o manto de regras gramaticais em um determinado idioma, consubstancia-se
em uma mensagem que emitida por um sujeito a um destinatrio, no contexto da realizao
da comunicao.8
A enunciao o processo para a produo de enunciados. o prprio ato de fala,
que produz o enunciado, ou seja, aquilo que se fala.9
8 Ibidem, p. 143. 9 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadncia e prescrio no direito tributrio. 2 ed. So Paulo: Max Limonad, 2001, p. 64-65.
-
24
H tambm a enunciao enunciada, que pode ser definida como as marcas que se
podem identificar no texto de lei, remetendo-se instncia da enunciao, como forma de
identificarmos e reconstruirmos o processo de reproduo do enunciado, que consiste nas
referncias de tempo, lugar, pessoa. J os enunciados enunciados so o contedo da lei,
desprovidos das marcas da enunciao.10
Entendemos por proposio o juzo de valor que formamos na mente humana quando
nos deparamos com o contedo dos enunciados prescritivos dos textos de lei, ou seja,
proposio a significao do enunciado. Os enunciados prescritivos ingressam na estrutura
sinttica da norma jurdica, na condio de antecedente e conseqente. Isso quer dizer que
proposio a significao dos enunciados, presente na comunicao.
Portanto, proposio uma carga semntica de contedo significativo que o
enunciado, a sentena, a orao ou a assero exprimem.11
Para NORBERTO BOBBIO, proposio um conjunto de palavras que possuem
um significado em sua unidade. Sua forma mais comum o que na lgica clssica se chama
juzo, uma proposio composta de um sujeito e de um predicado, unidos por uma cpula (S
P).12
Se as normas jurdicas so formadas de proposies, pois nem sempre as
significaes construdas a partir de um artigo de lei so suficientes para compor a norma
jurdica,13 afirmamos que a norma uma construo feita pelo homem em um plano superior
ao do enunciado prescritivo, sendo sempre implcita, pois essas entidades esto sempre nas
implicitudes dos textos de lei, at mesmo porque a significao algo construdo
abstratamente pela mente humana.
10 Idem, ibidem, p. 65-66. 11 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia. 2 ed. So Paulo: Saraiva,1999, p. 20. 12 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurdica. Trad. Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Apresentao Alar Caff Alves. Bauru: Edipro, 2001, p. 73. 13 FERRAGUT, Maria Rita. Presunes no direito tributrio. So Paulo: Dialtica, 2001, p. 20.
-
25
H normas jurdicas lato sensu, no caso a definio dada em epgrafe, e norma
jurdica estricto sensu, em que so necessrios elementos mnimos (unidades de significao
do dentico-jurdico), formados por enunciados prescritivos, presentes no antecedente e no
conseqente da norma, para configurar sua completude.
A norma jurdica completa, conforme bem descreve EURICO MARCOS DINIZ DE
SANTI14, formada por proposies prescritivas, com caracterstica bimembre, formada por
uma norma primria e por uma norma secundria, com mesma estrutura sinttica, mas
composio semntica distinta, mais bem analisada a seguir.
1.3.2. Conceito de norma jurdica
Norma jurdica lato sensu a significao que produzimos em nossa mente a partir
dos textos do direito positivo, construda pelo intrprete quando se depara com os textos de
lei. Consideramos norma jurdica a significao extrada do texto legal que prescreve: Braslia
a Capital Federal ou a alquota do IPI de 15%. Observe-se que no h juzo hipottico-
condicional completo.
Norma jurdica stricto sensu a significao organizada numa estrutura lgica
hipottica-condicional, construda pelo intrprete quando se depara com os textos do direito
positivo, dotada de coercitividade e bilateralidade.15
A questo da coercitividade da norma est presente quando a conduta prescrita no
cumprida, podendo ser exigida sua obedincia mediante o exerccio jurisdicional. J a
bilateralidade est presente na prpria essncia da norma, quando regula necessariamente
condutas entre sujeitos, sendo formada por uma norma primria e uma norma secundria.
Cabe ainda uma distino importante entre enunciados prescritivos e normas
jurdicas. Enunciado prescritivo no significao, mas sim suporte fsico que a norma
14 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lanamento tributrio. 2 ed. So Paulo: Max Limonad, 2001, p. 41. 15 Maria Rita Ferragut entende como norma jurdica o mesmo que definimos como norma jurdica stricto sensu. Para esta autora, norma jurdica lato sensu denominada de proposio prescritiva, vez que possui contedo dentico incompleto, in Presunes no direito tributrio, p. 19.
-
26
jurdica se baseia para ser construda em um plano da abstrao. A norma jurdica est no
plano do contedo, enquanto os enunciados esto no plano da literalidade dos textos de lei.
Muitas vezes o intrprete, para construir a norma jurdica estricto sensu, que a partir
de agora ser denominada apenas norma jurdica, precisa observar vrios enunciados
prescritivos, para chegar a um juzo condicional completo.
Quando nos depararmos com textos de lei que no apresentam estrutura mnima
formadora de um juzo hipottico-condicional completo, denominaremos esses textos de
norma jurdica lato sensu ou regra jurdica, tratando-se de critrio de diferenciao.
Tomando como norma jurdica a significao organizada em uma estrutura lgica
hipottica-condicional (juzo implicacional), construda pelo intrprete a partir do direito
positivo (seu suporte fsico), e dotada de bilateralidade e coercitividade, podemos afirmar que
necessrio, para que a estrutura normativa seja completa, a existncia de uma norma
primria e uma norma secundria.
A norma primria estabelece relaes jurdicas entre sujeitos sobre direto material. A
norma secundria processual, formadora de uma relao jurdica angular entre o sujeito de
direito e o Estado Juiz, que aplicar a sano decorrente de descumprimento de um dos
modais denticos Permitido (P), Obrigatrio (O) ou Proibido (V), presente no conseqente
normativo da norma primria.
Portanto, o antecedente da norma secundria formado pelo descumprimento do
conseqente da norma primria ou material.
Quanto sano, devemos afirmar que no faz parte da dicotomia da norma jurdica,
vez que a norma sancionadora seria outra regra, com antecedente e conseqente prprios.
Estudaremos esses conceitos quando tratarmos de normas primrias e secundrias.
-
27
1.3.3. A estrutura lgica das normas jurdicas
Vimos, em um primeiro momento, que a norma jurdica necessita de uma estrutura
lgica hipottica-condicional de sentido completo, apresentando uma proposio-antecedente,
descritiva de possvel evento que ocorre no mundo social, bem como uma proposio-
conseqente, que implicada pela primeira.
A norma jurdica apresenta uma composio dual (antecedente e conseqente), que
unida pela atividade do legislador ou do aplicador quando criam normas, por meio de um
dever-ser neutro, que no aparece como modalizado em proibido, permitido ou
obrigatrio, por tratar-se de relao interproposicional.
Diante disso, podemos afirmar que, se ocorrer o antecedente da norma, ento, por
uma relao de implicao teremos seu conseqente, formando nesse ltimo uma relao
jurdica entre sujeitos de direitos.
A relao de implicao do antecedente no conseqente decorre da estrutura: se se
d um fato F, recolhido numa proposio p, um sujeito se pe em relao dentica com outro
sujeito; se se verifica conduta oposta (contrria ou complementar) conduta estabelecida
como deonticamente devida, formulada na proposio no-q, ento outra relao de sujeito
para sujeito, deonticamente especificada, vem se estabelecer, recolhida na proposio r.16
Em uma linguagem formalizada teremos: pq, no-qr. Cada proposio possui antecedente e conseqente, e cada relao de implicao que ocorre dentro de cada
proposio vem modalizada deonticamente.
LOURIVAL VILANOVA descreve que se., ento a forma lgica de revestir a
relao de causa/efeito. Podemos modalizar essa implicao dizendo necessrio (N), ou
possvel (M) que p implique q.17
16 VILANOVA, Lourival. As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo. So Paulo: Max Limonad, 1997, p. 112. 17 Idem, ibidem, p. 112.
-
28
A hiptese ou antecedente uma parte da norma cuja funo descrever situao de
possvel ocorrncia no mundo; j a tese ou conseqente prescreve uma relao modalizada
pelo functor relacional dentico, em um de seus trs modos relacionais especficos: permitido,
proibido ou obrigatrio.
O legislador pode selecionar fatos sobre os quais vo incidir as hipteses, mas no
pode construir a hiptese sem a estrutura sinttica. Pode-se combinar uma s hiptese com um
s conseqente, ou vrias hipteses para um s conseqente, ou uma hiptese com vrios
conseqentes, ou vrias hipteses com vrios conseqentes, mas no se ter uma quinta
possibilidade.
Em uma viso interna da norma jurdica, temos como estrutura formalizada da
linguagem lgica a seguinte frmula: se se d um fato F qualquer, ento o sujeito S deve
fazer ou deve omitir ou pode fazer ou omitir conduta C ante outro sujeito.18
Em uma linguagem totalmente formalizada da norma jurdica, temos: D[F (S R S)]. O D denominado functor-de-functor, tratando de indicador da operao dentica que ocorre na relao de implicao entre o antecedente e o conseqente da norma; F o
fato descrito no antecedente da norma; o conectivo implicacional; S e S so os sujeitos da relao jurdica que se forma no conseqente normativo, R varivel relacional
que, no mundo dentico, pode apresentar-se sob os seguintes modais: obrigatrio (O),
permitido (P) e proibido (V).
1.3.4. Normas primrias e secundrias
HANS KELSEN19 corrigiu metodologicamente algumas questes estruturais da
norma jurdica, isolando do Direito todas as questes metafsicas que no fossem
essencialmente jurdicas, como forma de demonstrar uma teoria estrutural pura do direito.
18 Idem, ibidem, p. 95. 19 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. Joo Baptista Machado. 6 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
-
29
Para a doutrina kelseniana, a enunciao do Direito deve ser formulada com
fundamento na chamada norma dupla ou norma complexa, composta de uma norma
primria e de uma norma secundria. A norma primria descreveria a sano e a norma
secundria estabeleceria o comportamento que a ordem jurdica desejaria. Em resumo,
teramos na doutrina de KELSEN a seguinte frmula: norma primria dado certo
comportamento humano, deve ser a sano (ato coativo por parte de um rgo do Estado
pena ou execuo forada), norma secundria dado certo fato temporal, deve ser a
prestao (ou comportamento que evite a conseqncia coativa).20
Assim, a classificao de KELSEN quanto s normas primrias e secundrias tem
grande funo, mais bem aproveitada pela Teoria Sistemtica quando passa a estudar o
Direito relacionado com a Lgica, com a Linguagem, com a Filosofia, com a Sociologia etc.
No sentido de facilitar nossa investigao, necessrio, para a completude da norma
jurdica, haver uma norma primria ou material e uma norma secundria ou processual, feita
por uma ciso ou corte metodolgico da estrutura complexa da norma.
As estruturas sintticas da norma primria e da norma secundria so idnticas,
apresentando tambm a mesma estrutura formal: [D(pq)], porm apresentam composio semntica distinta, porque o antecedente da norma secundria aponta para um comportamento
que viola deveres prescritos no conseqente da norma primria, enquanto o conseqente da
norma secundria prescreve uma relao jurdica entre o sujeito ativo da norma primria e o
Estado-Juiz, que ocupa o papel de sujeito passivo da relao intranormativa.
Devemos ficar, em um primeiro momento, com o conceito de que norma primria
aquela que vincula deonticamente a ocorrncia de dado fato a uma prescrio (relao
jurdica); j a norma secundria conecta-se sintaticamente primeira, prescrevendo: se se
verificar o fato da no ocorrncia da prescrio da norma primria, ento deve ser uma
20 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributria. 4 ed. So Paulo: Max Limonad, 2002, p. 39-40.
-
30
relao jurdica que assegure o cumprimento daquela primeira, ou seja, dada a no
observncia de uma prescrio jurdica deve ser a sano.21
TREK MOUSSALLEM doutrina que uma norma prescreve o que deve-ser. Mas
nem sempre o que deve-ser corresponde ao que .22 O que na verdade o jurista quer nos dizer
que a violao do disposto no conseqente da norma primria, denominado de ilcito, ocorre
diante de um descompasso entre a linguagem social (ser) e o que dispe a norma (dever-ser).
Nesse sentido, o direito positivo fixa normas para fazer frente ao ilcito e possibilitar
que o Estado-Juiz atue com o fim de exigir o cumprimento da norma, eliminando os efeitos do
ilcito. Tais normas so chamadas de secundrias.
Portanto, temos, em princpio, que as normas primrias descrevem fatos lcitos,
estabelecendo direitos e deveres, e a norma secundria descreve apenas fatos ilcitos
prescrevendo em seu conseqente a possibilidade de atuao do Estado-Juiz, sob o manto da
sano que lhe outorgada pela lei.
LOURIVAL VILANOVA ensina que norma primria (oriunda de normas civis,
comerciais, administrativas) e a norma secundria (oriunda de normas de direito processual
objetivo) compem a bimembridade da norma jurdica: a primria sem a secundria
desjuridiciza-se; a secundria sem a primria reduz-se a instrumento, meio, sem fim material,
adjetivo sem o suporte do substantivo.23
J a questo da sano tratada por KELSEN como elemento indissocivel da
norma jurdica, vez que norma jurdica a que prescreve uma sano, tendo como contedo
um ato coercitivo, qualificado como devido, sem o qual se torna mero preceito moral.24
21 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lanamento tributrio, p. 41. 22 MOUSSALLEM, Trek Moyss. Fontes do direito tributrio. So Paulo: Max Limonad, 2001, p. 87. 23 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relao no direito. 4 ed. So Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 190. 24 Comentrios de Eurico de Santi sobre Kelsen, in Lanamento tributrio, p. 41.
-
31
H juristas que evitam utilizar a palavra sano, substituindo-a pela expresso
atuao do Estado-Juiz, vez que uma norma secundria preveria um ato de aplicao do
direito, tendo por conseqncia a criao de normas jurdicas.25
Ressalte-se que a sano poder tambm ser encontrada na norma primria
sancionatria, com a funo de forar a eficcia dos deveres jurdicos previstos em outras
normas primrias, como no caso das chamadas sanes administrativas, em que se
vislumbra a presena de multas e outras penalidades, faltando, aqui, a presena do Estado-Juiz
como sujeito passivo na relao dentica.
Assim, temos como normas primrias as que estabelecem direitos e deveres, e como
normas secundrias as que estatuem uma atuao do Estado-Juiz por meio do exerccio da
coao.
Alguns juristas consideram como espcies de normas primrias as chamadas norma
primria sancionadora e norma primria dispositiva: (i) imposio de penalidade no Auto
de Infrao e Imposio de Multa, diante de descumprimento de uma obrigao
(sancionadora); (ii) a prpria obrigao tributria traduzida no Auto de Infrao e Imposio
de Multa por meio de fundamentao legal que prescreva a incidncia tributria (dispositiva).
A norma primria sancionadora tem por pressuposto o no-cumprimento de deveres
ou obrigaes, apresentando pressuposto antijurdico (ilcito), vinculando uma sano.
A norma primria dispositiva no apresenta aspecto sancionatrio e estabelece
relaes jurdicas de direito material, tendo sempre em sua estrutura o lcito.
Em uma linguagem formalizada, temos como norma primria sancionadora e
dispositiva: D [(pq) v (-qr)]. Como norma primria dispositiva, temos (pq) e como norma primria sancionadora, (-qr).
25 MOUSSALLEM, Trek Moyss. Fontes do direito tributrio, p. 90.
-
32
Podemos visualizar a estrutura da norma secundria da seguinte forma: o antecedente
descreve o ilcito, qual seja, o descumprimento da relao jurdica prevista no conseqente da
norma primria, e o seu conseqente prescreve uma atuao do Poder Judicirio. O objetivo
da presena do Estado-Juiz produzir uma terceira norma, que (1) pode ser pressuposto de
uma coao execuo forada em virtude de o contedo da sentena transparecer uma
norma de conduta ou (2) pode se referir a uma norma para expuls-la do sistema (norma de
reviso semntica).26
A norma secundria sempre estar formalizada como uma proposio negada -p ou
-r, pois decorre do descumprimento do conseqente da norma primria.
EURICO DE SANTI trata com mrito a questo da norma secundria, ao descrever
que h duas categorias possveis: "uma caracterizada pela sano como direito processual de
ao do sujeito ativo ao rgo jurisdicional, outra, pela sano como resultado do processo
judicial, a sentena condenatria, pressuposto da coao, atribuindo norma secundria as
proposies "-q" ou "-r", formalizada da seguinte forma: [(-q v -r) S].27
Porm, adotaremos como frmula da norma secundria: D [(p.-q) (S'RS''')], sendo p a ocorrncia do fato jurdico; ".", o conjuntor; -q, a conduta descumpridora do dever-ser;
"", o condicional; S', o sujeito ativo; R, o relacional dentico; e S''', o Estado-Juiz. Em uma viso completa da norma jurdica, formalizamos a linguagem da seguinte
forma: D {[(pq) v (-qr)] v [(p. -q) (S'R S''')]. Temos como norma primria dispositiva: (pq); "v" o disjuntor includente; (p. -q), a norma primria sancionatria; "", o operador implicacional; S', o sujeito ativo; R, o relacional dentico; e S''', o Estado-Juiz. Com isso,
confirma-se que a norma jurdica apresenta estrutura sinttica homognea.
26 Idem, ibidem, p. 88. 27 Lanamento tributrio, p. 44-45.
-
33
1.3.5. Normas gerais e abstratas, individuais e concretas
As normas jurdicas podem ser classificadas em gerais e abstratas, gerais e concretas,
individuais e abstratas e individuais e concretas. Essa classificao tem como justificativa
facilitar a vida do intrprete na identificao de caractersticas que assumem as normas, sendo
homogneas no seu plano sinttico, mas heterogneas no seu plano semntico.
TREK MOUSSALLEM, ao comentar essa classificao, apontou diferena
existente entre essas normas. Considerou que a norma ser abstrata ou concreta quando
analisada do prisma do antecedente. Os atributos geral e individual apontam para a anlise do
conseqente normativo.28
Entendemos que a diferena existente na classificao adotada est no fato de que, na
norma geral, o sujeito passivo indeterminado; j na individual, o sujeito passivo ou ativo
determinado.
A diferena entre a abstrata e a concreta est na conotao do fato jurdico no
antecedente da norma, do prisma emprico, pois no se pode falar que na norma abstrata h a
presena do fato jurdico, mas apenas uma conotao do mesmo.
A norma ser abstrata quando houver apenas a indicao de classes com as notas
que um acontecimento precisa ter para ser considerado fato jurdico (no antecedente),
implicando a indicao de classes com as notas que uma relao tem de ter para ser
considerada como relao jurdica (no conseqente).29
A norma ser concreta quando houver efetivamente a subsuno do conceito fato ao
conceito norma, passando da posio de fato do mundo fenomnico para o mundo da
linguagem do direito. Com isso, esse fato traduzido em linguagem jurdica assume, no
antecedente normativo, a figura de um enunciado denotativo.
28 Fontes do direito tributrio, p. 103. 29 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributrio: fundamentos jurdicos da incidncia, p. 129.
-
34
Em breve sntese, podemos afirmar que a norma geral e abstrata possui antecedente
normativo com descritor hipottico de uma classe de eventos de possvel ocorrncia, e com
conseqente normativo amplo, que atinge pessoas indeterminadas, possuidoras de condies
de serem sujeitos de direitos e obrigaes.
Por norma individual e concreta, entendemos aquela que vincula antecedente
realizado em um determinado tempo e espao, sendo fato passado, com conseqente
individualizado, em que se identificam os sujeitos da relao jurdica.
PAULO DE BARROS CARVALHO entende que costuma-se referir a generalidade
e a individualidade da norma ao quadro de seus destinatrios: geral, aquela que se dirige a um
conjunto de sujeitos indeterminados quanto ao nmero; individual, a que se volta a certo
indivduo ou a grupo identificado de pessoas. J abstrao e a concretude dizem respeito ao
modo como se toma o fato descrito no antecedente. A tipificao de um conjunto de fatos
realiza uma previso abstrata, ao passo que a conduta especificada no espao e no tempo d
carter concreto ao comando normativo.30
NORBERTO BOBBIO ensina que h nas proposies prescritivas dois elementos
constitutivos e imprescindveis: o sujeito a quem a norma se dirige e o objeto da prescrio,
que a ao prescrita. As normas gerais so as universais em relao aos destinatrios, e as
abstratas so universais em relao ao. As normas individuais so as que possuem
destinatrio individualizado; j nas concretas o que individualizada a ao.31
Nesses termos, podemos trazer exemplos de normas para melhor visualizar a
classificao adotada. As normas gerais e abstratas so a maior parte das leis, a regra de
iseno, a regra-matriz de incidncia,32 a regra de imunidade, a regra de competncia etc.
30 Idem, ibidem, p. 33. 31 Teoria da norma jurdica, p. 178-181. 32 Expresso criada por Paulo de Barros Carvalho, referindo-se norma tributria em sentido estrito, classificada como geral e abstrata, formada por um antecedente e um conseqente com elementos mnimos, com a mesma estrutura sinttica inerente a toda norma jurdica.
-
35
As normas gerais e concretas so os veculos introdutores de normas, que inserem
outras normas no sistema jurdico, sendo geral por atingir pessoas indeterminadas, e concreta
por ter sido o fato traduzido em linguagem competente, especifico no tempo e no espao.
Entendemos por veculos introdutores as normas jurdicas que introduzem outras
normas no sistema jurdico, consideradas por alguns juristas como fontes formais de direito.
PAULO DE BARROS CARVALHO destaca a importncia dos veculos
introdutores, considerando que a norma s inserida no sistema jurdico por uma outra norma
de mesma ou maior hierarquia. Da o fato de as normas andarem aos pares (uma introdutora e
uma introduzida).
O jurista citado considera ainda que os veculos introdutores podem ser classificados
em primrios e secundrios. Os primrios so os nicos a promover o ingresso de regras
inaugurais no sistema jurdico. Os secundrios, por sua vez, no possuem capacidade de
alterar as estruturas do mundo do direito positivo, o que implica uma hierarquia prpria do
sistema jurdico traduzida na impossibilidade de se alterarem leis, medidas provisrias,
decretos legislativos, por meio de instrues normativas, portarias, decretos etc.
Com razo, os juristas TREK MOUSSALLEM33e EURICO DE SANTI34
descrevem que essa classificao insuficiente para abarcar o amplo espectro da
fenomenologia das fontes do direito tributrio, isso porque o critrio da utilidade utilizado
nessa classificao inaplicvel, pois as classificaes jurdicas apontam em dois planos, o da
validade e invalidade para o Direito Positivo, e o da verdade ou falsidade para a Cincia do
Direito.
A crtica construtiva, haja vista que no foram contempladas nessa classificao as
normas jurdicas individuais e concretas produzidas pelo Poder Judicirio e as normas gerais e
33 Fontes do direito tributrio, p. 188. 34 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Anlise crtica das definies e classificaes jurdicas como instrumentos para compreenso do direito. Direito global. So Paulo: Max Limonad, 1999, p. 299.
-
36
abstratas produzidas pelo Poder Executivo, que so importantes decises a serem analisadas
no presente estudo, quando tratarmos da aplicao do princpio da seletividade tributria.
Nesse sentido, adotaremos a classificao utilizada por TREK MOUSSALLEM,
que especifica os veculos introdutores de normas em: (1) veculo introdutor-legislativo; (2)
veculo introdutor-judicirio; (3) veculo introdutor-executivo; e (4) veculo introdutor-
particular.35
Esse autor considerou como veculos introdutores-legislativos as normas concretas e
gerais expedidas pelo Poder Legislativo, como a Constituio Federal, as emendas
constitucionais, as leis, os decretos legislativos e as resolues do Senado.
Os veculos introdutores-executivos so as normas concretas e gerais expedidas pelo
Poder Executivo, como a lei delegada, a medida provisria, o decreto regulamentar, as
instrues ministeriais, as circulares, as portarias, o lanamento de ofcio etc.
Os veculos introdutores-judicirios so as normas gerais e concretas expedidas pelo
Poder Judicirio, como as decises interlocutrias, as sentenas e os acrdos dos tribunais.
Por fim, os veculos introdutores-particulares so as normas concretas e gerais
expedidas pelos particulares, como o polmico lanamento por homologao.
De volta s normas individuais e abstratas, podemos exemplific-las como as regras
que tratam de benefcios fiscais de ICMS concedidos aos contribuintes localizados em
determinado Estado da Federao. Caso a empresa se instale nesse Estado e atenda s
exigncias legais, ento o ente poltico dever conceder aquele benefcio fiscal ao
contribuinte.
Por fim, como exemplo de normas individuais e concretas, tm-se decises (deciso,
sentena ou acrdo) expedidas pelos magistrados, em que se aplica o direito ao caso
concreto, atingindo pessoas determinadas, constituindo ou desconstituindo relaes jurdicas
35 Fontes do direito tributrio, p. 189-190.
-
37
entre sujeitos de direitos e obrigaes, com a descrio no antecedente dessa norma de um
fato jurdico j traduzido em linguagem competente. Outros exemplos podem ser trazidos,
como o lanamento tributrio, os contratos, as declaraes fiscais feitas pelos contribuintes
etc.
Como bem assevera PAULO DE BARROS CARVALHO, no direito posto, h uma
grande tendncia de as normas gerais e abstratas concentrarem-se em escales mais altos,
surgindo as outras normas medida que o direito vai-se positivando.
Entretanto, isso no quer dizer que se trata de uma hierarquia rgida. O exemplo
maior de que essa hierarquia se inverte est nas decises prolatadas pelo Supremo Tribunal
Federal, em que por meio da expedio de norma individual e concreta (via controle difuso)
ou geral e concreta (via controle concentrado em sede liminar) pode-se afastar a incidncia de
norma geral e abstrata prevista na Constituio Federal.
1.4. Fato jurdico e ato jurdico
Considerando a necessidade de traduzir o fato (realidade no mundo fenomnico) em
linguagem competente, criou-se uma fenomenologia para que houvesse essa transposio da
linguagem do mundo social (linguagem natural) para o mundo jurdico, relatado em
linguagem tcnica, prescritiva, reguladora de condutas intersubjetivas. Somente aps a
traduo do fato em linguagem do direito ser possvel falar-se em fato jurdico.
O fato jurdico um enunciado protocolar, denotativo, posto na posio sinttica de
antecedente de uma norma individual e concreta, emitido, portanto, com funo prescritiva,
num determinado ponto do processo de positivao do direito.36
J o evento considerado como os fatos da chamada realidade social, enquanto no
forem constitudos na linguagem jurdica prpria.37
36 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributrio, p. 105. 37 Idem, ibidem, p. 89.
-
38
Portanto, so conceitos distintos, em que o primeiro relatado em linguagem do
direito que por fora da incidncia tributria torna-se jurdico e o segundo encontra-se em
linguagem natural e social, sem sofrer a subsuno.
LOURIVAL VILANOVA pontifica que: o fato jurdico porque alguma norma
sobre ele incidiu, ligando-lhes efeitos (pela relao de causalidade normativa). Suprimam-se
normativamente efeitos e o fato jurdico fica to-s como fato.38
A incidncia da norma sobre o fato d-se por um processo de incluso de classes
(no por identidade, como consideram alguns juristas), em que ocorre a subsuno do
conceito fato ao conceito norma39.
A subsuno uma operao lgica que ocorre entre linguagem de nveis diferentes.
O processo de subsuno ocorre entre o fato e o antecedente da norma geral e abstrata, por
meio de incluso da classe do fato classe descritiva do antecedente normativo. Com isso, o
processo resulta no nascimento de uma norma individual e concreta, por meio da norma geral
e abstrata.
GREGORIO ROBLES descreve que a subsuno consiste em encaixar uma ao
concreta na ao contemplada no texto. Entretanto, para subsumir necessrio interpretar.
nessa ida e volta do olhar entre a ao realizada de fato e a ao contemplada no texto que
consiste o mecanismo intelectual que configura a subsuno.40
Segundo o ensinamento do saudoso mestre RUY BARBOSA NOGUEIRA: no
basta apenas a existncia da norma de lei descritiva do fato, mas preciso que alm da norma
in abstrato e prvia, o fato previsto ocorra com todos os elementos descritos na lei e possa
38 Causalidade e relao no direito, p. 144. 39 CARVALHO, Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributrio. 15 ed. So Paulo: Saraiva, 2003, p. 245-248. 40 ROBLES, Gregrio. O direito como texto: quatro estudos de teoria comunicacional do direito. So Paulo: Manole, 2005, p. 38.
-
39
ser demonstrada essa vinculao ou juridicidade por meio do ato de subsuno do fato lei
ou sua subjuno pela norma tipificadora.41
Nesse sentido, entendemos que fato jurdico o fato ou o complexo de fatos em que
incidiu a regra jurdica, formando-se no antecedente da norma produzida a descrio de um
fato traduzido em linguagem competente, que ocorreu no mundo social.
1.5. Relao jurdica
Relao jurdica definida como um vnculo que une sujeitos em face da ocorrncia
de determinado fato jurdico.
Para LOURIVAL VILANOVA, relao jurdica um conceito fundamental e geral,
cujo estudo pertence Teoria Geral do Direito.42 FRANCESCO CARNELUTTI descreve que
relao jurdica uma relao entre dois sujeitos, constituda pelo direito, concernente a um
objeto.43
MARIA RITA FERRAGUT entende que, para a Teoria Geral do Direito, a relao
jurdica definida como sendo o vnculo abstrato que se instaura por fora da imputao
normativa, em que uma pessoa, denominada sujeito ativo, tem o direito subjetivo de exigir de
outra, sujeito passivo, o cumprimento de determinada obrigao.44
Acrescentemos definio de relao jurdica que no s o modal obrigatrio dever
fazer parte dela, mas tambm podem estar presentes no lugar daquele os modais proibido ou
permitido, podendo este ltimo ser de ao ou de omisso.
Relao jurdica, em um primeiro plano, uma espcie de relao social, ou seja,
trata-se de uma relao entre os homens sob fins diversos. Sendo o Direito mais um
instrumento cultural, passa-se a explor-lo para alcanar fins no s jurdicos, mas morais,
41 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributrio de acordo com a Constituio de 1988. 11 ed. So Paulo: Saraiva, 1993, p. 113 (os destaques so do autor). 42 Causalidade e relao no direito, p. 238. 43 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. Trad. Rodrigues Queir e Artur Anselmo de Castro. Coimbra: Armnio Amado, 1942, p. 184. 44 Presunes no direito tributrio, p.32.
-
40
sociais, dentre outros, sob o manto da linguagem prevista nas normas, como resguardo e
segurana daquilo que anseia a sociedade.
A regra jurdica assume, ento, papel de proteo da conduta humana e dos processos
de estruturao e garantia. Poderamos dizer, apenas para facilitar a exposio, que as
normas jurdicas projetam-se como feixes luminosos sobre a experincia social: e s enquanto
as relaes sociais passam sob a ao desse facho normativo, que elas adquirem o
significado de relaes jurdicas.45
Cumpre-nos ressaltar que, para existir uma relao jurdica, so necessrios dois
requisitos, quais sejam, que haja uma relao entre sujeitos e que o vnculo correspondente
entre duas ou mais pessoas seja de uma hiptese descrita normativamente, suficiente para
implicar conseqncias obrigatrias, permitida ou proibida.
Segundo MIGUEL REALE,46 em toda relao jurdica destacam-se quatro elementos
fundamentais:
a) um sujeito ativo, que titular ou beneficirio principal da relao;
b) um sujeito passivo, assim considerado por ser o devedor da prestao principal;
c) o vnculo de atributividade capaz de ligar uma pessoa outra, muitas vezes de
maneira recproca ou complementar, mas sempre de forma objetiva;
d) finalmente, um objeto, que a razo de ser do vnculo constitudo.
Quanto ao sujeito ativo e passivo, podemos afirmar que o primeiro, em uma viso
civilista, seria o credor da prestao principal expressa na relao jurdica; j o segundo a
pessoa fsica ou jurdica que se obriga a realizar a prestao.
O vnculo de atributividade representado pelo instrumento que formaliza a relao
jurdica, como, por exemplo, um contrato, em uma relao entre locador e locatrio, em que
se visualiza o negcio jurdico diante das vontades das partes que se ligam em uma locao.
45 REALE, Miguel. Lies preliminares de direito. 22 ed. So Paulo: Saraiva, 1995, p. 211. 46 Idem, ibidem, p. 213.
-
41
Por fim, o objeto de uma relao jurdica o motivo da constituio da relao,
podendo configurar-se em uma obrigao de dar, de fazer, de omitir, dentre outras.
A relao jurdica nasce de um processo de implicao entre o antecedente da norma
jurdica, que descreve hipoteticamente um evento possvel do mundo social, com o
conseqente normativo. Ocorre no antecedente normativo a subsuno do conceito fato ao
conceito norma, produzindo em um momento nico o nascimento de fato jurdico e de uma
relao jurdica entre os sujeitos de direito, desde que o fato seja traduzido em linguagem
competente para o direito.
Cumpre-nos expor que a relao jurdica advm de uma relao de causalidade
normativa, sob um processo de juridicizao, em que se convoca a causalidade por um
critrio de valor. Ocorre que uma relao de causalidade fsica, com o acontecimento de um
fato, produzir efeito que o resultado ftico. No caso da causalidade normativa o processo
o mesmo, s que o resultado apresenta relao jurdica que so efeitos jurdicos relevantes ao
direito (ocorrida a hiptese, deve ser a tese).
Contudo, as relaes previstas nos conseqentes das normas gerais e abstratas no
so capazes de produzir obrigaes e direitos, possuindo, apenas, condies e critrios
determinadores destes, at mesmo porque so voltados para o futuro, enunciando fato
relacional que ainda no se realizou.
No caso das normas individuais e concretas, ocorre a relao jurdica intranormativa,
voltada para o passado, vez que j ocorreu a implicao dentica de um fato, descrito no
antecedente do enunciado, e um prescritor individual e concreto.
Diante disso, s podemos afirmar que se formou fato jurdico estricto sensu quando
existir norma individual e concreta, vez que o fato jurdico relacional pertence norma geral e
abstrata.
-
42
Portanto, a relao jurdica nasce quando o administrador, o administrado ou o Poder
Judicirio expedem a norma individual e concreta, formando um vnculo relacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo no conseqente normativo.
1.6. Validade (pertinncia), vigncia e eficcia: tcnica, jurdica e social
Partindo da construo feita por KELSEN, de que o sistema jurdico formado pelo
conjunto de regras jurdicas vlidas, a validade tornou-se indispensvel para se pensar sobre
sistema jurdico positivo.47
Validade, em nosso pensamento, vinculo relacional que se forma entre a
proposio normativa e o sistema do direito positivo, portanto, critrio de pertinncia ao
conjunto.48
LUS CESAR DE QUEIROZ define validade como a qualidade de toda norma
jurdica (no apenas norma, porm, norma jurdica) que pertence a um determinado sistema
de Direito Positivo, em funo de ter sido regularmente produzida, ou seja, em virtude de ter
sido produzida em consonncia com o prescrito pela correspondente norma de produo
normativa.49
Dessa forma, a regra jurdica ser vlida se pertencer ao sistema do direito posto, e
invlida se no pertencer, no havendo contradio sinttica dentro desse sistema, sendo
passvel, entretanto, de incoerncia no plano semntico e pragmtico.
LOURIVA VILANOVA leciona que (...) norma no vlida per se, mas vlida
porque tem relao de pertinncia a um dado sistema S, e tem essa relao porque proveio da
fonte geratriz normativamente (o que exclui o costume como puro fato) estabelecida.50
47 Entendimento de Paulo de Barros Carvalho. Direito tributrio, p. 49. 48 Nesse sentido, Trek M. Moussallem. Fontes do direito tributrio, p. 69. 49 QUEIROZ, Lus Cesar Souza de. Sujeio passiva tributria. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 123. 50 As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 30.
-
43
HANS KELSEN pontifica que () o fundamento de validade de uma norma apenas
pode ser a validade de uma outra norma.51
Em estudo sobre a validade das regras jurdicas, GREGRIO ROBLES assevera que
a regra deve ser considerada vlida quando resultar de uma deciso vlida, ou seja, condiciona
a validade da regra a uma deciso que deve ser tomada no espao, no tempo, por sujeito
competente, mediante a concreo do procedimento genrico estabelecido pela regra
procedimental.52
Portanto, validade pode ser definida como critrio de pertinencialidade de regra
jurdica ao sistema de direito positivo, que foi produzida por rgo competente, mediante
procedimento legal adequado previsto no prprio sistema.
Porm, no sistema jurdico positivo brasileiro, a regra jurdica introduzida com
presuno de validade, sendo sua verificabilidade feita em momento posterior, em que se
constata se o rgo fonte de produo era competente e se foram adotas as regras de produo
previstas no prprio ordenamento jurdico.
O que possvel fazer para evitar que uma regra eivada de vcio formal venha a
produzir efeitos jurdicos no sistema suspender sua eficcia, promovendo a no-incidncia
da norma no caso concreto.
As regras jurdicas somente so extirpadas do sistema jurdico por outra norma de
igual ou maior hierarquia, produzida pelo poder competente, de regra o Legislativo, ou pelo
Supremo Tribunal Federal, no controle concentrado de constitucionalidade repressivo.
Validade e vigncia no podem ser confundidas. Vigncia aptido (qualidade) da
norma atinente fora de disciplinar ou regular condutas intersubjetivas. Portanto, podemos
51 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. Joo Baptista Machado. So Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 215. 52 Sobre o problema da validade das regras jurdicas. O direito como texto, p. 104-105.
-
44
ter no sistema jurdico norma vlida e no vigente. A falta de aptido disciplinadora da norma
advm da perda ou da sua no-aquisio.
PAULO DE BARROS cita a vacatio legis como exemplo de regra vlida e no
vigente. Por mais que a regra seja vlida, no h juridicizao dos fatos ocorridos no mundo
fenomnico, no incorrendo, portanto, irradiao dos efeitos no conseqente normativo.53
A regra jurdica, no entendimento de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR., poder
manter sua vigncia para os casos do passado, mesmo sendo revogada. Outra construo
desse cientista quanto ao impedimento de a norma atuar ou juridicizar o fato (ineficcia
tcnica), impossibilitado de produzir efeitos por falta de regras regulamentadoras de igual ou
inferior hierarquia (ineficcia tcnica sinttica) e por ausncia de ordem material, inexistindo
condies de criar em linguagem a incidncia normativa (ineficcia tcnica semntica).54
Em nossa concepo, o Poder Judicirio, quando expede norma, por meio do
controle difuso ou concentrado (via liminar em ao cautelar),55 acaba, ao constituir ou
desconstituir relaes jurdicas por critrio de (i)legalidade ou (in)constitucionalidade de regra
jurdica, expedindo outra norma inibidora da incidncia da norma geral e abstrata.
A eficcia que falamos no aquela de ausncia de regras que regulamentam ou
regulam a regra a ser aplicada, mas outra norma (individual e concreta), que atinge a
incidncia da norma geral e abstrata.
Ressalte-se que a eficcia jurdica est relacionada com o fato, no com a norma.
Trata-se de propriedade do fato de provocar os efeitos que lhe so prprios.56 EURICO DE
SANTI assevera que se o fato jurdico produz efeitos, ento tem eficcia jurdica.57
53 Direito Tributrio, p. 52-53. 54 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introduo ao estudo do direito: tcnica, deciso, dominao. 4 ed. So Paulo: Atlas, 2003, p. 197-199. 55 Analisados no ltimo captulo. 56 Idem, ibidem, p. 55. 57 Lanamento tributrio, p. 63.
-
45
Portanto, a causalidade tributria dever estar presente na norma produzida, para que
exista eficcia jurdica, s constatada quando da juridicizao do fato.
Por fim, a eficcia social o atendimento do disposto na regra jurdica pelos
administrados. Sabemos que existem regras jurdicas no ordenamento que nunca so
obedecidas, o que implica sua ineficcia social. A norma somente poder ser considerada
efetiva ou socialmente eficaz se for cumprida pela maior parte dos destinatrios.
LUS CESAR SOUZA DE QUEIROZ considera que a eficcia social, alm de ser
uma qualidade da norma, aponta para um critrio sociolgico e no jurdico de anlise de uma
norma jurdica.58
1.7. Noo de sistema e classificao
A noo que devemos ter de sistema jurdico, considerando que se trata de uma
expresso imprecisa ou vaga, que h dois sistemas: de Direito Positivo e da Cincia do
Direito.
No concordamos com a doutrina que no considera como sistema o direito positivo,
entendido como o conjunto de regras prescritivas de condutas intersubjetivas, que apresentam
um mnimo de organizao e racionalidade, que permita consider-las como sistema.
J a Cincia do Direito mais organizada do que o direito positivo. Fundada em uma
linguagem descritiva das regras jurdicas, atinge um nvel mais complexo de sistema.
No entender de LOURIVAL VILANOVA, o sistema da Cincia do Direito, ao ter o
direito positivo como objeto, passou a ser um sistema sobre outro sistema: um metassistema.59
Sistema a reunio de elementos que expressam idias comuns, organizados sob um
crivo de racionalidade e objetivismo, unidos por um princpio de unidade.
KELSEN, ao isolar o direito positivo como forma de estud-lo como um sistema,
acabou identificando que as regras jurdicas esto organizadas em uma estrutura
58 Sujeio passiva tributria, p. 129. 59 As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 175.
-
46
hierarquizada. Nela, a regra inferior encontra fundamento de validade em outra regra de maior
hierarquia, a partir de um prisma dinmico, em que o direito gera direito por meio do prprio
direito, regulando sua prpria criao e transformao.
Para fechar esse sistema de regras jurdicas sob o molde piramidal, KELSEN
construiu hipoteticamente a norma fundamental,60 localizada no plano superior
Constituio.
Portanto, o direito tem como princpio de unidade a norma fundamental, que no est
dentro do direito positivo, pois se trata de uma norma pressuposta,61 no posta pelo prprio
direito.
A norma fundamental, na viso kelseniana, fecha o sistema das regras jurdicas
(sistema do direito positivo) e, na viso de LOURIVAL VILANOVA, serve de unidade para a
Cincia do Direito.62 De certa forma, essa unidade do objeto comunica-se com a cincia,
adotando um sentido lgico-jurdico, que repousa em um nico fundamento-de-validade em
ambos os sistemas.
Concordamos com MARCELO NEVES63 ao propor classificar os sistemas como: (i)
reais ou empricos; e (ii) proposicionais. Os reais possuem elementos extralingsticos,
fsicos, sociais etc. Os proposicionais so formados por proposies, distinguindo-se em
sistemas nomolgicos e nomoempricos. Os nomolgicos decorrem da deduo de
proposies bsicas integrantes do sistema, sendo ricos apenas no plano sinttico. Os
nomoempricos indicam linguagem aberta sujeita a incluses de enunciados consubstanciados
no empirismo, sujeitos a dimenses sintticas, semnticas e pragmticas. Da subclasse
60 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito, p. 239. 61 Lourival Vilanova, utilizando a lgica moderna, considera que a norma fundamental uma proposio de metalinguagem, no advindo de nenhuma fonte tcnica, in As estruturas lgicas e o sistema do direito positivo, p. 175. 62 Idem, ibidem. 63 NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. So Paulo: Saraiva, 1988, p. 4.
-
47
nomoemprica, foram identificadas as proposies prescritivas (regras do direito) e as
descritivas (normas jurdicas).
TREK MOYSS MOUSSALLEM narra que os sistemas nomoempricos
descritivos tm funo gnosiolgica (conhecimento) e por isso esto compostos de enunciados
descritivos. (...) Os sistemas nomoempricos prescritivos possuem funo reguladora de
condutas e por sua vez esto formados por enunciados prescritivos.64
Dessa forma, trabalharemos com dois sistemas bem distintos: um formado pelos
textos do direito positivo e outro da Cincia do Direito, os quais sero sempre diferenciados
no presente estudo.
Em uma outra viso mais complexa de sistema, bem diferente da que adotamos,
NIKLAS LUHMANN criou a teoria dos sistemas, que pode ser aplicada no direito
brasileiro com algumas adaptaes, sendo construda sob os moldes do sistema jurdico
alemo.
Esse autor segregou o sistema (comunicao) do ambiente (aquilo que no
comunicao), considerando, em uma viso dinmica, a autoproduo da comunicao.65
O direito considerado pela teoria luhmanniana como um subsistema social. A
funo principal do sistema jurdico garantir as expectativas normativas e cognitivas,
antecipando a soluo dos problemas. Cada deciso baseia-se em deciso anterior e cria
condies para decises futuras, da o carter autopoitico do sistema jurdico.
LUHMANN traz a diferenciao funcional entre o cognitivo e o normativo:
Ao nvel cognitivo so experimentadas e tratadas as expectativas que, no caso
de desapontamentos, so adaptadas realidade. Nas expectativas normativas
ocorre o contrrio: elas so abandonadas se algum as transgride. No caso de
64 Fontes do direito tributrio, p. 67. 65 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e democracia. 2 ed. So Paulo: Max Limonad, 2000, p. 73. Veja, tambm, o entendimento de Gustavo Sampaio Valverde. Coisa julgada em matria tributria. So Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 34 e ss.
-
48
esperar-se uma nova secretria, por exemplo, a situao contm componentes
de expectativas cognitivas e tambm normativas. Que ela seja jovem, bonita,
loura, s se pode esperar, quando muito, ao nvel cognitivo; nesse sentido
necessria a adaptao no caso de desapontamentos, no fazendo questo de
cabelo louro, exigindo que os cabelos sejam tingidos etc. Por outro lado espera-
se normativamente que ela apresente determinadas capacidades de trabalho.
() Dessa forma as expectativas cognitivas so caracterizadas por uma nem
sempre consciente disposio de assimilao em termos de aprendizado, e as
expectativas normativas, ao contrrio, caracterizam-se pela determinao em
no assimilar desapontamentos.66
Para que possamos ter expectativas normativas, o direito precisa ter decepes, pois
por meio delas que o sistema jurdico vai buscar adaptar-se e resolver os problemas
existentes.
Assim, compete ao direito garantir a manuteno de expectativas normativas, mesmo
que no haja a obedincia s normas jurdicas, incluindo as decises judiciais.
A comunicao jurdica apresenta cdigos binrios especficos: direito/no-direito.
Com eles, podemos observar que o sistema jurdico pode assimilar fatores do seu ambiente,
que inclui os outros sistemas parciais. por meio do cdigo que se faz a filtragem dos
elementos estranhos ao sistema jurdico, para que possam fazer parte do direito, porm com
outra roupagem, atribuda pela comunicao especificamente codificada.
Assim, os fatores do meio ambiente e de outros sistemas parciais no influenciam
diretamente o sistema jurdico, o que implica dizer que os elementos polticos e econmicos
66 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Vol. I. Trad. Gustavo Bayer. Biblioteca Tempo Universitrio n. 75. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983, p. 56.
-
49
devem ser filtrados para fazer parte do sistema jurdico, sob pena de haver corrupo de
cdigos e o rompimento do equilbrio entre os sistemas.67
Corrupo de cdigos nada tem a ver com a corrupo quanto delito. Trata-se o
cdigo de uma estrutura interna ao sistema, que no norma, mas apenas uma regra de
conexo aos seus termos: direito/no-direito.
Juntamente com os programas, os cdigos traduzem em especializada comunicao
elementos trazidos do ambiente por meio da sensibilidade criada no interior dos sistemas,
chamado irritaes.
No caso do sistema jurdico, muitas vezes seu cdigo no consegue oferecer
resposta, ou mesmo a apresenta de forma inadequada para alguns problemas. Isso ocorre em
todos os outros sistemas parciais.
Diante disso, havendo o obstculo da transcendncia do sistema, que no pode
intervir em outro, na hiptese de um sistema dispor e valer-se de outro sistema, ignorando as
possibilidades inerentes a ele, acaba ocorrendo o fenmeno que chamamos de corrupo de
cdigos.
Para melhor entender esse fenmeno, que rompe com a manuteno autopoitica dos
sistemas, podemos mencionar a hiptese de o ncleo do sistema poltico, no caso o Estado,
dispor sobre dinheiro ou sobre o direito.
Neste sentido, o sistema poltico estaria valendo-se do sistema econmico e do
sistema jurdico, o que vedado diante da incompatibilidade de cdigos que trabalham
diferentemente esses trs sistemas parciais.
Ressalte-se que o sistema poltico observa o direito da perspectiva do legislador,