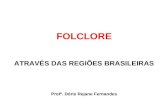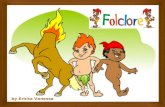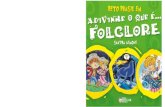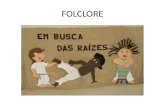ENGENHARIA DIDÁTICA: UM PROJETO DE LEITURA COM … · em todos os tipos de cultura, desde o que...
Transcript of ENGENHARIA DIDÁTICA: UM PROJETO DE LEITURA COM … · em todos os tipos de cultura, desde o que...
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
1
ENGENHARIA DIDÁTICA: UM PROJETO DE LEITURA COM FOCO NA
FRUIÇÃO LITERÁRIA E NA VIVÊNCIA EMOCIONAL DO LEITOR
Luiz Antônio Ribeiro*
Aurélio Vieira Kubo*
RESUMO: Este artigo se insere no quadro do Interacionismo Sociodiscursivo e propõe investigar como
as sequências didáticas podem ser planejadas e implementadas a fim de favorecer práticas de leitura.
Considera-se que as práticas de leitura podem ser potencializadas se forem planejadas por meio de um
projeto de Engenharia Didática que contemple a fruição do texto e a vivência emocional dos alunos. O
referencial teórico utilizado concebe a linguagem como interação, a Engenharia Didática como suporte
conceitual para a pesquisa e o desenvolvimento de inovações, a fruição literária como processo de
produção de sentido e forma de humanização, bem como a emoção como elemento constitutivo do
processo educativo. Os autores estudados são Bakhtin (1986), Candido (1995), Cosson (2007), Barthes
(1987), Dolz (2016), Vygotsky (2003) e Artigue, (2002), entre outros. Os resultados sinalizam para o
fortalecimento/favorecimento das interações entre professor, aluno e objeto de ensino; maior
engajamento no cumprimento das atividades; e a fruição como práxis fundamental para a humanização e
criticidade. Este trabalho se justifica, pois oportuniza maior reflexão e compreensão de como a prática
de leitura pode alcançar resultados mais satisfatórios, se for desenvolvida por meio de um projeto de
Engenharia Didática, que explore atividades de fruição literária desencadeadoras da emoção.
ABSTRACT: The main framework of this paper is Social interactionist theory and looks into how didactic
sequences must be planned and implemented in order to favor reading practice. We understand that as
social practice reading activities can be fostered if they are planned bya Didactic Engineering project
that contemplatesliterary fruition and emotional experiences of students. The theoretical framework
assumes language as interaction, Didactic Engineering as conceptual framework for research and
development of innovations, literary fruition as a process of meaning production and a way for
humanization and, finally, emotion as constitutive part of educational process. The references come from
Bakhtin (1986), Candido (1995), Cosson (2007), Barthes (1987), Dolz (2016), Vygotsky (2003) and
Artigue (2002) among others. Results suggest fostered/enhanced interactions between teacher,
studentand educational objects; greater commitment to carry out tasks; and fruition as fundamental
praxis for humanization and criticism. This research is justified as it gives opportunity to further
reflection and understanding of how the practice of reading can achieve more satisfactory results if
developed through a Didactic Engineering project that explores literary fruition activities as triggers of
emotion.
PALAVRAS-CHAVE: engenharia didática, fruição literária, emoção.
KEYWORDS: Didactic Engineering, literary fruition, emotion.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
2
1. REFERENCIAL TEÓRICO
1.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA, A
EMOÇÃO E A FRUIÇÃO DO TEXTO
Um projeto de Engenharia Didática que contemple a formação do leitor deve
fundamentar-se sobre a seguinte questão: que leitor queremos formar? Para Uchôa
(1991, p. 76), leitor é “aquele que, lendo um texto, é capaz de discutir ideias, expor
interpretações individuais e partilhar das experiências geradas pela incursão nos textos,
em suma, alcançar o adentramento crítico da leitura feita.” Esse conceito fundamenta-se
na enunciação dialógica bakhtiniana, segundo a qual a verdadeira substância da língua
constitui-se pelo fenômeno social da interação verbal, visto que “toda palavra comporta
duas faces. Ela é determinada, tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato
de que se dirige a alguém.” (BAKHTIN, 1986, p. 113). Essa concepção de dialogismo
encontra ressonância nas afirmações de Antônio Candido acerca do papel da literatura.
Para ele,
Ao confirmar e negar, propor e denunciar, apoiar e combater, a literatura
possibilita ao homem viver seus problemas de forma dialética, tornando-se
um “bem incompressível”, pois confirma o homem na sua humanidade,
inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.
(CANDIDO, 1995, p. 243).
Esse fenômeno da interação verbal nos faz questionar: o que devemos entender por
literatura? Trazemos à baila a definição apresentada por esse mesmo autor:
Chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações de
toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade,
em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, até as
formas mais complexas e difíceis de produção das grandes civilizações.
(CANDIDO, 1995, p. 242).
A teoria estética da recepção ressalta que o texto literário possui função diferenciada
dos demais textos que circulam ordinariamente em nossa sociedade. Nos dizeres de
Cosson (2007, p. 17), “a literatura é uma experiência a ser realizada”. O texto literário,
dado o seu caráter ficcional, poético e/ou dramático, possibilita-nos expressar a nossa
visão de mundo, vivenciar a experiência do outro, bem como romper os limites do
tempo e do espaço. Destaca-se, dessa afirmação, que o significado gerado a partir do
encontro dos sujeitos – escritor e leitor – será sempre polissêmico e mutável.
Essas considerações apontam para uma compreensão da leitura – e em especial a de
leitura literária – como um exercício do olhar, uma experiência estética individual.
Nesse sentido, trazemos à baila as considerações de Vygotsky (2003) acerca do
pensamento, cuja origem reside na esfera motivacional e envolve predisposições,
interesses, afeições e emoção. Segundo esse autor,
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
3
As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas
as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo
educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais
seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades sejam
emocionalmente estimuladas. A experiência e a pesquisa têm demonstrado
que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais sólida, firme
e prolongada que um feito indiferente. (VYGOTSKY, 2003, p.121)
Em “Teoria das emoções”, Vygotsky (1998) propôs-se a refletir sobre a relação entre as
dimensões afetiva e cognitiva no psiquismo humano. Para ele, as emoções devem ser
analisadas enquanto função psicológica superior e compreendidas como sistemas
abertos, voltados para a transformação do mundo e do sujeito, consideradas, para isso,
um conjunto de estratégias cognitivas e emocionais, as quais se encontram estritamente
relacionadas com as normas e os valores culturais.
Considerando-se que as reações emocionais estão na base do processo educativo, é
necessário que as atividades de leitura sejam impulsionadas de tal forma que
oportunizem a fruição literária. A fruição literária nos propicia experimentações
singulares, visto que a literatura, enquanto manifestação estética, fundamenta-se na
opacidade, na plurissignificação, na recriação da realidade a partir de modos de
apropriação específicos. Ela se distingue do prazer gratuito, conforme assevera Barthes:
Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da
cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura.
Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta
(talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais,
psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de
suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem.
(BARTHES, 1987, p. 20-21)
A fruição literária deve provocar rupturas com as convenções, vivências emocionais
inusitadas e complexas, bem como reconstrução de valores, pensamentos e sentimentos.
Daí que o prazer, em vez de gratuito, passa a ser uma consequência do engajamento do
leitor no ato da fruição, intrinsecamente relacionada ao processo de construção,
desconstrução e (re)configuração de sentidos.Mas como transformar as aulas de leitura
em um conjunto de atividades estruturadas e articuladas com vistas à fruição literária?
Tal questionamento nos leva a refletir sobre a Engenharia Didática como um campo
particular do ensino de língua, conforme veremos a seguir.
1.2. ENGENHARIA DIDÁTICA: PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS
Compreende-se a Engenharia Didática como um processo análogo ao ofício do
engenheiro, cujos designs são desenvolvidos como forma de gerar soluções criativas,
inovadoras e viáveis. O professor é considerado como um designer de dispositivos
didáticos, e a profissão docente, como a “Engenharia Didática”. Sob essa ótica, o
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
4
projeto surge da necessidade de uma metodologia de investigação científica que
relacione pesquisa e ação sobre o sistema fundamentado em conhecimentos didáticos
preestabelecidos. Assim, um projeto de Engenharia Didática deve envolver
planejamento de ensino, criação de materiais didáticos e desenvolvimentos
experimentais.
Em linhas gerais, a Engenharia Didática caracteriza-se como um modo específico de
organização dos procedimentos metodológicos de pesquisas que tenham como
fundamento a prática pedagógica. Como metodologia de pesquisa, ela se diferencia de
métodos experimentais habituais na educação por seu método de validação, o qual se
baseia no confronto entre uma análise a priori em que se realizou uma série de
pressupostos e uma análise a posteriori, pautada em dados da efetiva realização.
Tais estudos foram incorporados pelos pesquisadores da chamada “Escola de Genebra”
sob a égide do interacionismosociodiscursivo. Para Dolz (2016, p. 241), a Engenharia
Didática “organiza, transforma e adapta os saberes sobre a língua e as práticas
discursivas para o ensino”. Seu objetivo consiste na concepção de projetos escolares e
na elaboração de “dispositivos, atividades, exercícios, materiais escolares e novas
tecnologias da comunicação escrita, oral e audiovisual” (idem). Assim, ela deve
organizar as formas sociais das práticas escolares, elaborar ferramentas de
aprendizagem, orientar as intervenções e as práticas didáticas, além de promover
pesquisas sobre as inovações implementadas.
Dolz (2016, p. 243-244) destaca as quatro fases que constituem um projeto de
Engenharia Didática: análise prévia do trabalho de concepção; concepção de um
protótipo de dispositivo didático; experimentação; e análise a posteriori.
A primeira fase, relativa à análise prévia do trabalho de concepção, volta-se para o
conhecimento dos objetos de ensino a partir de um quadro teórico adotado pelo
pesquisador e dos conhecimentos didáticos relacionados ao objeto de estudo.
Compreende também uma avaliação das capacidades dos educandos e dos desafios que
determinam sua evolução. Caberá ao pesquisador elaborar a sequência didática a ser
aplicada, estabelecer uma previsão das ações e dos comportamentos dos alunos durante
a fase de experimentação, além de explicitar como as atividades propostas propiciarão a
aprendizagem almejada. Também será preciso estabelecer, por meio de hipóteses, o
processo de validação fundamentado na confrontação entre as análises a priori e a
posteriori.
A segunda fase volta-se para a concepção de um protótipo de dispositivo didático,
constituído de uma produção inicial com uma série de oficinas e atividades que
permitam avaliar as capacidades dos alunos, bem como de uma produção final que
possa mensurar os efeitos do ensino. Tais ações serão executadas de forma mais
eficiente por meio do desenvolvimento de sequências didáticas, que consiste de “um
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
5
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um
gênero textual oral ou escrito” (Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2004, p.97). O objetivo
das sequências didáticas é auxiliar o aluno no domínio de uma prática de
linguagem(re)configurada em um gênero de texto, de modo que ele possa adaptá-la a
uma situação de comunicação específica.
A terceira fase, a da experimentação, constitui-se da aplicação da sequência didática
elaborada na fase anterior a um grupo de alunos, com vistas a verificar as hipóteses
levantadas na análise preliminar. Para Machado (2002, p. 206), a experimentação
pressupõe “a explicitação dos objetivos e condições de realização da pesquisa à
população de alunos que participará da experimentação; o estabelecimento do contrato
didático; a aplicação do instrumento de pesquisa; e o registro das observações feitas
durante a experimentação”. A quarta e última fase, a da análise dos resultados, permite
confrontar as conclusões elaboradas na análise prévia com as constatações evidenciadas
na aplicação da sequência didática. Assim é possível estabelecer um demonstrativo dos
resultados obtidos, em que se evidenciem as contribuições para a superação de um
problema bem como os limites do dispositivo criado, de modo que o objetivo da
pesquisa possa ser validado.
Dolz (2016, p. 250-251)destaca a importância das atividades escolares na aprendizagem
e apresenta sete princípios basilares para a concepção e elaboração de exercícios
inovadores, com foco nos pressupostos da Engenharia Didática: permitir ao aluno que
passe pela atividade da linguagem; considerar a Zona de Desenvolvimento Proximal do
aluno (ZDP); garantir uma dinâmica que vai da elementarização para aprender à
integração dos elementos novos na totalidade do texto; fabricar as ferramentas para o
aluno por um movimento progressivo de devolução; diversificar e articular as tarefas;
antecipar as interações e explicitar os conceitos e comportamentos a desenvolver;
respeitar a escolha do aluno.
Tais princípios são fundamentais se quisermos que os alunos experienciem situações de
comunicação as quais façam sentido para si e lhes permitam participar ativamente da
construção do conhecimento. Como mediador desse processo, o professor deve observar
as capacidades iniciais dos alunos, bem como planejar e propor atividades de linguagem
diversificadas e articuladas que atendam aos diferentes estilos de aprendizagem,
garantam a motivação e a superação das dificuldades. Além disso, deve agir no sentido
de apresentar propostas que favoreçam as interações e que oportunizem aos alunos
escolhas que lhes garantam o desenvolvimento da própria linguagem e,
progressivamente, a conquista de sua própria autonomia enquanto leitor e produtor de
textos. Em síntese, o trabalho com um projeto de Engenharia Didática oportuniza ao
professor engenheiro sistematizar um conjunto de procedimentos metodológicos, que
lhe permita uma ação investigativa por meio da qual será capaz de associar a ação
pedagógica com os pressupostos teóricos a ela subjacente.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
6
2. METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa que originou este artigo inseriu-se no quadro do
InteracionismoSociodiscursivo e pretendeu discutir sobre o planejamento e aplicação
das atividades de leitura para alunos do Ensino Médio. Considerou-se, para isso, a
seguinte pergunta-chave: como as sequências didáticas podem ser planejadas a fim de
favorecer práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência emocional do
leitor? Partiu-se da hipótese de que o desenvolvimento de um projeto de Engenharia
Didática, relativo a práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência
emocional dos alunos, potencializa a vivência de experiências estéticas e
humanizadoras. Objetivou-se verificar como e se o desenvolvimento de um projeto de
Engenharia Didática na área de leitura literária com base na experienciação e na
exploração do potencial emocional dos alunos contribui para a sua formação leitora. O
corpus analisado contemplou um projeto de Engenharia Didática constituído de uma
sequência didática organizada e implementada, de atividades realizadas pelos alunos e
dos processos avaliativos realizados. Os resultados apontaram para experienciação das
práticas de leitura que oportunizaram, mediante a fruição literária e o despertar da
emoção, a ação sobre o texto. Refletiram também o engajamento em um projeto de
Engenharia Didática, que permitiu aos docentes uma investigação sobre a própria
prática e o aprimoramento desta, no sentido de oportunizar aos alunos uma formação
mais humana e cidadã.
3. ANÁLISE DOS DADOS
Diante do desafio de planejar as atividades de recepção dos alunos do 1º ano do Ensino
Médio no início do ano letivo de 2016, uma equipe de professores da rede federal de
ensino engajou-se no desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar que permitisse
estabelecer um quadro diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos sobre leitura e
produção de textos. Além disso, levou em conta as atividades que seriam desenvolvidas
para a Olimpíada de Língua Portuguesa de 2016 e, consequentemente, o gênero crônica
como objeto de ensino a ser explorado.
Assim, procedeu à construção de um projeto de Engenharia Didática, que
compreendesse práticas de linguagem relacionadas à leitura e à produção do gênero
textual crônica. Como o foco do projeto era a leitura, a equipe se empenhou na
construção de dispositivos didáticos que oportunizassem aos alunos a experienciação de
diferentes estratégias de leitura e, principalmente, a análise literária de diferentes
crônicas, que culminasse com a produção escrita de um texto desse gênero. Para isso,
era necessário que os alunos tivessem uma participação mais ativa nas atividades e se
envolvessem emocionalmente em sua concretização.
A análise ora apresentada fundamenta-se nas quatro etapas previstas para um projeto de
Engenharia Didática e nos sete princípios que orientam a concepção e elaboração de
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
7
dispositivos didáticos em conformidade com os pressupostos da Engenharia Didática.
Para a construção do projeto, foram organizados dez encontros presenciais em um total
de quarenta horas trabalhadas. A implementação do projeto ocorreu a partir de cinco
oficinas, que perfizeram um total de 20 horas/aula e contaram com a participação de l28
alunos, divididos em quatro turmas. As propostas didático-pedagógicas foram divididas
entre os oito professores da área de Linguagens e Códigos, sendo que cada dupla de
professores se responsabilizou pela mediação da aprendizagem em uma turma.As
atividades foram assim desenvolvidas:
1ª Fase – análises preliminares: o objetivo geral da primeira fase do projeto foi
construir um referencial teórico-metodológico que abrangesse a organização geral da
pesquisa e os conhecimentos mais específicos da sequência didática a ser planejada e
implementada. As principais ações relativas à primeira fase podem ser assim
especificadas:
Número de
Encontros
Carga
Horária Procedimentos
5 20 horas
• Definição da proposta de trabalho, tomando-se como base os referenciais da
Olimpíada da Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 5ª edição – 2016;
• Levantamento de material bibliográfico que suportasse a pesquisa
empreendida: a emoção como elemento constitutivo do processo educativo;
leitura e fruição literária; e o gênero textual crônica;
• Leitura e análise das informações e do material didático disponibilizados no
site da Olimpíada de Língua Portuguesa relacionado ao gênero textual crônica
e às sugestões de sequências didáticas propostas;
• Levantamento de materiais didáticos diversificados (diferentes textos
multimodais, filmes, músicas, etc.), que pudessem ser utilizados na construção
dos objetos de ensino.
Tabela 1: Análises preliminares
Essa fase consistiu de dois movimentos de pesquisa distintos, mas que se integravam
em uma única proposta: um relacionado ao levantamento dos pressupostos teóricos
subjacentes à leitura literária e ao gênero textual crônica, e outro relativo à seleção de
materiais didáticos disponibilizados na rede, que servissem como elementos norteadores
do protótipo de dispositivo didático a ser desenvolvido. Essa tarefa favoreceu o
desenvolvimento de um referencial cognitivo norteador da pesquisa em seus aspectos
tanto epistemológicos quanto metodológicos. Sua realização foi importante
principalmente porque nos possibilitou descrever o perfil dos alunos recém-ingressos,
analisar o contexto de ensino em que o projeto seria desenvolvido, traçar os objetivos de
aprendizagem e os objetos de ensino a serem explorados, definir o percurso
metodológico e ainda prever os desafios a serem enfrentados. Essa etapa foi constituída
de cinco encontros presenciais com duração de quatro horas cada.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
8
2ª Fase – construção de um protótipo de dispositivo didático: essa fase do projeto
consistiu da concepção das situações didáticas, que foram divididas em dois segmentos.
O primeiro consistiu da elaboração de um diagnóstico das competências linguísticas e
discursivas dos alunos, em especial no que respeita às estratégias de leitura que eles
efetivamente dominavam e ainda aos seus conhecimentos sobre o gênero textual
crônica. O segundo tratou da constituição de diferentes práticas didático-pedagógicas
que permitissem ao aluno-leitor um trabalho ativo com a leitura, por meio do qual ele
pudesse construir sentidos, explorar o seu conhecimento de mundo, desenvolver a
imaginação e o senso crítico, relacionar-se com os seus pares, professores e familiares,
bem como expressar-se por meio da linguagem artisticamente trabalhada. Nessa etapa,
foram organizadas as seguintes oficinas:
Número de
Encontros
Carga
Horária Procedimentos
5 20 horas
“Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração”:
Atividades a serem desenvolvidas na escola: exibição de um vídeo intitulado
“Campanha de incentivo às brincadeiras de rua”; leitura e análise da música
“Bola de Meia – bola de Gude”, de Fernando Brant; participação em jogos e
brincadeiras tradicionais – Queimada Real.
Atividade extraclasse: entrevista com os familiares sobre brincadeiras e jogos
de infância.
Howto play this game: jogos e brincadeiras em culturas de língua inglesa:
Atividades em classe: versão para o português e sistematização das regras de
um jogo.
Atravessando paredes e outros poderes: o gênero crônica e suas
especificidades discursivas e literárias:
Atividades em classe: leitura e análise do texto “O menino que atravessava
paredes”, de José Eduardo Agualusa.
Por que ler outras histórias? Outras experiências com a leitura de
crônicas:
Atividade extraclasse: pesquisa sobre cronistas e leituras prévias de crônicas,
a partir de indicação de leituras por parte do professor, bem como do
repertório cultural dos alunos;
Atividade em classe: relato de experiências e produção de pequenas resenhas
críticas sobre crônicas. Tais resenhas deveriam ser postadas no Facebook da
turma, como forma de incentivo à leitura das crônicas lidas.
O que conta a minha história? O que revela a minha escrita?
Oficina de escrita criativa
Atividade de escrita colaborativa: criação coletiva de cenas narrativas,
motivadas pela audição de músicas de filme.
Tabela 2: Protótipo de dispositivo didático
Os dispositivos didáticos acima foram produzidos em conformidade com a estrutura de
uma sequência didática proposta por Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004, p. 98), a saber:
apresentação da situação, produção inicial, módulos de atividades e produção final. As
atividades foram desenvolvidas sob um viés interdisciplinar, de modo a oportunizar aos
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
9
alunos o exercício da linguagem de forma interativa e em situação real de uso. Essa
etapa foi constituída de sete encontros presenciais com duração de quatro horas cada.
3ª Fase –experimentação: essa fase representou uma ótima oportunidade para que os
alunos, recém-chegados na instituição, pudessem se apresentar, estabelecer contatos,
encontrar e fazer novas amizades. Tal contexto favoreceu o trabalho a partir da
sequência didática, cuja realização dependeu de: explicitação dos objetivos e das
condições de realização do projeto; mediação pedagógica e observância à Zona de
Desenvolvimento Proximal dos aprendentes; apresentação de estratégias que
garantissem a eficácia e a viabilidade das atividades pedagógicas; conscientização dos
alunos quanto à necessidade de realização das atividades de leitura e produção de
textos; e atuação conjunta entre os pares, autonomia na tomada de decisões,
experimentação, reorganização das atividades e (re)adequação a um resultado
satisfatório. O projeto teve como ponto de partida o lúdico e a fantasia na infância,
temática abordada na crônica “O menino que atravessava paredes”, de José Eduardo
Agualusa. As atividades planejadas requereram dos alunos a execução das seguintes
ações:
Número de
Encontros
Carga
Horária Ações
10 20 horas
/ aula
• promover a leitura literária de crônicas com vistas à fruição e reelaboração
da realidade;
• participar do jogo “Queimada Real”, buscando compreender as regras do
mesmo e interagir com seus pares;
• entrevistar os familiares sobre brincadeiras e jogos de infância de que eles
gostavam e dos quais ainda se lembravam;
• montar jogos educativos em língua estrangeira e explicitar as estratégias
de leitura que permitiram compreender o seu funcionamento;
• ler e analisar textos que evidenciassem o funcionamento sociodiscursivo
do gênero textual crônica;
• pesquisar obras e crônicas produzidas por diferentes cronistas;
• redigir resenhas de crônicas previamente selecionadas, socializando a
produção por meio do Facebook da turma;
• participar de uma proposta de produção colaborativa de textos, que
permitisse evidenciar os conhecimentos sobre o funcionamento do gênero
crônica e explorar o potencial criativo da equipe.
Tabela 3: Experimentação da sequência didática
As oficinas foram realizadas em dez encontros presenciais, de duas horas/aula cada.
Além das atividades presenciais, foram planejadas atividades extraclasse, como leitura
de textos, entrevistas e produção textual. Como as oficinas foram planejadas em equipe
e de forma interdisciplinar, todos os professores estavam devidamente preparados para
conduzirem as atividades junto a uma classe, independentemente da sua área de
formação, o que favoreceu o registro das observações e a análise dos resultados.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
10
4ª Fase –análise dos resultados: essa fase apoiou-se em um conjunto de informações
coletadas na experimentação, por meio de registros orais e das produções escritas.
Optou-se por um modelo de avaliação processual, que garantisse a mediação e as
intervenções pedagógicas no transcorrer das atividades. Assim, em cada encontro,
professores e alunos realizaram uma avaliação qualitativa relacionada aos conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais. Além da avaliação processual, efetuou-se uma
avaliação qualitativa relacionada ao desempenho dos alunos durante as atividades e dos
resultados alcançados, os quais constituíram insumos para o planejamento das etapas e a
participação na 5ª edição da Olimpíada da Língua Portuguesa.
4. DISCUSSÃO DOS DADOS
A discussão que ora se apresenta teve como ponto de partida a hipótese levantada nesta
pesquisa, de que o desenvolvimento de um projeto de Engenharia Didática, relativo a
práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência emocional dos alunos,
potencializa a vivência de experiências estéticas e humanizadoras. Os momentos iniciais
da primeira oficina “jogos e brincadeiras de rua” consistiram de um diálogo com os
alunos sobre o projeto. Na oportunidade, os professores se incumbiram de apresentar e
discutir os objetivos da proposta de leitura e motivá-los para uma participação efetiva
nas atividades propostas. Esse primeiro contato foi muito importante para que fossem
criados os primeiros vínculos afetivos com a turma, que pudessem desencadear um
ambiente assertivo e propício à atitude positiva de engajamento e busca de soluções
para os desafios propostos.
Nessa oficina foram realizadas duas atividades presenciais –a exibição do vídeo
“Brincadeira de rua” e o jogo de “Queimada Real”–euma entrevista extraclasse,
realizada pelos alunos com os seus familiares sobre as brincadeiras de infância de que
estes participaram e das quais tinham lembrança. As emoções proporcionadas pela
mensagem do vídeo puderam ser observadas a partir do momento em que os alunos
tiveram a oportunidade de conhecer e/ou resgatar as brincadeiras de rua. Isso motivou a
participação no jogo de “Queimada Real”, importante para promover a socialização com
os colegas. A vivência de brincadeiras por meio da memória e a participação em um
jogo entre os colegas recém-conhecidos foram atividades culturais lúdicas e criativas,
que oportunizaram a interação, a construção de conhecimentos, a identificação com o
espaço escolar e o resgate da própria infância, que começa a se esvair no curso natural
da vida.
Essas experiências transpuseram o espaço físico da escola e atingiram também as
famílias. Avós, pais, mães, tios e irmãos mais velhos foram convidados a reviverem, por
meio de uma entrevista, as brincadeiras de infância. Alguns depoimentos dos alunos
revelaram que a atividade extraclasse oportunizou a aproximação deles com os pais,
com quem pouco conversavam a não ser quanto às cobranças das tarefas escolares.
Outros enfatizaram a emoção dos pais ao lembrarem as brincadeiras de infância, a
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
11
saudade dos amigos, dos irmãos, da casa onde viviam, etc. Havia, nas narrativas dos
pais apresentadas pelos alunos, as marcas da saudade, a sensação de perda, em suma, as
lembranças de um tempo que insistem em permanecer latentes em nossos espíritos.
Na segunda oficina, “Howto play this game”, os alunos foram desafiados, em grupo, a
ler e compreender textos em inglês, mesmo não possuindo fluência nesse idioma. Cada
grupo recebeu a incumbência de ler regras de jogos populares em alguns países onde se
fala inglês como primeira língua e compartilhar os resultados com a turma. Foram
sugeridas as seguintes questões para direcionamento da leitura: Como se joga? É uma
brincadeira conhecida e popular no Brasil? Há jogos equivalentes no Brasil? É uma
brincadeira interessante? Pode ser adaptada à nossa realidade? Pode nos ajudar no
aprendizado de inglês? De que forma? A atividade também exigiu que eles utilizassem e
posteriormente externalizassem as estratégias utilizadas para leitura do texto. O
resultado foi a descoberta de suas capacidades e possibilidades, bem como a interação
entre os pares e a socialização dos conhecimentos, aspectos fundamentais para o
desenvolvimento sociocognitivo e emocional dos participantes.
As atividades realizadas nessa oficina ofereceram subsídios essenciais para o
desenvolvimento da terceira oficina, “Atravessando paredes e outros poderes: o gênero
crônica e suas especificidades discursivas e literárias”. Oportunizou-se a fruição do
texto a partir da sensação de estranhamento em relação à expressão “atravessava
paredes”. Para compreendê-la, era necessário inferir qual era o dom do personagem
principal sinalizado pelo subtítulo, relacionar as sensações e as impressões despertadas
pela sua história de vida, despertar a imaginação, vivenciar metáforas, enfim,
sensibilizar-se com a narrativa lida. A mensagem dessa crônica evoca também o prazer
e o fascínio pela leitura, bem como a capacidade de transmutação que ela provoca, fato
que gerou reflexões sobre a influência da leitura em nossas vidas.
“Por que ler outras histórias? Outras experiências com a leitura de crônicas”. Com esse
título, a terceira oficina objetivou oportunizar aos alunos o contato com crônicas
produzidas por diferentes autores. Nessa viagem literária, o aluno leitor foi motivado a
pesquisar e vivenciar estimulantes narrativas, entrelaçando as suas próprias vivências
com outras evocadas pelos textos literários lidos. Tal experiência se expandiu entre os
colegas, principalmente com o compartilhamento das narrativas em sala de aula e as
resenhas produzidas no Facebook da turma. Alguns índices linguísticos destacados da
resenha a seguir sinalizam a ocorrência da fruição literária:
Prioridades
Lya Luft
Por apresentar uma personalidade forte e literatura com traços marcantes, Lya Luft mostrou mais uma vez
em sua crônica “Prioridades” o quão interessante é seu ponto de vista relacionado ao cotidiano.
O principal tema abordado na crônica, que envolve todos os assuntos do texto, é o consumismo. Pode-se
observar que ela critica tais atos e transparece sua indignação com algumas atitudes humanas, por
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
12
exemplo, a opção de comprar bolsas e sapatos ao passar um momento com a família. Em “Prioridades”
reconhecemos que é necessário que cada um se avalie e que dê valor ao que realmente importa.
Tabela 4: Resenha de crônica
Nesse texto, os adjetivos “forte”, “marcantes” e “interessante” externalizam a
apreciação e/ou a avaliação positiva do sujeito leitor sobre o autor e a crônica
resenhada. Tais itens lexicais nos permitem verificara manifestação da subjetividade do
leitor, que exercita sua capacidade interpretativa e crítica no processo de fruição
literária. O mesmo ocorre com o emprego do verbo “reconhecer” na primeira pessoa do
plural e da expressão modalizadora com valor deôntico “é necessário”, que revelam o
processo de identificação do leitor com o autor e com a mensagem do texto e, para além
disso, o seu posicionamento em relação à mesma. A fruição literária apresenta-se, desse
modo, como uma proposta de significação do texto.
Na quinta oficina, os alunos, divididos em equipes, foram engajados em uma proposta
de escrita colaborativa. Os participantes deveriam criar cenas narrativas de uma crônica,
com temática livre, inspirados pela audição de uma música previamente escolhida pelos
professores. O texto deveria apresentar os seguintes elementos fundamentais de uma
trama: onde, quem e o que. Em momentos distintos, cada participante-autor se
incumbiria de produzir um trecho da narrativa, observando a coerência e a coesão
necessárias à manutenção da unidade do texto. A proposta resultou em cerca de cento e
vinte textos produzidos de forma colaborativa pelos alunos. Deste total, serão
considerados setenta e oito, os quais atenderam plenamente a proposta.
O resultado dessa atividade mostrou-se bastante profícuo, tanto em relação à análise dos
dados dela extraídos quanto ao planejamento das aulas de leitura e produção de textos
durante o ano letivo. Por questão de limites de espaço, apresentaremos aqui apenas parte
das análises efetuadas, que dizem respeito à fruição literária e à nossa formação leitora.
Os dados a seguir refletem as principais temáticas recorrentes nas narrativas dos alunos.
Para facilitar a visualização dos dados, foram supridas as temáticas observadas em uma
só ocorrência. Por exemplo, os temas da “solidão” e da “orfandade”, que ocorrem em
dois textos, ora como principais, ora como secundários.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
13
Figura 1: Temáticas frequentes
Antes de passarmos à análise, é importante considerar que, em alguns textos,
evidenciam-se diferentes temáticas, que se misturam e se integram. É o caso, por
exemplo, de uma narrativa cuja temática mescla aventura, morte e amor. Assim sendo,
escolheu-se a mais expressiva para fins de classificação.
Mas o que os dados levantados acima podem nos revelar? Primeiramente despertaram-
nos a atenção os altos índices de “morte e assassinatos” e de “aventura, suspense e
mistérios”, seguidos de “relações familiares e afetivas” e de “amor” (desagrupado em
“namoro”, mais frequente, e “romance”).Um contexto mais estrito nos permite associar
os temas presentes nos textos dos alunos com o tema do texto trabalhado em sala de
aula, “O menino que atravessava paredes”, de José Eduardo Agualusa, que mescla
aventura, fantasia e relação familiar. Um cenário mais amplo, entretanto, nos remonta
aos gêneros fábula e contos de fada, principalmente os textos difundidos na era
romântica, cuja temática recorrente evidenciava a luta do bem contra o mal (aventuras),
a punição do mal (que pode culminar com a morte) e o final feliz (o enlace amoroso e a
constituição familiar). Por outro lado, a temática da morte também se concretiza por
meio do suicídio (em seis de suas trinta e três ocorrências).
A construção do espaço da narrativa também parece dialogar com os cenários das
fábulas e dos contos. Nesse sentido, observe-se o gráfico a seguir:
13
10
6 5 5
4 4 3 3 3 3
2 2 2 2 2
mo
rte
aven
tura
mis
téri
o
nam
oro
fan
tasi
a
viag
en
s
con
tam
inaç
ão
vio
lên
cia
rom
ance
esco
lari
zaçã
o
ado
lesc
ên
cia
rela
ções
fam
iliar
es
no
stal
gia
da
infâ
nci
a
lou
cura
dro
gas
div
ersã
o
Temáticas centrais
20
9 6
4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
mo
rte
rela
ções
fam
iliar
es
nam
oro
de
sigu
ald
ade
soci
al
ado
lesc
ên
cia
amiz
ade
mis
téri
o
trab
alh
o
arte
s
carp
e d
iem
exp
. ge
né
tica
s
pre
ser.
da
nat
ure
za
riq
ue
za
sob
ren
atu
ral
Temáticas secundárias
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
14
Figura 2: Localização espacial dos cenários
O espaço físico (outros países) é representado por cidades e países como Paris e
Inglaterra (Europa) e Dubai (Ásia). Ambos os continentes contribuíram fortemente para
a divulgação de narrativas orais. Os contos de fadas são narrativas originárias da cultura
céltico-bretã, na qual a fada e outros seres fantásticos ganham expressão na luta entre o
bem e o mal. Os contos maravilhosos são de origem oriental e abordam uma temática de
cunho mais social. Um exemplar conhecido é “As mil e uma noites”, uma coletânea de
narrativas populares originárias do Oriente Médio e do sul da Ásia. O cenário brasileiro
também se destaca, seja porque é o nosso berço, seja porque a nossa literatura está
impregnada dos valores culturais sedimentados nas e pelas narrativas originárias do
ocidente e do oriente. A exemplo disso, leia-se a importante e conhecida obra de
Monteiro Lobato, cujas narrativas são escritas em linguagem simples e associam
realidade e fantasia.
Ainda aventurando pelo espaço físico, observa-se a formação de um esquema conceitual
do espaço da narrativa marcadamente europeu, que evoca um clima de suspense,
mistério, curiosidade e surpresa. Esse esquema conceitual se concretiza a partir de
grupos nominais tais como “cabana”, “casa de madeira” e “chalé”, “bosque”, “floresta”,
“vila” e “vilarejo”. Tais nomes são frequentemente qualificados por adjetivos como
“frio”, “sombrio”, “escuro”, “silencioso”, “distante”, “chuvoso”. Daí se originam
sintagmas nominais tais como: “casa de madeira, grande, antiga, no meio de uma
floresta escura, cheia de neve, com árvores altas de troncos grossos”, “cabana de
caçador no meio de uma floresta escura, fria e de árvores altas” e “Uma fina e gelada
garoa caía, deixando as ruas de pedras escorregadias e perigosas”. Entre espaços
urbanos e rurais, 44% dos cenários podem ser listados neste grupo.
Sentidos opostos ocorrem em 51% dos cenários que explicitamente se valem do Brasil
ou outras regiões tropicais. Nestes textos, os vocábulos mais proeminentes passam a
“sítio”, “chácara”, “fazenda”, “praça”, “casa”, “apartamento”, “praia”, “ilha”. Uma vez
configurados estes cenários, os temas presentes nas narrativas também se alteram em
torno de “diversão”, “nostalgia da infância”, “namoro”, “drogas”, “violência urbana”
entre outros. Os 5% restantes dos cenários referem-se a espaços desérticos. Em sua
37%
29%
27%
7%
Cenários
outros países
representativos do Brasil
não específicos
fantásticos
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
15
maioria, tais cenários são habitados por homens jovens, conforme se vê nos gráficos
abaixo:
Figura 3: Personagens humanas – faixa etária, gênero e papel nas narrativas
No conjunto de textos, foram mobilizadas 216 personagens, das quais 192 são humanas,
cuja distribuição etária se encontra representada nos gráficos acima. Além do gênero, o
traço distintivo idade parece ser relevante na constituição das personagens, tanto é que
foi atribuído à totalidade das personagens humanas. O mesmo não se verifica quanto a
personagens fantásticas (fantasmas, ETs, criaturas mitológicas) ou a animais. Se a idade
não se manifesta explicitamente por um número, ela pode ser determinada com por
vocábulos tais como “jovem”, “adolescente”, “moço”, mais frequentes nos textos.
É fato que as narrativas não existiriam sem a presença de heróis, arquétipos do bom
moço, de bom caráter, corajosos, fortes e destemidos e que, por isso, servem de guia
para nossas condutas. O perfil do herói pode ser evocado por meio de dois adjetivos que
se sobressaem: “jovem” e “bonito” – nos textos, não constam homens feios. Outros
vocábulos como “aventureiro”, “alto” e “inteligente” somam-se à constituição desse
arquétipo, como forma de destacar os atributos físicos (a força, a virilidade do homem,
que parece estar associada a “cabelos escuros”) e morais (sua inteligência). Ilustre
personalidade será ainda mais admirável se contar com um grupo de fiéis escudeiros –
“adolescentes” e “amigos” – na luta em prol do bem. Todas essas virtudes do herói
estão cristalizadas em nosso imaginário – afinal quem nunca se emocionou com as
aventuras do Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda? – e nos fazem conceber a
figura do herói como um semideus.
Quanto ao perfil feminino, o exame dos traços físicos das 48 personagens adolescentes
ou jovens adultas mostra preocupação com os cabelos. A partir de um conjunto de 60
traços físicos, a construção de uma bela jovem recorre a 40% de referências aos cabelos,
15% para os olhos; 10%, respectivamente, para estatura, juventude e compleição física,
8% para a clareza da pele e apenas 7% de referências explícitas à beleza. A esses traços
físicos, juntam-se outros itens lexicais proeminentes: “inteligente”, “calma”, “meiga”,
7%
58%
18%
15% 2%
Personagens por faixa etária
crianças
adolescentes
jovens adultos
adultos
idosos
38%
22%
26%
14%
Personagens por gênero e relevância
masc./principal
masc./secundário
fem./principal
fem./secundário
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
16
“amiga” deixam entrever a idealização da mocinha, figura associada à imagem das
princesas dos contos de fada. Nesse gênero, a beleza é uma característica muito
valorizada e diz respeito não somente aos atributos físicos como também à índole das
princesas, manifestada por sua bondade e generosidade. Dócil e amável, ingênua e
desprotegida, a princesa sonha com o dia em que o seu príncipe a salvará dos perigos a
que está exposta e os dois viverão felizes para sempre unidos pelo amor. O contraponto
manifesta-se em traços psicológicos tais como: “extrovertida”, “aventureira”,
“corajosa”, “decidida”, entre outros.
A análise ora apresentada projeta luz sobre o grau de letramento literário dos alunos
concluintes do ensino fundamental e recém-ingressos no ensino médio. A exposição a
diferentes dispositivos didáticos construídos a partir de diferentes crônicas ao longo da
sequência didática foi importante para sua vivência emocional e para a fruição literária,
contudo representou apenas um primeiro passo para que eles obtivessem uma visão
global das características literárias e do funcionamento sociodiscursivo desse gênero,
bem como percebessem a diferença entre este e outros gêneros fortemente marcados por
sequências narrativas, como os contos de fadas. Assim sendo, os dados consolidados
evidenciam uma sólida experiência literária, fundamental para que os professores
orientem sua prática, de modo que os alunos sejam expostos a outros gêneros literários e
possam ampliar o seu repertório de leituras, que lhes permitirão novas fruições e outras
vivências estéticas.
O projeto de Engenharia Didática desenvolvido e implementado permitiu relacionar
metodologia de ensino e atividades de pesquisa, contribuindo significativamente para a
construção de conhecimentos em sala de aula. As ações planejadas e executadas
favorecer a uma integração das dimensões epistemológicas, cognitivas e sociais no
contexto da aprendizagem, já que se constituíram de atividades por meio das quais os
alunos puderam experienciar, individual ou colaborativamente, a leitura das crônicas
por meio da fruição literária, bem como refletir sobre a importância de uma formação
estética para a formação de um leitor crítico e mais humanizado.
Os professores compreenderam a importância de trabalhar com sequências didáticas e
com o desenvolvimento de materiais didáticos, planejados de modo a garantir a
organização, o controle e a avaliação dos processos adotados e dos resultados atingidos.
O confronto entre os objetivos de aprendizagem inicialmente previstos com os
resultados efetivamente alcançados permitiu mapear as experimentações e sensações
vivenciadas, os conceitos apreendidos e as interações estabelecidas. Ressaltamos, desse
modo, a importância de o professor trabalhar com projetos de Engenharia Didática
voltados para a mediação de situações de aprendizagem que envolvam a participação
ativa e reflexiva dos alunos e que favoreçam o desenvolvimento de suas competências
cognitivas, interacionais e emocionais. Reafirmamos também a importância de se
investir em uma proposta que integra conhecimentos científicos e didáticos, já que a
realização didática está intrinsecamente associada a uma prática de investigação.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
17
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste artigo foi refletir sobre a construção de um projeto de Engenharia
Didática como um meio de organizar os procedimentos metodológicos de pesquisas
realizadas no ambiente escolar. Buscamos observar como as sequências didáticas
podem ser planejadas e implementadas a fim de favorecer práticas de leitura com foco
na fruição literária e na vivência emocional dos alunos.
Os pressupostos teóricos primeiramente versaram sobre o caráter dialógico da literatura
e sobre a leitura literária como uma experiência estética. Tratou também sobre a
importância das reações emocionais no desenvolvimento do processo educativo e sobre
a necessidade de se promoverem, no contexto escolar, atividades de leitura com foco na
fruição literária e na exploração da vivência emocional dos alunos. Em seguida,
discorreu-se sobre a Engenharia Didática, metodologia que visa a investigar as relações
entre pesquisa e ação, bem como o lugar reservado para as realizações didáticas entre as
metodologias de pesquisa.
A abordagem prática consistiu da apresentação e análise de um projeto de Engenharia
Didática desenvolvido e implementado em quatro turmas de alunos do ensino médio,
por uma equipe de professores da área de Linguagens e Códigos, atuantes em uma
escola da rede federal de ensino. Nas oficinas realizadas, os alunos procederam à leitura
de crônicas de diferentes autores e realizaram atividades de leitura com foco na fruição
literária e na sua vivência emocional.
A execução do projeto de Engenharia Didática possibilitou confirmar a hipótese
levantada, de que o desenvolvimento de um projeto de Engenharia Didática, relativo a
práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência emocional dos alunos,
potencializa a vivência de experiências estéticas e humanizadoras. Também foi possível
verificar como e se o desenvolvimento de um projeto de Engenharia Didática na área de
leitura literária com base na experienciação e na exploração do potencial emocional dos
alunos interfere na sua formação leitora. As práticas pedagógicas e as investigações
feitas contribuíram para reafirmar a importância da Engenharia Didática como forma de
desenvolver e implementar artefatos de ensino a partir de pesquisas realizadas, bem
como por apresentar uma metodologia de pesquisa a partir de experiências realizadas
em sala de aula.
REFERÊNCIAS
ARTIGUE, Michèle. Ingenieriedidactique: quel role dans la recherche didactique
aujourd’hui? Les dossiers des sciences de l’éducation, 2002, nº 8, pp. 59-72.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
18
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986.
BARBEIRO, Luís Felipe; PEREIRA, L. O ensino da escrita. Direcção-Geral de
Inovação ede Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação, Lisboa, 2007.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva,
1987.
CANDIDO, Antônio. Vários escritos: o direito à literatura. 3ª ed. São Paulo: Duas
Cidades, 1995.
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2007.
COSSON, Rildo; SOUZA, Renata Junqueira de. Letramento literário: uma proposta
para a sala de aula. UNESP, Agosto-2011. Disponível em: <http://goo.gl/VduMxz >
Acesso em: 07 jan. 2014.
DOLZ, Joaquim. As atividades e os exercícios de língua: uma reflexão sobre a
engenharia didática. D.E.L.T.A., nº 32.1, 2016, p. 237-260. Disponível em
goo.gl/lxsjpa. Acesso em 30 mar. 2016.
DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCNHEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a
escrita: apresentação de um procedimento. In: SCNHEUWLY. B; DOLZ, J. Gêneros
orais e escritos na escola. Trad. Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas:
Mercado de Letras, 2004.
ECO, Umberto. A definição da arte. Lisboa: Martins Fontes, 1981.
MACHADO, S. D. A. Engenharia didática. In: MACHADO, S. D. A. (org.). Educação
Matemática: uma introdução. 2 ed. São Paulo: Educ, 2002. p. 197-208.
UCHOA, Carlos Eduardo F. A linguística e o ensino de português. In: Cadernos de
Letras, n. 2. Niterói: UFF/Instituto de Letras, 1991.
VYGOTSKY, L. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003.
_____________. Théoriedesémotions: étude historico psychologique. Paris:
L’Harmattan, 1998.
INTERLETRAS, ISSN Nº 1807-1597. V.6 , Edição número 24, de Outubro de 2016 a Abril de 2017 - p
19
* Professor de Língua Portuguesa e Literatura do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais - CEFET-MG. Doutor em Linguística pela PUC Minas.
* Professor de Língua Portuguesa e Literatura do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais - CEFET-MG. Mestre em Estudos Linguísticos pela UFMG