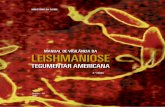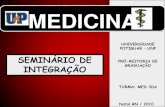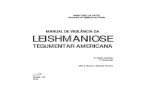INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - … · em diversas regiões do mundo e do Brasil,...
Transcript of INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - … · em diversas regiões do mundo e do Brasil,...
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
VIVIANE FREITAS DE CASTRO
ANLISE DO CENRIO TCNICO-CIENTFICO MUNDIAL:
UM ESTUDO DE CASO EM LEISHMANIOSE
RIO DE JANEIRO
2013
VIVIANE FREITAS DE CASTRO
ANLISE DO CENRIO TCNICO-CIENTFICO MUNDIAL:
UM ESTUDO DE CASO EM LEISHMANIOSE
Dissertao apresentada ao Programa de
Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual
e Inovao, da Academia de Propriedade
Intelectual, Inovao e Desenvolvimento
Coordenao de Programas de Ps-Graduao e
Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI, como requisito parcial para a
obteno do ttulo de Mestre em Propriedade
Intelectual e Inovao.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Winter
Rio de Janeiro
2013
Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca Economista Cludio Treiguer INPI
C355 Castro, Viviane Freitas de.
Anlise do cenrio tcnico-cientfico mundial: um estudo de caso em
leishmaniose / Viviane Freitas de Castro - - 2013.
133 f.
Dissertao (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovao)
Academia de Propriedade Intelectual, Inovao e Desenvolvimento, Coordenao
de Programas de Ps-Graduao e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade
Industrial INPI, Rio de Janeiro, 2013.
Orientador: Dr. Eduardo Winter
1. Leishmaniose Pesquisas. 2. Anlise de cenrio tcnico-cientfico -
Leishmaniose II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). CDU: 347.77
"O sucesso nasce do querer, da determinao e persistncia em se chegar a um objetivo.
(...), quem busca e vence obstculos, no mnimo far coisas admirveis."
Jos de Alencar
AGRADECIMENTOS
Agradeo,
Aos meus pais amados, Regina e Murillo, meus maiores incentivadores.
Ao meu namorado, Raphael, pelo seu carinho e apoio.
minha irm, Daniele, por sempre acreditar em mim.
minha afilhada, Maria, por trazer ainda mais alegrias minha vida.
Aos amigos Ana Paula, Neila e Rodrigo Cartaxo, pela valiosa ajuda de cada um na
concretizao desta dissertao, aos colegas de turma e professores do Mestrado INPI /2010, a
Patrcia e Juliane e aos funcionrios da biblioteca do INPI.
amiga Fabiane, desde o incio de tudo.
s amigas do LMC/UFRJ Flavia, Maura, Renata, Maluah, Camilla, Kelli e, em
particular, Clarice pela ajuda na formatao.
Aos amigos da Biologia, pelos vrios anos de convivncia e amizade, especialmente
Bel, pela grande ajuda.
Dra. Ida Maria Orioli pelas oportunidades e flexibilidade no LMC/UFRJ.
Agradeo em especial ao meu orientador, Eduardo, pelos ensinamentos e incentivo.
A todos vocs,
Muito obrigada!
CASTRO, Viviane Freitas de. Anlise do Cenrio Tcnico-Cientfico Mundial: Um
Estudo de Caso em Leishmaniose. Rio de Janeiro, 2013. Dissertao (Mestrado Profissional
em Propriedade Intelectual e Inovao) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovao e
Desenvolvimento, Coordenao de Programas de Ps-Graduao e Pesquisa, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial INPI, Rio de Janeiro, 2013.
RESUMO
O uso de indicadores bibliomtricos em um sistema de Cincia, Tecnologia e Inovao
(C,T&I) tem como principal fundamento avaliar o retorno dos investimentos aplicados no
desenvolvimento de determinada tecnologia. Esses indicadores caracterizam-se por serem
medidas quantitativas baseadas na produo bibliogrfica - literatura no patentria (NPL) e
literatura patentria (PL) geralmente utilizados para avaliao do grau de desenvolvimento
cientfico e tecnolgico de um pas. Em meio a esse contexto, o presente trabalho utiliza como
estudo de caso as pesquisas em leishmaniose, uma vez que essa uma doena com impacto
em diversas regies do mundo e do Brasil, onde essa patologia ainda prevalente e vem
aumentando consideravelmente. A leishmaniose, numa breve referncia aos seus aspectos
sociais e econmicos, classifica-se como uma doena negligenciada, ou seja, afeta
predominantemente as populaes mais pobres e vulnerveis e os investimentos em pesquisa
geralmente no so revertidos em desenvolvimento de novos medicamentos, testes
diagnsticos e medidas de preveno e controle. Para avaliar essas questes, ser utilizada,
nesse trabalho, uma metodologia que permita uma comparao entre o nmero de artigos
cientficos encontrados e o nmero de documentos patentrios recuperados. Essas
informaes sero obtidas por meio de bases de buscas e permitiro traar um paralelo entre a
produo cientfica e o desenvolvimento tecnolgico dos diversos pases. Os seguintes
parmetros sero analisados: principais autores, principais instituies, produo cientfica ao
longo do tempo, principais depositantes, pas de deposito, pas de prioridade,
desenvolvimento tecnolgico ao longo do tempo, mercado de proteo e distribuio
geogrfica nas regies brasileiras. neste cenrio que sero detalhados e discutidos os
resultados encontrados e estabelecidas concluses, hipteses e questionamentos. Os dados
obtidos neste trabalho mostram a incipiente participao do Brasil no mercado internacional
de desenvolvimentos de novas tecnologias, o que parece ser caracterstico de pases em
desenvolvimento, que apresentam um fraco sistema de inovao com uma baixa transferncia
de conhecimento entre a cincia - onde a produo alta - e a tecnologia, detectada atravs da
anlise do nmero de depsitos de documentos patentrios e de investimentos em P&D. Por
fim, a presente dissertao faz uso dos indicadores bibliomtricos para uma anlise sobre as
pesquisas em leishmaniose e sugere o grau de desenvolvimento tecnolgico relacionado
leishmaniose no Brasil e no mundo, inferindo possveis barreiras nesse desenvolvimento, o
que se espera ser de benefcio tanto para futuros estudos quanto para auxlio em medidas
estratgicas e de utilidade pblica.
PALAVRAS-CHAVE: indicadores de cincia, tecnologia e inovao, indicadores bibliomtricos,
leishmaniose.
CASTRO, Viviane Freitas. Scenario Analysis of Scientific-Technical World: A Case
Study in leishmaniasis. Rio de Janeiro, 2013. Dissertation (Mestrado Profissional em
Propriedade Intelectual e Inovao) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovao e
Desenvolvimento, Coordenao de Programas de Ps-Graduao e Pesquisa, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial INPI, Rio de Janeiro, 2013.
ABSTRACT
The use of bibliometric indicators in a system of Science, Technology and Innovation has as
its main foundation evaluate the return on investments made in the development of certain
technology. These indicators are characterized by quantitative measures based on
bibliographic production - non-patent literature (NPL) and patent literature (PL) - commonly
used to assess the level of scientific and technological development of a country. Within this
context, the present work uses as a case study research on leishmaniasis, since this is a disease
with an impact on different regions of the world and Brazil, where this disease is still
prevalent and has been increasing considerably. Leishmaniasis, a brief reference to its social
and economic aspects, it is classified as a neglected disease, ie, predominantly affects the poor
and vulnerable and investments in research are generally not reversed in developing new
drugs, diagnostic tests and prevention and control. To evaluate these issues, will be used in
this work, a methodology that allows a comparison between the number of papers found and
the number of patent documents retrieved. This information will be obtained through searches
of databases and will draw a parallel between the scientific and technological development of
the various countries. The following parameters are analyzed: major authors, major
institutions, scientific production over time, leading depositors, deposit country, country
priority, technological development over time, protection market and geographic distribution
in the Brazilian regions. It is in this scenario that will be detailed and discussed the results and
findings, hypotheses and questions. The data obtained in this work show the incipient
participation of Brazil in the international development of new technologies, which seems to
be characteristic of developing countries, with a low innovation system with a low knowledge
transfer between science - where production is high - and technology, detected by examining
the number of patent documents deposits and investments in R&D. Finally, this thesis makes
use of bibliometric indicators for a discussion about research on leishmaniasis and suggests
the degree of technological development related to leishmaniasis in Brazil and worldwide,
inferring possible barriers in this development, which is expected to be of benefit to both
future studies and for assistance in strategic measures and utilities.
KEY-WORDS: indicators of science, technology and innovation, bibliometric indicator,
leishmaniasis.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Indicadores de C,T&I. ............................................................................................... 29
Figura 2: Tipos de Leses em Leishmaniose Tegumentar Americana. .................................... 35
Figura 3: Leishmaniose Visceral Calazar. ............................................................................. 36
Figura 4: Aspectos Caractersticos da Leishmaniose em Ces. ............................................... 37
Figura 5: Formas de Leishmania .............................................................................................. 40
Figura 6: Mosquito Fmea Flebtomo. .................................................................................... 41
Figura 7: Desenho Esquemtico do Ciclo Biolgico da LV. ................................................... 42
Figura 8: Distribuio Geogrfica da LV e LTA no Velho e Novo Mundo. ........................... 49
Figura 9: Distribuio Geogrfica da Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil. ......... 50
Figura 10: Distribuio Geogrfica da Leishmaniose Visceral no Brasil. ............................... 50
Figura 11: Representao do Mercado Farmacutico Mundial. ............................................... 54
Figura 12: Mapa da Co-infeco Leishmaniose e HIV no Mundo. ......................................... 55
Figura 13: Fluxograma da Metodologia. .................................................................................. 57
Figura 14: Pgina Inicial do website do Portal de Peridicos da Capes. .................................. 59
Figura 15: Estratgia de Busca na Base a) Web of Science. ..................................................... 62
Figura 16: Estratgia de Busca na Base b) DII. ........................................................................ 63
Figura 17: Etapas para Salvar os Resultados nas Bases de Busca (Web of Science e DII). ..... 64
Figura 18: Arquivo MS Excel para Artigos Cientficos ........................................................... 64
Figura 19: Arquivo MS Excel para Documentos Patentrios................................................... 64
Figura 20: Ferramenta de Refino dos Resultados da base Web of Science
. ........................... 67
Figura 21: Ferramenta para Salvar a Anlise dos Resultados da Base Web of Science
. ........ 67
Figura 22: Ferramenta de Refino dos Resultados da base DIISM
.............................................. 69
Figura 23: Ferramenta para Salvar a Anlise dos Resultados da Base DIISM
.......................... 69
Figura 24: Documento Patentrio ............................................................................................. 70
Figura 25: Comparao entre a produo cientfica e tecnolgica nos setores de leishmaniose
e doena cardaca. ..................................................................................................................... 83
Figura 26: Programas e Cursos de ps-graduaes reconhecidos no Brasil ............................ 91
LISTA DE GRFICOS
Grfico 1: Tipo de Leishmaniose abordada em cada Artigo Cientfico ................................... 73
Grfico 2: Nmero de Artigos Cientficos publicados no Mundo X Ano de Publicao. ....... 76
Grfico 3: Tipo de Leishmaniose abordada em cada Documento Patentrio........................... 77
Grfico 4: Nmero de Documentos Patentrios X Pas/Regio de Depsito. .......................... 80
Grfico 5: Nmero Documentos Patentrios X Pas de Prioridade. ......................................... 81
Grfico 6: Nmero de Documentos Patentrios depositados no Mundo X Ano de Prioridade. ........ 84
Grfico 7: Mercado de Proteo por Pases.............................................................................. 86
Grfico 8: Nmero de Artigos Cientficos publicados no Brasil X Ano de Publicao. ......... 92
Grfico 9: Nmero de Documentos Patentrios depositados no Brasil X Ano de Publicao. .. 93
Grfico 10: Assunto abordado nos Documentos Patentrio brasileiros X Nmero de Ocorrncias. .... 94
LISTA DE QUADROS
Quadro 1: Descrio dos Manuais da Famlia Frascati......................................................... 24
Quadro 2: Principais Indicadores utilizados desde a Segunda Guerra Mundial....................... 25
Quadro 3: Tipos de Leses em Leishmanioses. ....................................................................... 33
Quadro 4: Comportamento da Leishmania e HIV durante a Coinfeco. ................................ 55
Quadro 5: Critrios utilizados na Pr-anlise dos Artigos Cientficos e Documentos Patentrios. ... 65
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Tipo de Leishmaniose correlacionado a Aplicao em Artigos Cientficos. ........... 73
Tabela 2: Autores com mais Publicaes Cientficas ............................................................... 74
Tabela 3: Instituies com mais Publicaes Cientficas. ........................................................ 75
Tabela 4: Tipo de Leishmaniose correlacionado a Aplicao em Documentos Patentrios. ... 78
Tabela 5: Depositantes de Documentos Patentrios. ................................................................ 79
Tabela 6: N Documentos Patentrios depositados por No Residentes .................................. 85
Tabela 7: Autores Nacionais com mais publicaes cientficas ............................................... 88
Tabela 8: Instituies Nacionais com mais publicaes cientficas ......................................... 89
Tabela 9: Distribuio Geogrfica de Artigos Cientficos no Brasil. ....................................... 90
Tabela 10: Distribuio Geogrfica de Documentos Patentrios no Brasil. ............................ 91
LISTA DE ABREVIATURAS
AMS/WHA - World Health Assembly (Assembleia Mundial de Sade)
BPT Balano de Pagamento Tecnolgico
C,T&I Cincia, Tecnologia e Inovao
Capes - Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior
DII Derwent Innovations Index
DNDi Drug For Neglected Disease Initiative (Iniciativa Medicamentos para Doenas
Negligenciadas)
EPO European Patent Office (Escritrio de Patentes Europeu)
HIV/AIDS Vrus da imunodeficincia humana / Sndrome da Imunodeficincia Adquirida
ICTs Instituies de Cincia e Tecnologia
LTA Leishmaniose Tegumentar Americana
LV Leishmaniose Visceral
MAPA Ministrio de Agricultura, Pecuria e Abastecimento
MS Ministrio da Sade
MS Excel Microsoft Excel
MSF Mdecins Sans Frontrires (Mdicos sem Fronteiras)
NPL Non Patent Literature (Literatura No-patentria)
NSF National Science Foundation (Fundao Nacional da Cincia - EUA)
OCDE Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico
OMPI/WIPO World Intellectual Property Organization (Organizao Mundial da
Propriedade Intelectual)
OMS/WHO World Health Organization (Organizao Mundial da Sade)
PCT Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperao em Matria de Patente)
P&D Pesquisa e Desenvolvimento
PL Patent Literature (Literatura Pantentria)
TERMOS EM INGLS
Advanced Search Busca Avanada
Analyse Results Analisar os Resultados
Application Details Detalhes do Requerimento
Assignee Names Nomes dos Depositantes
Download Baixar (Relativo a Arquivos)
Field Tags Marcas de Campo
High-tech Alta tecnologia
Input Investimento, Insumo
Kit Conjunto
Know-How Saber Como
Link Ligao
Organizations-Enhanced Instituies
Output Resultado, Produto
Priority Application Information And Date Informao E Data De Prioridade
Ranking Posio
Refine Results Refinar os Resultados
Save Analysis Data To File Salvar os Dados de Anlise em Arquivo
Step Passo, Etapa
Survey - Pesquisa
Website Stio da Internet
SUMRIO
1. INTRODUO ............................................................................................................... 19
1.1 Estrutura da Dissertao ........................................................................................ 20
1.2 Justificativa ............................................................................................................ 21
1.3 Objetivos ................................................................................................................ 22
1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 22
1.3.2 Objetivos Especficos .................................................................................... 22
2. INDICADORES DE C,T&I ............................................................................................. 23
2.1 Evoluo dos Indicadores de C,T&I...................................................................... 23
2.2 Tipos de Indicadores de C,T&I ............................................................................. 25
2.2.1 A Cientometria e os Indicadores Bibliomtricos .......................................... 28
2.2.1.1 Indicadores de Produtividade Cientfica - Artigos Cientficos ..........................30
2.2.1.2 Indicadores de Desenvolvimento Tecnolgico - Documentos Patentrios .........31
3. A LEISHMANIOSE ........................................................................................................ 32
3.1 Tipos e Caractersticas da Leishmaniose ............................................................... 33
3.1.1 Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) .............................................. 34
3.1.2 Leishmaniose Visceral ou Calazar (LV) ....................................................... 35
3.1.3 Leishmaniose Canina .................................................................................... 36
3.2 Epidemiologia ........................................................................................................ 37
3.2.1 Transmisso .................................................................................................. 39
3.2.2 Sintomas e Diagnstico ................................................................................. 42
3.2.3 Preveno e Tratamento ................................................................................ 45
3.2.4 Distribuio Geogrfica ................................................................................ 48
3.3 Aspectos Scio-econmicos .................................................................................. 51
3.3.1 Doenas Negligenciadas ............................................................................... 52
3.3.2 A Coinfeco com HIV ................................................................................. 54
4 METODOLOGIA ............................................................................................................. 57
4.1 Utilizao das Bases de Dados .............................................................................. 58
4.2 Levantamento Bibliogrfico .................................................................................. 61
4.2.1 Artigos Cientficos ........................................................................................ 61
4.2.2 Documentos Patentrios ................................................................................ 62
4.3 Compilao dos Dados .......................................................................................... 63
4.4 Pr-Anlise dos Dados .......................................................................................... 65
4.5 Tratamento e Anlise dos Dados ........................................................................... 65
4.5.1 Artigos Cientficos ........................................................................................ 66
4.5.2 Documentos Patentrios ................................................................................ 68
4.5.3 Produo Cientfica e Depsitos no Brasil.................................................... 72
5 RESULTADOS E DISCUSSO .......................................................................................... 72
5.1 Distribuio dos Artigos Cientficos no Mundo .................................................... 72
5.2 Distribuio dos Documentos Patentrios no Mundo ........................................... 77
5.3 Distribuio da Produo Cientfica e Depsitos no Brasil .................................. 87
6 CONCLUSO.................................................................................................................. 95
6.1 A Leishmaniose no Cenrio Mundial .................................................................... 96
6.2 A Leishmaniose no Cenrio Nacional ................................................................... 97
6.3 Consideraes Finais ............................................................................................. 98
7 PERSPECTIVAS FUTURAS.............................................................................................. 99
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ................................................................................... 100
ANEXOS ......................................................................................................................... 106
19
1. INTRODUO
Os Indicadores de Cincia, Tecnologia e Inovao (C,T&I) so ferramentas que
buscam auxiliar nos processos de compreenso da produo cientfica, formulao de
polticas pblicas e definio de estratgias tecnolgicas por meio de medidas quantitativas
relacionadas avaliao do processo e grau de desenvolvimento cientfico e tecnolgico
(VIOTTI, 2003; JANNUZZI, 2002), nos quais se encontram os indicadores bibliomtricos.
Os indicadores bibliomtricos caracterizam-se por serem medidas quantitativas
baseadas na produo bibliogrfica, a qual diz respeito literatura no patentria (NPL) e
literatura patentria (PL), englobando os artigos cientficos e documentos patentrios1,
respectivamente.
Os indicadores bibliomtricos esto diretamente relacionados ao desenvolvimento
tcnico-cientfico de um pas e tem por objetivo avaliar o retorno dos investimentos aplicados
(MUGNAINI et. al., 2004), por esse motivo, estes indicadores foram escolhidos como
ferramentas de estudo no presente trabalho.
Uma vez que a leishmaniose uma doena com impacto em diferentes regies,
principalmente onde essa patologia ainda prevalente, e que vem aumentando
consideravelmente em todo o mundo (SMITH et. al., 2001), foi escolhida como estudo de
caso para este trabalho, onde se pretendeu avaliar do uso de indicadores bibliomtricos.
Optou-se por estudar o desenvolvimento de pesquisas cientficas e tecnologias relacionadas
leishmaniose, visto que o presente estudo pretende analisar o grau de desenvolvimento
cientfico e tecnolgico, baseado nos estudos que esto sendo feitos nessa rea.
1 Documentos Patentrios: ser o termo utilizado no presente estudo para qualquer tipo de documentos de patente,
englobando tanto documentos de pedidos de patentes quanto patentes concedidas.
20
1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAO
A presente dissertao foi estruturada em seis captulos, dentre eles a Metodologia, os
Resultados e Discusso e a Concluso, alm das Referncias Bibliogrficas e os Anexos.
A Introduo far uma contextualizao sobre o tema que ser abordado, indicando a
justificativa para realizao do estudo e apontando os objetivos a serem desenvolvidos
durante a execuo do trabalho.
Em seguida, ser apresentado um embasamento terico acerca da especificidade e
importncia dos indicadores bibliomtricos artigos cientficos e documentos patentrios -
dentro um sistema de indicadores em C,T&I.
Posteriormente, ser descrita uma anlise do cenrio mundial, relacionado
prevalncia de leishmaniose e a importncia de estudos mais aprofundados nessa rea,
destacando-se as caractersticas, epidemiologia e aspectos econmicos e sociais dessa
patologia.
Na sequncia, apresenta-se a Metodologia utilizada nesse estudo, com detalhamento
das etapas que foram seguidas at a obteno dos dados, bem como a sua compilao e
anlises.
Por fim, sero detalhados e discutidos os resultados encontrados e estabelecidas as
suas concluses, hipteses e questionamentos que se espera poder ser de benefcio tanto para
futuros estudos quanto para auxlio em medidas estratgicas e de utilidade pblica.
21
1.2 JUSTIFICATIVA
A Leishmaniose uma doena tropical infecto-parasitria negligenciada que constitui
um problema de sade pblica, prevalente em diversas regies do mundo, e acomete humanos
e animais. Segundo a Organizao Mundial da Sade (OMS), o aumento na incidncia da
leishmaniose no mundo pode estar associado a fatores de risco como alteraes ambientais,
urbanizao, vrus da imunodeficincia humana (HIV), desnutrio e fatores genticos.
(OMS, 2010)
Dentre os vrios problemas envolvendo a leishmaniose humana, esto o tratamento
doloroso, os medicamentos que apresentam efeitos colaterais txicos, podendo ser fatais
(Moran et al., 2009), e o diagnstico inicial da doena baseado na avaliao clnica dos
sintomas que se apresentam semelhantes a outras doenas tropicais, ocasionando um
diagnstico tardio (OMS, 2010). Do ponto de vista animal, cabe destacar que apenas
recentemente vem sendo desenvolvidas formas mais eficazes de preveno de ces, que at
hoje so sacrificados em caso de doena.
Assim, as doenas tropicais, que muitas vezes so tratveis e podem ser prevenidas,
continuam a assolar comunidades pobres nos pases em desenvolvimento e, de acordo com
Moran et al., 2009, essa negligncia resultado de falhas na poltica pblica.
Portanto, no que diz respeito rea de preveno, diagnstico e tratamento da
leishmaniose, grande a necessidade de apoio em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
tecnolgico na produo de medicamentos e kits de diagnstico mais eficazes em ambos os
segmentos.
22
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GERAL
Analisar o desenvolvimento cientfico e tecnolgico relacionados pesquisa,
tratamento, preveno e diagnstico da leishmaniose, por meio de indicadores bibliomtricos
artigos cientficos e documentos patentrios , construindo um panorama relativo a esse
segmento dentro do cenrio tcnico-cientfico nacional e mundial.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Mapear a produo cientfica e tecnolgica em leishmaniose por meio da
compilao e anlise dos artigos cientficos e dos documentos patentrios que tratam sobre
essa patologia, no Brasil e no Mundo;
2. Validar os indicadores de C,T&I especficos para tratamento, preveno e
diagnstico em leishmaniose, diferenciando-se os setores humano e animal;
3. Investigar as reas (humana ou animal; tratamento, diagnstico ou preveno) onde
est ocorrendo maior interesse por parte dos pesquisadores e inventores no assunto;
4. Identificar a participao do Brasil, dentre os demais pases, atravs da anlise dos
depsitos de documentos patentrios no pas bem como a sua produo cientfica; e
5. Questionar possveis gargalos existentes na pesquisa cientfica e no
desenvolvimento tecnolgico em leishmaniose, identificando as deficincias e a suposta falta
de incentivo s atividades nesse setor.
23
2. INDICADORES DE C,T&I
As atividades de C,T&I esto em constante crescimento e exercem, cada vez mais, um
importante papel junto sociedade no que diz respeito ao crescimento, competitividade e ao
desenvolvimento dos pases. Para que haja a utilizao do conhecimento e a consequente
gerao de riquezas necessrio um processo eficaz de desenvolvimento e gesto de C,T&I.
Sendo assim, a existncia de indicadores relacionados s atividades de C,T&I considerada
essencial para compreenso e monitoramento dos processos de produo, difuso e uso do
conhecimento, das tecnologias e das inovaes cientficas (SARTORI & PACHECO, 2008).
Os indicadores de C,T&I so medidas quantitativas das quais se espera obter
informaes relevantes, no dedutveis, que buscam representar conceitos muitas vezes
intangveis dentro do universo da cincia e da tecnologia. Mais precisamente, um indicador
em C,T&I uma medida usada, em geral, para substituir, quantificar ou operacionalizar
dimenses relacionadas avaliao do processo e grau de desenvolvimento cientfico e
tecnolgico (JANNUZZI, 2002). Eles so instrumentos que auxiliam na melhor compreenso
e monitoramento dos processos de conhecimento cientfico, tecnolgico e inovao, e esto
relacionados compreenso da produo cientfica, formulao de polticas pblicas e
definio de estratgias tecnolgicas (VIOTTI, 2003).
2.1 EVOLUO DOS INDICADORES DE C,T&I
Historicamente, procurou-se, num primeiro momento, dimensionar o esforo em
C,T&I por meio de indicadores de input (insumo) como volumes de investimento em pesquisa
cientfica e tecnolgica (RUIVO, 1994). A partir dos anos 1960, os indicadores de output
(resultados) comearam a ser utilizados, dada a necessidade de se dispor de medidas que
permitissem os tomadores de deciso avaliar o retorno dos investimentos (WHITE e
MCCAIN, 1989).
24
Foi a partir dessa poca que houve a elaborao de um manual metodolgico para
padronizao de prticas de coleta, tratamento e uso de estatsticas sobre P&D experimental,
um marco na evoluo dos indicadores de C,T&I. Esse manual foi elaborado pela OCDE
(Organizao de Cooperao e Desenvolvimento Econmico) e recebeu o nome de Manual de
Frascati. Aps esse, muitos outros manuais foram sendo elaborados para estabelecer
metodologias padronizadas de acordo com o tipo de indicadores a que se referem formando a
chamada Famlia Frascati (LIBERAL, 2005), conforme detalhado no Quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Descrio dos Manuais da Famlia Frascati
Manuais Indicador Descrio
Manual Frascati (1963) P&D
O Manual Frascati (P&D) tem por objeto os
dispndios e o pessoal alocados em P&D. Alm de
definir detalhadamente essas atividades, orienta na
distino de outras que podem ser confundidas com
P&D. Apresenta as principais classificaes setoriais
e funcionais dos dados de P&D, discorre sobre a
medio e classificao dos recursos humanos e
dispndios nesta atividade.
Manual de BPT (1990)
Balano de
Pagamentos
Tecnolgicos
Tem por objetivo registrar todas as transaes
intangveis relacionadas ao comrcio de
conhecimentos tcnicos e de servios com contedo
tecnolgico entre diferentes pases, dentre eles:
documentos patentrios (compra, venda e licenas);
Know-how; Modelos e desenhos industriais; Marcas
(inclusive franquias); Servios tcnicos;
Financiamento em P&D industrial no exterior.
Manual de Oslo (1992) Inovaes O manual de Oslo prov diretrizes para mensurao
da inovao tecnolgica.
Manual de patentes (1994) Documentos
Patentrios
Este manual fornece informaes bsicas sobre como
os dados de documentos patentrios podem ser
utilizados e como eles podem ser relacionados com
outras estatsticas sobre atividades cientficas,
tecnolgicas e econmicas.
Manual de Canberra (1995) Recursos Humanos
Trata dos recursos humanos efetiva ou
potencialmente dedicados sistemtica gerao,
avano, difuso e aplicao de conhecimentos
cientficos e tecnolgicos com o propsito de prover
uma estrutura conceitual comum para a compilao
de dados sobre os estoques e os fluxos de recursos
humanos em C,T&I. Fonte: Adaptado de VIOTTI, 2003.
Exposto isso, no Quadro 2 est representada a evoluo do sistema de indicadores no
ps-guerra.
25
Quadro 2: Principais Indicadores utilizados desde a Segunda Guerra Mundial
Anos 50 e 60 Anos 70 Anos 80 Anos 90
Principais
indicadores
utilizados
P&D
P&D
Documentos Patentrios
Balano de pagamento
tecnolgico
P&D
Documentos Patentrios
Balano de pagamento
tecnolgico
Produtos high-tech
Bibliomtricos
Recursos Humanos
Surveys2 de inovao
P&D
Documentos Patentrios
Balano de pagamento
tecnolgico
Produtos high-tech
Bibliomtricos
Recursos Humanos
Surveys de inovao
Informaes mencionadas na
literatura tcnica
Surveys de tecnologias de
produo
Apoio pblico a tecnologias
industriais
Investimento de intangveis
Indicadores de tecnologias de
informao e
comunicao
Matrizes de insumo produto
Produtividade
Capital de risco
Fuses e aquisies Fonte: Adaptado de ARCHIBUGI & SIRILLI, 2000.
A disponibilidade de um bom sistema de indicadores essencial para compreenso
dos processos de produo, difuso e uso de C,T&I (VIOTTI, 2003).
2.2 TIPOS DE INDICADORES DE C,T&I
Os indicadores de C,T&I podem ser divididos em: indicadores de investimento ou
insumo input e indicadores de resultado ou produto output, de acordo com os manuais de
referncias (LOZANO, 2002), descritos no item anterior 2.1 Evoluo dos Indicadores de
C,T&I.
Os indicadores de input esto relacionados aos recursos, humanos, fsicos e
2 A pesquisa survey pode ser descrita como a obteno de dados ou informaes sobre caractersticas, aes ou opinies de determinado
grupo de pessoas, indicado como representante de uma populao alvo, por meio de um instrumento de pesquisa (FREITAS, et al. 2000).
26
financeiros - alocados nas atividades cientficas e tecnolgicas (SARTORI & PACHECO,
2008), tais como investimento de capitais, servios e aquisio de tecnologia e recursos
humanos.
Pode-se dizer que os indicadores de input medem os investimentos em recursos
destinados ao avano da C,T,&I, como em P&D, e permitem uma comparao entre os
investimentos pblicos e privados realizados por diferentes pases ou pelas vrias regies de
um mesmo pas sendo essa uma forma de avaliar a importncia que os pases atribuem s
atividades de C,T&I. Entretanto, a eficcia dos investimentos pode variar em funo da
eficincia dos sistemas nacionais de C,T&I de cada pas (LOZANO, 2002).
Os recursos humanos esto relacionados ao nmero de pessoas a servio da P&D e o
total de pessoas economicamente ativas do pas, nos diferentes setores de atuao, ocupao,
e qualificao (LOZANO, 2002). Segundo o National Science Foundation (NSF) (2002), o
nmero de cientistas e engenheiros engajados em atividades de P&D em relao ao total de
pessoas economicamente ativas nos pases desenvolvidos vem aumentando. Alm disso, a
qualificao do pessoal alocado em atividades de P&D, tambm pode medir o potencial de
crescimento do setor industrial.
A aquisio de tecnologia obtida a partir do desenvolvimento tecnolgico pode ser
responsvel por importantes efeitos para a economia de um pas, tais como: reduo de custos
na produo de bens e servios; criao de novos produtos, processos e servios; e, avanos
em diversas reas como a biotecnologia e a automao das indstrias, entre outros (NSF,
2002).
importante ressaltar que os investimentos em P&D realizados por um pas
apresentam duas fontes principais de financiamento: o governo e a indstria. O governo, em
geral, o principal financiador da pesquisa bsica e aplicada, enquanto que a indstria
27
financia o desenvolvimento tecnolgico. Entretanto, o investimento em projetos de P&D pela
indstria vem crescendo desde a dcada de 80, principalmente no Japo, na Alemanha e nos
Estados Unidos (OECD, 2001). interessante notar que os pases que tem maior nvel de
investimentos em P&D so os mesmos que tem maiores investimentos provenientes do setor
industrial, como Japo, Coria, Alemanha e Estados Unidos (PINHEIRO-MACHADO,
2004).
J os indicadores de output dizem respeito aos produtos gerados nas atividades
cientficas e tecnolgicas, indicam aspectos econmicos e sociais de um pas (SARTORI &
PACHECO, 2008), fornecendo assim, informaes acerca da produo cientfica, atividades
de proteo por patentes e transferncia de tecnologia entre pases (balano de pagamentos
tecnolgicos - BPT) (BRASIL, 2012). por meio desses indicadores que o conhecimento
cientfico e tcnico armazenado e distribudo (PINHEIRO-MACHADO, 2004).
Dentre os indicadores de output, os mais discutidos e utilizados, atualmente, so as
publicaes cientficas e os registros de patentes (SARTORI & PACHECO, 2008). Por
apresentarem um carter predominantemente quantitativo, eles so classificados no grupo dos
indicadores bibliomtricos e constituem a principal ferramenta para analisar as atividades
cientficas e tecnolgicas desenvolvidas nos diferentes pases (MUGNANI et. al., 2004). A
obteno desses indicadores, geralmente, proveniente de fontes externas, principalmente de
bases de dados comerciais, ao contrrio dos dados sobre os indicadores de investimentos, que
so obtidos atravs de fontes oficiais/originais (PINHEIRO-MACHADO, 2004).
Visto isso, cabe ressaltar que os indicadores de input promovem a realizao da
C,T&I, enquanto os indicadores de output representam os resultados obtidos com a C,T&I.
Dessa forma, um indicador de output depende substancialmente dos indicadores de input
introduzidos no sistema, em funo dos montantes alocados para a pesquisa, tais como os
28
recursos humanos envolvidos e os recursos financeiros empregados em C,T&I (SILVA &
BIANCHI, 2001), a fim de buscar associaes de causas e efeitos dentro do sistema. Assim,
cada indicador geralmente melhor representa um ou mais aspectos envolvidos nos complexos
processos de produo, difuso e uso de C,T&I (VIOTTI, 2003).
Ento, como j mencionado anteriormente, para realizao desse estudo foi escolhido
o uso dos indicadores bibliomtricos - artigos cientficos e documentos patentrios - como
instrumentos para avaliao das atividades relacionadas ao desenvolvimento cientfico e
tecnolgico no Brasil e no mundo dentro do contexto da leishmaniose.
2.2.1 A CIENTOMETRIA E OS INDICADORES BIBLIOMTRICOS
Os indicadores bibliomtricos tiveram origem a partir da Cientometria, que definida
pelos estudiosos como sendo o estudo da mensurao do progresso cientfico e tecnolgico
que consiste na avaliao quantitativa e na anlise da atividade, produtividade e progresso
cientfico (SILVA e BIANCHI, 2001). Segundo Price (1963), a cientometria consiste em
aplicar tcnicas numricas de anlise para quantificar o esforo, o comportamento e o impacto
social das cincias, abrangendo o sistema de pesquisa como um todo, sendo por ele chamada
de cincia das cincias.
A cientometria tem um grande potencial de aplicao, havendo interesse de Governos
e Instituies de Pesquisas em utilizar este conceito com o objetivo de implementar diferentes
formas de apoio ao desenvolvimento cientfico e tecnolgico e, tambm, tem sido usada para
ajudar naes a tomarem decises sobre quais reas do conhecimento necessitam de maiores
suportes financeiros (SILVA e BIANCHI, 2001), estando tal pesquisa baseada em indicadores
bibliomtricos construdos a partir de documentos publicados (SANTOS e KOBASHI, 2005).
Os indicadores bibliomtricos representam medidas quantitativas relativas produo
29
bibliogrfica realizada por pesquisadores e seus grupos de pesquisa, tm um papel de
destaque dentro da cientometria (PRAT, 1998; GARFIELD, 1995), e cada vez mais as
anlises bibliomtricas tornam-se indispensveis na orientao de polticas e gesto das
atividades de C,T&I (VIOTTI, 2003). Tal fato decorre da natureza intrnseca desses
indicadores de fornecer uma medida quantitativa dos resultados concretos e potenciais dos
recursos financeiros investidos e recursos humanos alocados em pesquisa (PRAT, 1998 e
GARFIELD, 1995).
Os indicadores bibliomtricos tem como finalidade apontar os resultados e os efeitos
impactantes do esforo destinado a C,T&I. Para isso, so divididos em: indicadores-produto e
indicadores-impacto (JANNUZZI, 2002). Os indicadores bibliomtricos so considerados
indicadores-produto quando se referem a resultados mais imediatos das polticas como a
produo de artigos cientficos ou documentos patentrios. So classificados como
indicadores-impacto quando se referem a efeitos mais abrangentes do fomento s atividades
de C,T&I, como o fator de impacto de publicaes, a taxa de inovao tecnolgica, o balano
de pagamentos tecnolgico (BPT) entre outros (TAUBES, 1993; MUGNAINI, 2004), como
esquematizado na Figura 1.
Figura 1: Indicadores de C,T&I.
Fonte: Adaptado de MUGNAINI, 2004.
30
Por se tratarem de indicadores bibliomtricos de resultado (output), os artigos
cientficos e os documentos patentrios so medidas utilizadas para avaliar o retorno dos
investimentos aplicados. Sendo assim, dentro de um sistema de indicadores de C,T&I, eles
podem ser teis para avaliar resultados tangveis do investimento em pesquisa (MUGNAINI,
et. al., 2004), tais como a produtividade de comunidades cientficas, a eficcia de um
programa em C,T&I ou a efetividade/impacto da pesquisa na prpria cincia ou para o
desenvolvimento econmico e social de um pas (PRAT, 1998 e GARFIELD, 1995). Dentro
desse contexto, os artigos cientficos iro indicar a produtividade cientfica, enquanto os
documentos patentrios vo gerar o indicativo de desenvolvimento tecnolgico.
2.2.1.1 INDICADORES DE PRODUTIVIDADE CIENTFICA - ARTIGOS CIENTFICOS
A informao cientfica, contida nos artigos, o insumo bsico para o
desenvolvimento cientfico e tecnolgico de um pas, segundo Kuramoto (2006) e de acordo
com Silva & Bianchi (2001):
Do ponto de vista cognitivo, um novo conhecimento somente adquire o seu
valor quando ele difundido dentro da comunidade, pois, somente assim poder
contribuir para o avano cientfico. Do ponto de vista social, a publicao de novos
descobrimentos uma etapa essencial do processo de investigao, permitindo ao
cientista obter o reconhecimento de seu prprio trabalho. So estas as razes que
fazem da publicao cientfica um elemento essencial e robusto da pesquisa, dando
aos indicadores bibliomtricos validade como uma medida indireta da atividade da
comunidade cientfica.
Sendo assim, a produo cientfica parte integrante de um grande sistema social e
apresenta vrias funes, como disseminar conhecimentos e atribuir crdito e reconhecimento
para aqueles cujos trabalhos tm contribudo para o desenvolvimento das ideias em diferentes
campos (SANTOS e KOBASHI, 2005).
Os artigos cientficos, ento, podem ser considerados como elementos chave na troca
de informaes e fonte de conhecimento e a sua divulgao feita atravs da publicao em
31
revistas especializadas (KURAMOTO, 2006).
Porm, alm de servirem como ferramenta para obteno de conhecimento e
informao, os artigos cientficos atuam como importantes indicadores para a anlise da
atividade cientfica nos diversos pases (PINHEIRO-MACHADO, 2004).
O nmero de artigos cientficos publicados ir medir a produo cientfica que est
sendo gerada, e, dessa forma, espera-se que seja possvel identificar o interesse na pesquisa
em determinada rea. A partir do nmero de publicaes, podem se derivar outros indicadores
como, por exemplo, o nmero de citaes e o fator de impacto.
O nmero de publicaes, no entanto, um indicador meramente quantitativo,
(SILVA & BIANCHI, 2001), mas que para Viotti (2003) no impede que seja considerado
um indicador vlido para medir o desempenho da atividade cientfica, de uma rea e/ou de
uma instituio de onde se originaram.
O uso desse tipo de indicador bibliomtrico baseia-se na premissa de que as
publicaes cientficas so um demonstrativo essencial das atividades de pesquisa de um pas,
cujas anlises permitem tanto ter uma viso mais globalizada da atividade cientfica dentro do
prprio pas, bem como estimar sua posio relativa num contexto internacional (SILVA &
BIANCHI, 2001).
2.2.1.2 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO - DOCUMENTOS PATENTRIOS
Os documentos patentrios so importantes indicadores bibliomtricos para avaliar a
capacidade tecnolgica de um pas ou regio (ALBUQUERQUE, 2003), pois so eles que
iro medir se a tecnologia est sendo aplicada.
Presume-se que seja possvel identificar novas tecnologias pela anlise de documentos
patentrios. No entanto, um documento patentrio no garantia de que vai haver inovao;
32
para isso ocorrer, a inveno tem que chegar ao mercado e gerar lucro, ou seja, um documento
patentrio uma tentativa de inovar, mais precisamente, um indicador de esforo inovativo,
capaz de sugerir o grau de desenvolvimento tecnolgico (ALBUQUERQUE, 2003).
Compreende-se ento que os indicadores bibliomtricos so especialmente
importantes para pases em desenvolvimento, como o Brasil. Isso por que, os indicadores
promovem um panorama de como est ocorrendo o desenvolvimento cientfico e tecnolgico
de um determinado pas. Com isso, podem contribuir para a elaborao e a eficcia de
polticas pblicas e estratgias, compreendendo melhor suas necessidades nos processos de
desenvolvimento cientfico, tecnolgico e econmico (VIOTTI, 2003).
Nesse contexto, foi escolhida como estudo de caso a leishmaniose, que uma doena
pertencente ao grupo das doenas negligenciadas. Dessa forma, o estudo aqui apresentado
poder ter a sua metodologia replicada no segmento de outras doenas tambm pertencentes a
esse grupo.
As caractersticas da leishmaniose sero brevemente apresentadas, em seus aspectos
sociais e econmicos, em nvel nacional e mundial.
3. A LEISHMANIOSE
A Leishmaniose uma doena infecto-parasitria negligenciada3 e que constitui um
problema de sade pblica no Brasil, com impacto tambm em diversas reas do mundo onde
essa patologia ainda prevalente. Essa patologia vem aumentando consideravelmente em
todo o mundo (SMITH et al., 2001) e, por esse motivo, o interesse por seu estudo se
intensificou nos ltimos anos.
3 Doena Negligenciada: Uma doena pode ser considerada negligenciada quando no h opes de tratamento, ou
quando as opes existentes so inadequadas. necessrio desenvolver estratgias para tratar especificamente tais doenas
(SMITH et al., 2001).
33
Apesar de ser uma zoonose4, a molstia acomete milhares de seres humanos a cada
ano, ocasionando uma srie de formas clnicas distintas, que abrangem desde infeces
subclnicas, at as formas mucosas mais graves e mutilantes (VERONESI-FOCACCIA,
2010).
A leishmaniose dividida em diferentes tipos que so classificados segundo as suas
caractersticas.
3.1 TIPOS E CARACTERSTICAS DA LEISHMANIOSE
A leishmaniose uma doena infecciosa zoontica3, no contagiosa, de transmisso
vetorial, causada por diversas espcies de protozorios do gnero Leishmania, amplamente
distribuda em todo mundo, que afeta o homem e os animais e, se no tratada, pode levar ao
bito em at 90% dos casos (ALTAMIRANO-ENCISO et al., 2003). Pode ser descrita em
dois tipos principais: leishmaniose tegumentar americana (LTA) e leishmaniose visceral (LV)
(RATH et al., 2003). O primeiro denomina-se assim porque afeta principalmente a estrutura
da pele e, excepcionalmente, das mucosas das vias areas superiores e a forma visceral,
tambm conhecida como calazar, afeta rgos internos como demonstrado no Quadro 3, a
seguir (ALTAMIRANO-ENCISO et al., 2003).
Quadro 3: Tipos de Leses em Leishmanioses.
Tipos Formas Leses
LTA Forma Cutnea Pele
Forma Mucosa Mucosas das vias areas superiores
(boca, nariz, faringe e laringe)
LV Forma Visceral rgos Internos (fgado, bao e
medula ssea) Fonte: Adaptado de Veronesi-Focaccia., 2010.
4 Doena Zoontica ou Zoonose: Doenas de animais transmissveis ao homem, bem como aquelas transmitidas do
homem para os animais. Os agentes que desencadeiam essas afeces podem ser microorganismos diversos, como bactrias,
fungos e vrus (BRASIL, 2009b)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7ahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Microorganismohttp://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9riahttp://pt.wikipedia.org/wiki/Fungohttp://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
34
Algumas das caractersticas dos diversos tipos de leishmaniose sero mais claramente
comentadas a seguir.
3.1.1 LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA)
A LTA ou cutneo-mucosa uma doena de evoluo crnica, que acomete pele e as
mucosas do nariz, boca, faringe e laringe (MARZOCHI, 1992). primariamente uma
zoonose que afeta mamferos, podendo o homem ser envolvido secundariamente.
A doena manifesta-se inicialmente na pele, onde os protozorios so inoculados pela
picada do mosquito. Dependendo da resposta imune do hospedeiro e da espcie infectante, a
doena pode ficar limitada ao local de inoculao do parasita ou atingir novas reas na pele e
nas mucosas. De acordo com a localizao das leses, distinguem-se, portanto, trs formas
clnicas de LTA: a forma cutnea localizada, a forma cutnea disseminada e a forma mucosa
(VERONESI-FOCACCIA, 2010).
LTA CUTNEA
A forma cutnea apresenta-se classicamente por ppulas, que evoluem para lceras.
Tambm pode manifestar-se como placas verrucosas, papulosas ou nodulares, de maneira
localizada ou disseminada, como exemplificado na Figura 2 A e B, a seguir (BRASIL,
2010a).
LTA MUCOSA
A forma mucosa dessa doena caracteriza-se por infiltrao, ulcerao e destruio
dos tecidos do trato respiratrio superior, como cavidade nasal (Figura 2 C), faringe ou
laringe e mais gravemente podendo ocorrer perfuraes do septo nasal e/ou palato (BRASIL,
2010a).
35
Figura 2: Tipos de Leses em Leishmaniose Tegumentar Americana.
Forma Cutnea Localizada da LTA, B) Forma Cutnea Disseminada da LTA, C) Forma Mucosa da LTA. Fonte: Veronesi-Focaccia, 2010.
Cabe ressaltar que pelo menos 14 espcies de parasitas causam a leishmaniose
tegumentar no homem, ao passo que vrias outras s foram encontradas em animais
(VERONESI-FOCACCIA, 2010).
3.1.2 LEISHMANIOSE VISCERAL OU CALAZAR (LV)
A LV a mais comumente descrita na literatura e tambm conhecida por calazar (do
hindu febre negra), sendo considerada pela OMS como um importante problema de sade
pblica no mundo inteiro (LAINSON & SHAW, 1987). Esta patologia apresenta-se com
caracterstica crnica, potencialmente fatal ao homem, cuja letalidade pode alcanar 10% dos
casos quando no se institui a terapia necessria (LAINSON & SHAW, 1987). Por isso,
considerada como sendo o mais grave tipo de leishmaniose, afetando rgos internos como
bao, fgado, linfonodos e medula ssea (ALTAMIRANO-ENCISO et al., 2003).
Na Figura 3, a seguir, v-se um rapaz com LV, onde foi marcada caneta a rea onde
se consegue palpar o fgado e o bao, ambos com tamanhos muito aumentados (BRASIL,
2010a).
A B C
36
Figura 3: Leishmaniose Visceral Calazar.
Fonte: BRASIL, 2009b. Acessado em: 08/12/2011
Um importante aspecto foi determinado em estudos de fatores de risco, onde se
documentou que crianas desnutridas tem um risco relativo nove vezes maior de desenvolver
calazar, quando infectadas, do que crianas nutridas (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Por se tratar de uma doena transmitida por animais ao homem, imperativo que se
comente como ocorrem as caractersticas nos mesmos, bem como sua evoluo e possveis
tratamentos.
3.1.3 LEISHMANIOSE CANINA
A leishmaniose uma doena caracteristicamente rural, que associada a condies
precrias de vida, encontra no espao urbano ambiente favorvel para se estabelecer e se
desenvolver. Essa situao deve-se migrao do mosquito transmissor em funo do
desmatamento, que encontra no co domstico, um novo reservatrio (VIEIRA et al., 2007).
A evoluo espacial da leishmaniose mostrou que os casos caninos precederam os
humanos, confirmando a importncia do co como reservatrio da doena em reas urbanas e
a infeco em ces tem sido mais prevalente do que no homem em todo o pas
(BEVILACQUA et al., 2001). Estudos comprovaram a ocorrncia de infeco natural por
37
Leishmania em animais domsticos, procurando-se relacionar a presena dos animais
infectados com a ocorrncia da doena humana. FALQUETO et al. (1986) examinaram, no
perodo de trs semanas, 186 ces, dos quais 32 (17,2%) estavam parasitados. Durante um ano
surgiram, entre os moradores da rea analisada, 11 casos novos de leishmaniose. Observou-se
ntida relao entre a presena de ces infectados e a ocorrncia de novos casos humanos da
doena, supondo-se que a molstia esteja se comportando na rea como uma zoonose mantida
pelos ces domsticos.
Os sintomas da leishmaniose em ces so: feridas, emagrecimento, perda de pelo ao
redor dos olhos e no corpo, secreo ocular e unhas crescidas (VERONESI-FOCACCIA,
2010), como ilustrado na Figura 4, abaixo.
Figura 4: Aspectos Caractersticos da Leishmaniose em Ces.
Fonte: Veronesi-Focaccia., 2010.
No que se refere s medidas de controles de hospedeiros e reservatrios, o tratamento
de animais doentes no uma medida aceita para o controle da leishmaniose, pois poder
conduzir ao risco de selecionar parasitos resistentes s drogas utilizadas para o tratamento de
casos humanos, sendo a eutansia indicada aos animais que doentes evolurem para o
agravamento das leses cutneas, com surgimento de leses mucosas e infeces secundrias
que podero conduzir o animal ao sofrimento (BRASIL, 2007).
3.2 EPIDEMIOLOGIA
Considerada natural da regio do continente Americano, a leishmaniose uma
38
zoonose, mantida na natureza pelos animais silvestres, com a participao alternativa de
animais domsticos (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
uma patologia predominante em regies de clima quente e mido, geralmente
abaixo de 800 m de altitude, com exceo das regies andinas de pases tropicais, onde a
doena ocorre em reas de at 1.800 m. Ocorre, geralmente, em reas onde se processam
desmatamentos para colonizao de novas terras, construo de estradas, etc (VERONESI-
FOCACCIA, 2010).
Essa uma doena vetorial transmitida mundialmente e est distribuda nas diferentes
faixas etrias, porm ocorre com maior frequncia em crianas de at 10 anos (95%), sendo
46% dos casos registrados em menores de cinco anos. O sexo masculino proporcionalmente
o mais atingido (60,4%) (ELKHOURY, 2005).
Atualmente, a doena afeta 88 pases, onde considerada endmica5, e estima-se que
existam 12 milhes de pessoas infectadas e 200 milhes em reas de risco de contaminao
(DESJEUX, 2004).
Em relao ao quadro epidemiolgico, segundo dados do Ministrio da Sade (MS),
pode-se dizer que, atualmente no Brasil, a leishmaniose apresenta trs padres
epidemiolgicos caractersticos:
a) Silvestre Neste padro, a transmisso ocorre em rea de vegetao primaria e
fundamentalmente uma zoonose de animais silvestres que pode acometer o ser humano
quando este entra em contato com o ambiente silvestre, onde esteja ocorrendo enzootia6;
b) Ocupacional e Lazer Este padro de transmisso est associado explorao desordenada
da floresta e derrubada de matas para construo de estradas, usinas hidreltricas, instalao
5 Doena Endmica: Doena que persiste, geralmente em nveis semelhantes, ao longo dos anos, localizada em um
espao ou regio limitada, no atingindo nem se espalhando para outras comunidades. (MS, 2010)
6 Enzootia: Doena de animais peculiar a uma localidade ou constantemente presente nela.
39
de povoados, extrao de madeira, desenvolvimento de atividades agropecurias, de
treinamentos militares e ecoturismo; e
c) Rural e periurbano em reas de colonizao Este padro esta relacionado ao processo
migratrio, ocupao de encostas e aglomerados em centros urbanos associados a matas
secundarias ou residuais (BRASIL, 2010b).
Esse quadro epidemiolgico da leishmaniose foi definido a partir de vrias descobertas
sobre a participao de animais silvestres como reservatrios, hoje representado por um
complexo de espcies de Leishmania, animais reservatrios e insetos transmissores,
compondo o ciclo biolgico de transmisso dessa zoonose (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
3.2.1 TRANSMISSO
A ocorrncia da leishmaniose em uma determinada rea depende basicamente da
presena do vetor suscetvel e de um hospedeiro/reservatrio igualmente suscetvel. A
transmisso feita por mosquito flebotomneo (vetor) que se infecta ao picar o animal
portador do parasita (hospedeiro) e, ao picar o homem, transfere o parasita (SAMPAIO e
RIVITTI, 2000).
AGENTE ETIOLGICO
O agente etiolgico da leishmaniose o protozorio Leishmania, pertencente famlia
Trypanosomatidae, parasito intracelular obrigatrio das clulas do sistema fagoctico
mononuclear, com duas formas principais: uma flagelada ou promastigota, encontrada no tubo
digestivo do inseto vetor, e outra aflagelada ou amastigota, observada nos tecidos dos
hospedeiros vertebrados (Figura 5). Os agentes da leishmaniose completam seu ciclo
biolgico envolvendo, obrigatoriamente, os insetos hematfagos considerados hospedeiros
intermedirios (vetores) e os mamferos, que so os hospedeiros definitivos (reservatrios)
40
(VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Figura 5: Formas de Leishmania
Legenda: A) Leishmania Forma Flagelada ou Promastigota. B) Leishmania Forma Aflagelada ou Amastigota.
Fonte: BRASIL, 2007 Acesso em: 08/12/2011
No passado, a classificao de parasitas do gnero Leishmania, baseava-se em
observaes clnicas e epidemiolgicas, que variavam de acordo com as regies geogrficas.
A partir da dcada de 1960, passou-se a utilizar mtodos mais consistentes, tais como as
caractersticas de desenvolvimento dos parasitas em meios de cultura. Ultimamente, a
taxonomia7 tem recebido contribuies de novas tcnicas de imunologia e biologia molecular
para identificao de parasitas (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Atualmente, os protozorios do gnero Leishmania compreendem vrias espcies e
subespcies que so includas em quatro complexos: tropica, mexicana, braziliensis, que
incluem os agentes das leishmanioses tegumentares, e o complexo donovani, que abrange os
agentes da leishmaniose visceral (SAMPAIO E RIVITTI, 2000).
VETORES
Os vetores da leishmaniose so dpteros da famlia Psychodida, hematfagos
pertencentes aos gneros Phlebotomus, conhecidos popularmente como mosquito palha,
birigui ou tatuquiras, dependendo da localizao geogrfica, ilustrado na Figura 6, e com
vasta distribuio em regies de climas quentes e temperados (RATH et al., 2003).
7 Taxonomia: Ramo da biologia que estuda a classificao dos seres vivos.
A B
41
Figura 6: Mosquito Fmea Flebtomo.
Fonte: BRASIL, 2009b. Acesso em: 08/12/2011
Cerca de 500 espcies de flebotomneos ocorrem na regio Neotropical, a maioria sem
importncia na transmisso da leishmaniose, porm, pelo menos 35 espcies esto includas
na relao de provveis transmissores. Os flebotomneos so insetos de hbitos
preferencialmente noturnos, de modo que o risco maior de transmisso surge a partir do
anoitecer; no entanto, algumas espcies picam as pessoas durante o dia, no interior das
florestas (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
HOSPEDEIRO/RESERVATRIO
A leishmaniose uma infeco que pode envolver vrios reservatrios, geralmente
animais silvestres como preguia, tamandu, roedores e raposas, entre outros (RATH, 2003).
A doena, originalmente centrada no ambiente silvestre ou em pequenas localidades rurais,
passou a ser identificada tambm em centros urbanos, onde, dos animais domsticos, o co a
principal fonte de infeco para o vetor, podendo, inclusive, desenvolver os sintomas da
doena (VIEIRA et al., 2007)
CICLO BIOLGICO
As formas infectantes de Leishmania so transmitidas aos vetores pelos hospedeiros
infectados. O parasita se multiplica no trato digestivo dos vetores e sua transmisso se inicia
no momento em que o vetor faz a picada, inoculando-o na epiderme e derme de seus
42
hospedeiros, incluindo o homem (CROFT et al., 2006). No ocorre transmisso direta da
leishmaniose de pessoa a pessoa.
O ciclo evolutivo do hospedeiro e vetor encontra-se esquematizado na Figura 7.
Figura 7: Desenho Esquemtico do Ciclo Biolgico da LV.
Legenda: A) Hospedeiro Humano; B) Vetor (Flebtomos); C) Reservatrio.
Fonte: Adaptado de Veronesi-Focaccia, 2010.
O perodo de incubao bastante varivel tanto para o homem, como para o co. No
homem, em mdia, de dois a trs meses, podendo variar de 10 dias a 24 meses, e, no co,
varia de trs meses a vrios anos, com mdia de trs a sete meses (BRASIL, 2007 e BRASIL
2009b).
3.2.2 SINTOMAS E DIAGNSTICO
A apresentao clnica das leishmanioses exibe polimorfismo e o espectro de
43
gravidade dos sinais e sintomas tambm varivel, embora exista certa correspondncia entre
as diferentes formas clnicas da doena e os fatores relacionados com a espcie parasitria
(BRASIL, 2007).
Nos mamferos silvestres, os parasitas causam pouco ou nenhum efeito patolgico,
caracterizando uma relao de equilbrio entre parasita e hospedeiro. Outros hospedeiros,
como o homem e o co, reagem presena do invasor, resultando no aparecimento das leses
(VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Os sintomas variam de acordo com o tipo da leishmaniose. No caso da tegumentar,
surge uma pequena elevao avermelhada na pele que vai aumentando at se tornar uma
ferida que pode estar recoberta por crosta ou secreo purulenta. H tambm a possibilidade
de sua manifestao se dar atravs de leses inflamatrias no nariz ou na boca (mucosas)
(SAMPAIO e RIVITTI, 2000). Os pacientes que reagem infeco com adequada resposta
imune celular, que so a maioria, desenvolvem a leishmaniose cutnea localizada, restrita a
um ou mais stios primrios de inoculao do parasita. Naqueles com uma reposta imune
celular inadequada, surgem leses secundrias na pele e nas mucosas, caracterizando a forma
cutnea disseminada e a forma mucosa (VERONESI-FOCACCIA, 2010). Caso no tratadas,
as leses tendem cura espontnea em perodo de alguns meses a poucos anos, podendo
tambm permanecer ativas por vrios anos e coexistir com as leses mucosas de surgimento
posterior (BRASIL, 2007).
Na leishmaniose visceral, ocorre o aparecimento de febre irregular, anemia,
indisposio, palidez da pele e mucosas, perda de peso e inchao abdominal devido ao
aumento do fgado e do bao (SAMPAIO e RIVITTI, 2000). As caractersticas clnicas do
calazar so marcantes nas mais diferentes regies do mundo. Em geral, uma doena de
evoluo prolongada. Porm, a falta de especificidade dos sintomas iniciais, que em geral so
http://www.todabiologia.com/doencas/anemia.htm
44
tosse seca, diarria e febre irregular, acrescida ao nvel cultural insuficiente das populaes
nas reas endmicas, impossibilita precisar com exatido o incio da doena (CHAPPUIS et
al, 2007). comum os infectados permanecerem sem apresentar sintomas e h evidncias de
que o nmero de infeces assintomticas ultrapassa o de infeces sintomticas. Segundo a
Iniciativa de Medicamentos para Doenas Negligenciadas8 (DNDi) estima-se que apenas 30%
dos casos so notificados e que milhes de novas infeces a cada ano no sejam registradas
(DNDi, 2009).
O diagnstico inicial da doena baseado na avaliao clnica dos sintomas e o
histrico fornecido pelo paciente, o que se torna um problema devido a semelhanas com
outras doenas, ocasionando, muitas vezes, um diagnstico tardio. Como o caso do calazar,
que apresenta uma alta complexidade em se diagnosticar clinicamente, pois os primeiros
sintomas se parecem com os de outras doenas tropicais mais comuns, como a malria,
incluindo aumento do abdmen, inchao do bao e fgado, episdios de febre, diarreia e
anorexia (SAMPAIO e RIVITTI, 2000).
Para que o diagnstico seja confirmado precisamente, o paciente deve submeter-se a
exames laboratoriais. O diagnstico laboratorial da leishmaniose se constitui
fundamentalmente de trs grupos de exames: parasitolgicos, imunolgicos e moleculares.
Dentre eles, esto a observao direta dos parasitas no microscpio em amostras de linfa,
sangue ou de bipsias de bao. Essa ltima considerada a forma atual mais confivel de
diagnstico de leishmaniose visceral nos pases africanos, porm este procedimento
invasivo e pouco adaptado em reas remotas e sem uma estrutura mdica permanente (DNDi,
2009).
8 Iniciativa criada em 2003 pelos Mdicos Sem Fronteiras (MSF). uma entidade no governamental que atua de forma
global e em parcerias com governos, Organizaes No Governamentais (ONGs), fundaes, empresas farmacuticas
privadas ou pblicas com finalidade de promover pesquisas em drogas para tratamentos s doenas negligenciadas
(MAGALHES, 2010)
http://www.dndi.org.br/Portugues/leishmaniose.aspx
45
A utilizao de mtodos de diagnstico laboratorial visa no somente a confirmao
dos achados clnicos, mas pode fornecer importantes informaes epidemiolgicas, pela
identificao da espcie circulante, orientando quanto s medidas a serem adotadas para o
controle do agravo, sendo importantes antes do inicio do tratamento (BRASIL, 2010b).
O diagnstico laboratorial da doena canina semelhante ao realizado na doena
humana, podendo ser baseado no diagnstico parasitolgico ou sorolgico (BRASIL, 2010b).
3.2.3 PREVENO E TRATAMENTO
Uma das maneiras de controlar a leishmaniose atravs de uma preveno eficaz.
Entretanto, as tentativas de controle de vetores tm sido quase sempre infrutferas. Os
programas atuais envolvem a pulverizao de residncias com inseticidas residuais, atividades
de informao, educao e comunicao populao e a exterminao de ces. No entanto,
esta ltima tem se tornado uma medida cada vez mais impopular, com baixa adeso por parte
da comunidade, causando uma srie de obstculos sociais para a aplicabilidade do mtodo.
Algumas novas ideias parecem ser promissoras, como a utilizao de coleiras para ces
impregnados com inseticida e a vacina para ces (vide item 3.2.3.1 Vacinas) (DNDi, 2009).
J em relao ao cenrio atual do tratamento das leishmanioses no Brasil, este
apresenta caractersticas peculiares pela variedade dos contextos onde acontece a transmisso
para o homem. Esta diversidade estaria relacionada com as espcies do parasito, dos vetores,
dos reservatrios e dos ecossistemas (BRASIL, 2007).
Apesar dos avanos ocorridos nas ltimas trs dcadas, no que diz respeito ao
conhecimento da biologia celular e imunologia nas infeces por esses tipos de parasitas, o
seu tratamento ainda no foi aprimorado em iguais propores, visto que as preparaes de
antimnio ainda so as drogas de escolha na terapia de diversas formas de leishmaniose,
46
desde os ltimos 90 anos (TRIVELIN, 2003). Os medicamentos baseados em compostos
antimoniais pentavalentes (estibogluconato de sdio e antimoniato de meglumina) tm papel
fundamental na terapia mundial contra leishmaniose h mais de 70 anos. No entanto, o
tratamento doloroso, os medicamentos so injetveis e apresentam efeitos colaterais txicos,
podendo ser fatais, entre eles esto mialgias, dores abdominais, alteraes hepticas e
distrbios cardiolgicos. Alm disso, eles j no so eficazes em algumas partes da ndia
(MORAN et al., 2009).
A OMS preconiza que as doses mais altas de antimoniais no devem ultrapassar 20
mg/kg/dia, no ultrapassando o limite de 850 mg de antimnio, devido elevada toxicidade.
Sendo assim, devido s baixas dosagens e tratamentos descontnuos, comearam a ocorrer
falhas na terapia e consequente aumento das formas resistentes de parasitas (RATH et al.,
2003).
O tratamento da leishmaniose restringiu-se por mais de 70 anos utilizao do
antimonial pentavalente e, como alternativa, da anfotericina B. A dcada de 90 foi marcada
pela apario de novas drogas, alm da reformulao da anfotericina B. As trs grandes
inovaes consistem na miltefosina, a anfotericina B lipdica ou lipossomal e o
aminoglicosdeo paramomicina. Diversos estudos j foram realizados no Brasil e no mundo
permitindo-nos concluir a importncia destas novas drogas como sendo de primeira escolha
(RATH et al., 2003).
VACINA
As formas de profilaxia canina com coleiras impregnadas no oferecem muita garantia
e o tratamento canino com medicaes no eficaz, ocasionando, assim, o sacrifcio dos
animais para evitar que os mesmos representem um risco para os humanos. Porm,
recentemente foi desenvolvida uma vacina contra leishmaniose visceral canina, que vem
47
apresentando muitos resultados favorveis.
A Leishmune ou vacina FML-saponina constituda por fragmentos promastigotas
ou amastigotas de L. donovani, chamado de ligante fucose-manose (FML), e saponina e foi
desenvolvida nos ltimos 20 anos no Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) e demonstrou em vrios estudos eficincia em 95% dos casos contra a
doena em ces. Alm de evitar que o co desenvolva a leishmaniose, a vacina impede que o
mosquito transmissor, que entre em contato com o animal vacinado, venha a alojar o
protozorio e o retransmitir. Com isso, aquele inseto no mais infectar outros ces nem
humanos, interrompendo-se a cadeia de contaminao (SARAIVA et al., 2006). Segundo
PALATNIK-DE-SOUSA (2008): "A vacina um bloqueador da transmisso". Estudos
realizados entre 2004 e 2006 em Belo Horizonte - Minas Gerais e Araatuba - So Paulo,
demonstraram que houve reduo de at 60% da incidncia da doena em humanos depois da
vacinao massiva de ces na regio (PALATNIK-DE-SOUSA et al., 2009).
A vacina Leishmune
produzida atualmente pela Pfizer Ltda recebeu o aval definitivo
do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) (Portaria D.O.U. Seo I -
N 193, pg. 30 Ato n 10 de 03 de Outubro de 2011) tornando-se a primeira vacina registrada
contra a leishmaniose visceral canina do Brasil (UFRJ, 2012) tendo o pedido de patente
PI0902443-3 depositado no Brasil em 13/07/2009 (INPI, 2012), conforme demonstrada no
Anexo 1.
Apesar de ser uma enorme contribuio para a erradicao da leishmaniose visceral
canina, a vacinao deve ainda ser associada a outras medidas de controle, como combate ao
inseto vetor, com a aplicao de inseticida no ambiente e o uso de produtos repelentes no co.
48
3.2.4 DISTRIBUIO GEOGRFICA
A leishmaniose ocorre, predominantemente, em regies tropicais e subtropicais, no
entanto, sua presena foi detectada em todos os continentes, em ambientes quentes e midos
como o das florestas (tropicais e subtropicais) e at nas estepes e florestas temperadas do
Mediterrneo e da Rssia (COSTA, 2005).
NO MUNDO
Segundo a OMS, a leishmaniose ocorre em 72 pases em desenvolvimento e 13 pases
menos desenvolvidos. Desses, 90% dos casos de leishmaniose visceral so registrados em
Bangladesh, Brasil, Nepal, ndia e Sudo; 90% dos casos da leishmaniose tegumentar
americana de forma mucosa ocorrem no Brasil, Bolvia e Peru e 90% dos casos da
leishmaniose tegumentar americana de forma cutnea ocorrem no Afeganisto, Brasil, Ir,
Peru, Arbia Saudita e Sria, (TRIVELIN, 2003), sendo que no continente americano h
registro de casos desde o sul dos Estados Unidos ao norte da Argentina (DESJEUX, 2004).
Observa-se que em todas as diferentes formas de leishmaniose o Brasil sempre est entre os
pases com maiores incidncias.
Na Figura 8 abaixo, pode-se observar a distribuio geogrfica da LTA e LV no Velho
e Novo Mundo.
49
Figura 8: Distribuio Geogrfica da LV e LTA no Velho e Novo Mundo.
Fonte: Karunaweera, 2009
Alguns fatores influenciam no aumento da incidncia de leishmaniose no mundo,
como: o aumento da migrao na populao humana para reas endmicas, a mudana de
comportamento dos vetores e o aumento de reservatrios como o co. Alm disso, as
condies sanitrias e nutricionais da populao podem potencializar o impacto da
leishmaniose bem como sua taxa de mortalidade. Isso pode ser bem visualizado no caso do
surto de leishmaniose que acometeu o Sudo entre 1984-94 onde a m nutrio e as condies
precrias de vida foram responsveis por agravar os quadros da doena que vitimou 100.000
indivduos de uma populao de 300.000 pessoas (PITALUGA, 2007).
NO BRASIL
Nos ltimos anos, o MS registrou mdia anual de 35 mil novos casos de LTA no
Brasil. A incidncia de LTA no pas tem aumentado em praticamente todos os Estados
(Figura 9), principalmente nas regies nordeste e sudeste, que est em processo de
urbanizao e endemizao, sendo observada em algumas reas do Estado de So Paulo,
como no Vale do Ribeira e regio de Campinas (GOMES, 1992).
50
Figura 9: Distribuio Geogrfica da Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil.
Legenda: n de casos
Fonte: ELKHOURY e GOMES, 2008.
A LV considerada uma doena endmica no Brasil, com a ocorrncia de surtos com
alguma frequncia. Atualmente, essa endemia atinge vrios Estados brasileiros. At a dcada
de 1990, o Nordeste correspondia a 90% dos casos de LV do Pas. Porm, a doena vem se
expandindo para as regies Centro-Oeste, Sudeste e Norte, modificando esta situao (Figura
10). Em 2005, os Estados nordestinos passaram a representar 56% do total de casos. Tem-se
registrado em mdia cerca de 1.980 casos por ano (PITALUGA, 2007).
Figura 10: Distribuio Geogrfica da Leishmaniose Visceral no Brasil.
Legenda: n de casos.
Fonte: ELKHOURY e GOMES, 2008.
51
O intenso processo migratrio, as presses econmicas ou sociais, a pauperizao, o
processo de urbanizao crescente, o esvaziamento rural e as secas peridicas provocam
transformaes ambientais e a expanso das reas endmicas para leishmaniose, com o
surgimento de novos focos, levando a uma reduo do espao ecolgico da doena, que
facilita a ocorrncia de epidemias (ALVES, 2009).
3.3 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS
A importncia da leishmaniose na sade pblica levou a OMS a incluir a doena entre
as seis consideradas prioritrias em seu programa de controle. Segundo a OMS, o aumento na
incidncia da leishmaniose no mundo pode estar associado a fatores de risco como alteraes
ambientais, a urbanizao e a devastao das florestas. J os fatores de risco individuais so
HIV, desnutrio e fatores genticos.
Alm dos fatores de risco ambientais e individuais, j foi descrito anteriormente que as
condies nutricionais deficientes e a falta de saneamento bsico da populao podem elevar
o nmero de casos de leishmaniose. Em regies onde h ausncia de infraestrutura, observa-se
que maior o ndice de incidncia da doena, onde a precariedade das condies de vida nas
periferias das cidades propicia a ecloso de surtos epidmicos (COSTA, 2005). Somado a
estes fatores, existe a dificuldade de participao nas medidas de eliminao dos provveis
criadouros domiciliares (PONTES, 1992) e nos programas de educao, atividades de
informao e comunicao populao.
Sendo assim, no que diz respeito leishmaniose, grande a necessidade e o apoio em
pesquisa e desenvolvimento tecnolgico, em especial da indstria farmacutica, na produo
de medicamentos (terapia e preveno) e kits de diagnsticos mais eficazes. Nesse contexto,
os 193 Estados-membros da OMS assinaram um acordo, em Genebra, que originou a
52
Resoluo WHA 2007/60.13 da 60 Assembleia Mundial de Sade (AMS) de 21 de maio de
2007, para tentar controlar e deter o avano da leishmaniose, doena que infecta 2 milhes de
pessoas por ano (OMS, 2010). Apesar disso, estima-se que nas populaes dos pases em
desenvolvimento, cerca de 80% da populao mundial, respondem por apenas 20% das
vendas mundiais de remdios. Para essas pessoas, o desequilbrio entre suas necessidades e a
disponibilidade de remdios fatal. Cerca de 14 milhes de pessoas morrem a cada ano por
doenas infecciosas, que atingem principalmente a populao de pases em desenvolvimento.
Ainda assim, menos de 1% dos mais de 1300 novos medicamentos desenvolvidos nos ltimos
25 anos foram destinados a essas doenas (SMITH et al., 2001). Deve-se ressaltar que, em
virtude das deficincias no sistema de notificao das doenas transmissveis, os dados
estatsticos oficiais, principalmente em pases em desenvolvimento, no traduzem a realidade
e a assistncia mdica precria nas zonas rurais faz com que muitos doentes deixem que o mal
se cure espontaneamente, passando sem registro (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Consequentemente, as doenas tropicais fatais, que muitas vezes podem ser
prevenidas, tratveis e curveis continuam a assolar comunidades pobres nos pases em
desenvolvimento, devido, em grande parte, a falhas de polticas pblicas (MORAN et al.,
2009), sendo inseridas no contexto de doenas negligenciadas.
3.3.1 DOENAS NEGLIGENCIADAS
As doenas negligenciadas so assim denominadas porque afetam predominantemente
as populaes mais pobres e vulnerveis e os investimentos em pesquisa geralmente no so
revertidos em desenvolvimento e acesso a novos medicamentos, testes diagnsticos e medidas
de preveno e controle (BRASIL, 2010b). Visto que as atividades de P&D das indstrias
farmacuticas dependem do lucro, o retorno financeiro exigido dificilmente seria alcanado
53
no caso de doenas que atingem populaes marginalizadas e de baixa renda, localizadas, em
sua maioria, nos pases em desenvolvimento, como o caso das doenas negligenciadas
(TROUILLER, 2002).
O processo de determinao das doenas negligenciadas complexo e envolve fatores
que vo desde polticas sociais e econmicas, condies de vida at fatores genticos e
constitucionais (EHRENBERG, 2005). Sendo assim, recentemente, a OMS e os Mdicos Sem
Fronteiras (MSF) (2002) propuseram uma classificao das doenas em: doenas globais
(ocorrem em todo o mundo, como cncer e doenas cardiovasculares, e representam a maior
concentrao de esforos em P&D da indstria farmacutica), doenas negligenciadas (mais
prevalentes nos pases em desenvolvimento e despertam um mnimo interesse em P&D por
parte da indstria) e doenas extremamente negligenciadas (praticamente exclusivas dos
pases em desenvolvimento e esto quase totalmente excludas das atividades de P&D). Este
ltimo o grupo de doenas do qual faz parte a leishmaniose, juntamente com a doena do
sono e doena de Chagas (BEYRER, 2007).
No esquema da Figura 11, est demonstrada essa classificao das doenas segundo a
OMS (2010) e os MSF (2002), onde pode-se observar na zona cinza, a rea representada pelo
mercado farmacutico mundial. Vale ressaltar que a parcela da zona cinza que se encontra na
faixa isolada das doenas refere-se ao segmento da indstria farmacutica voltado para
esttica. Este segmento tem se tornado altamente lucrativo nos pases ricos (YAMEY, 2002).
54
Figura 11: Representao do Mercado Farmacutico Mundial.
Legenda: A) Doenas Globais, B) Doenas Negligenciadas, C) Doenas Extremamente Negligenciadas e Z) Mercado Farmacutico.
Fonte: YAMEY, 2002
A OMS estima que cerca de 1 bilho de pessoas estejam sofrendo de alguma doena
negligenciada no mundo. Segundo o DNDi (2009), as doenas negligenciadas e extremamente
negligenciadas tem sido progressivamente marginalizadas pelos programas de pesquisa tanto
do setor pblico quanto do privado, apesar do grande volume de trabalhos cientficos sendo
desenvolvidos nessa rea. Apesar de serem doenas tpicas de pases pobres e em
desenvolvimento, tem aumentado nos pases desenvolvidos, gerando um impacto devastador
sobre a humanidade (DNDi, 2009).
3.3.2 A COINFECO COM HIV
Nas duas ltimas dcadas, a leishmaniose apareceu no mundo de forma preocupante.
Isso por que, recentemente, a doena tem aumentado na populao mundial em virtude da
coinfeco por HIV (SHAW, 2007).
Na coinfeco leishmaniose - HIV, o protozorio possui um comportamento
oportunista em relao ao hospedeiro imunocomprometido. Em um estudo realizado na
Espanha, verificou-se que 57% dos pacientes foram infectados primeiramente pelo HIV e
posteriormente pela Leismania. Esses relatos tornaram-se, hoje em dia, a principal notificao
de casos de calazar na Europa, ou seja, em pacientes portadores de HIV (VERONESI-
55
FOCACCIA, 2010). Por outro lado, pacientes com leishmaniose so altamente susceptveis
infeco por HIV. Inmeras revises literrias afirmam a reativao pela Leishmania no
passado e que recidivou devido uma imunodepresso produzida por droga, vrus ou at
mesmo um transplante (OMS, 2010).
No Quadro 4 abaixo, observa-se um padro de comportamento dos agentes infectantes
durante a coinfeco HIV-leishmaniose.
Quadro 4: Comportamento da Leishmania e HIV durante a Coinfeco.
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da OMS (2010).
A sobreposio nas reas geogrficas de alto risco de HIV e leishmaniose est
aumentando devido disseminao da leishmaniose em reas urbanas e ao aumento da
propagao de HIV em reas rurais (OMS, 2010). Essa sobreposio nas diversas reas do
mundo est destacada na Figura 12 abaixo.
Figura 12: Mapa da Co-infeco Leishmaniose e HIV no Mundo.
Fonte: Albernaz, 2010
No Brasil, epidemias urbanas foram observadas em vrias cidades e a doena tem sido
56
verificada como infeco oportunista em pacientes com AIDS, semelhana do que se
observa no sul da Europa (BRASIL, 2009b).
Atualmente, estima-se que mais de 700 casos de coinfeco leishmaniose - HIV j
tenham sido documentados, sendo que em mais de 70% a manifestao da infeco pela
leishmaniose na forma visceral (VERONESI-FOCACCIA, 2010).
Na prxima seo ser apresentada toda a metodologia empregada para o alcance do
objetivo proposto neste estudo, a fim de analisar as atividades de C,T&I em Leishmaniose no
Brasil e no mundo.
57
4 METODOLOGIA
A pesquisa realizada no presente estudo fundamentou-se no uso de indicadores
bibliomtricos, especificamente os artigos cientficos e os documentos patentrios que
envolvam Leishmaniose. Sendo assim, a seo metodolgica do trabalho foi dividida
conforme demonstrado no fluxograma da Figura 13: Fluxograma da Metodologia.
Figura 13: Fluxograma da Metodologia.
Fonte: Elaborao Prpria
Observa-se que primeiramente foi feita uma consulta em banco de dados comerciais
(item 4.1), com a finalidade de buscar, identificar e recuperar os documentos pertinentes ao
tema do presente trabalho. Aps o levantamento bibliogrfico dos artigos cientficos (item
4.2) e dos documentos patentrios (item 4.3) foram realizados a compilao (item 4.4), a pr-
anlise (item 4.5) e o tratamento dos dados para anlise (item 4.6).
A seguir sero descritos, com detalhamento, como foi realizado o acesso e a utilizao
das bases de dados.
http://www.periodicos.capes.gov.br/
58
4.1 UTILIZAO DAS BASES DE DADOS
Anteriormente estratgia de busca propriamente dita, fez-se necessria a escolha de
bases de dados que apresentassem interfaces de simples utilizao, que fossem completas e
atualizadas e com possibilidade de otimizao do tratamento dos dados levantados, tal como a
gerao de planilhas e o acesso a resumos.
Dessa forma, foi escolhida uma base de dados para as bu