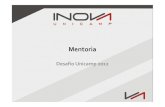mentoria
-
Upload
pablo-lucena -
Category
Documents
-
view
51 -
download
0
description
Transcript of mentoria
-
Mentoria S U M R I O
SUMRIO
ABERTURA .................................................................................................................................. 7APRESENTAO .......................................................................................................................................................................... 7
OBJETIVO E CONTEDO ......................................................................................................................................................... 7
BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................................. 9
PROFESSORA-AUTORA ........................................................................................................................................................... 10
MDULO 1 ATUAL AMBIENTE DE NEGCIOS ....................................................................... 11APRESENTAO ........................................................................................................................................................................ 11
UNIDADE 1 COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORNEO ...................................................... 11
1.1 SOCIEDADE AGRCOLA VERSUS SOCIEDADE INDUSTRIAL ............................................................................... 11
1.2 SOCIEDADE INDUSTRIAL ............................................................................................................................................... 12
1.3 SOCIEDADE DA INFORMAO E DO CONHECIMENTO ..................................................................................... 12
1.3.1 CRTICAS SOCIEDADE DA INFORMAO ......................................................................................................... 13
1.4 GLOBALIZAO NA SOCIEDADE DA INFORMAO ........................................................................................... 13
1.5 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 13
UNIDADE 2 MODELO DE DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 14
2.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO ........................................................................................................................ 14
2.1.1 DISTRIBUIO DE RENDA .......................................................................................................................................... 14
2.1.2 PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ONDAS ............................................................................................................ 14
2.2 DESEMPREGO ..................................................................................................................................................................... 15
2.2.1 IMPACTO DA TECNOLOGIA ....................................................................................................................................... 15
2.2.2 HOMEM VERSUS MQUINA ...................................................................................................................................... 16
2.2.3 SITUAO BRASILEIRA ................................................................................................................................................ 16
2.3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INTERPESSOAL ................................................................................................. 16
2.3.1 IMPACTOS DA INTERNET ............................................................................................................................................ 17
2.4 RELAES COM O AMBIENTE NATURAL ................................................................................................................. 17
2.4.1 VERTENTES DA ECOLOGIA ......................................................................................................................................... 18
2.4.2 COSMOGNESE E ANTROPOGNESE ..................................................................................................................... 18
2.4.3 COMPLEXIDADE DO SER HUMANO ....................................................................................................................... 19
2.5 ALGUMAS CONCLUSES .............................................................................................................................................. 19
2.6 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 20
UNIDADE 3 EMERGNCIA DE UM NOVO PARADIGMA .................................................................... 20
3.1 IDENTIDADE ........................................................................................................................................................................ 20
3.1.1 PS-MODERNIDADE .................................................................................................................................................... 20
3.1.2 IDENTIDADE E GLOBALIZAO ............................................................................................................................... 20
3.1.2.1 CONSEQNCIAS DA GLOBALIZAO .............................................................................................................. 21
3.2 VALORES EMERGENTES NO PS-MODERNISMO ................................................................................................. 21
3.2.1 PS-MODERNISMO E COTIDIANO .......................................................................................................................... 22
3.3 PARADIGMA AINDA VIGENTE ...................................................................................................................................... 22
3.4 CARACTERSTICAS DO NOVO PARADIGMA ............................................................................................................. 23
3.5 DISCIPLINAS DA APRENDIZAGEM .............................................................................................................................. 24
3.6 BASE DAS DISCIPLINAS DA APRENDIZAGEM ........................................................................................................ 24
3.7 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 25
-
MentoriaS U M R I O
UNIDADE 4 AMBIENTE DE NEGCIOS ............................................................................................. 25
4.1 CARACTERSTICAS DO AMBIENTE DE NEGCIOS ................................................................................................ 25
4.1.1 FALTA DE NITIDEZ NAS RELAES ......................................................................................................................... 25
4.2 IMPACTO NAS EMPRESAS .............................................................................................................................................. 26
4.2.1 VOLATILIDADE DO MUNDO DOS NEGCIOS ..................................................................................................... 26
4.2.2 TIPOS DE MUDANAS ................................................................................................................................................. 26
4.3 MUDANAS TECNOLGICAS ....................................................................................................................................... 27
4.3.1 ORGANIZAO VIRTUAL OU TELETRABALHO ................................................................................................... 27
4.3.2 NOVOS PRODUTOS E SERVIOS .............................................................................................................................. 28
4.4 DIMENSO HUMANA DAS MUDANAS .................................................................................................................. 28
4.4.1 COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 29
4.4.2 TICA .................................................................................................................................................................................. 29
4.5 MUDANAS ORGANIZACIONAIS ................................................................................................................................ 29
4.5.1 EXEMPLO .......................................................................................................................................................................... 30
4.5.2 ORGANIZAO DE APRENDIZAGEM ...................................................................................................................... 30
4.5.3 MODIFICAO DA VISO HIERRQUICA .............................................................................................................. 31
4.6 COMPETNCIA GLOBAL ................................................................................................................................................. 31
4.6.1 MENTALIDADE GLOBAL .............................................................................................................................................. 31
4.6.2 FOCO DO GESTOR ......................................................................................................................................................... 32
4.6.3 QUALIFICAO PROFISSIONAL ................................................................................................................................ 32
4.6.4 COMPETNCIAS ............................................................................................................................................................. 33
4.6.5 COMPETNCIAS GERENCIAIS .................................................................................................................................... 33
4.7 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 34
UNIDADE 5 CENRIOS CULTURAIS .................................................................................................. 34
MDULO 2 EXERCCIO DA MENTORIA COACHING ............................................................ 35APRESENTAO ........................................................................................................................................................................ 35
UNIDADE 1 ORIGEM E CONCEITOS .................................................................................................. 35
1.1 MENTORIA ........................................................................................................................................................................... 35
1.2 ORIGEM DO TERMO MENTORIA .................................................................................................................................. 36
1.3 CONCEITOS DA MENTORIA ........................................................................................................................................... 37
1.4 PRINCPIOS DA MENTORIA ............................................................................................................................................ 37
1.4.1 HABILIDADES DO MENTOR ....................................................................................................................................... 38
1.5 OUTROS PAPIS SOCIAIS ................................................................................................................................................ 39
1.6 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 40
UNIDADE 2 TIPOS E FASES DA MENTORIA ...................................................................................... 40
2.1 MENTORIA NATURAL ....................................................................................................................................................... 40
2.1.1 MENTOR NATURAL ........................................................................................................................................................ 40
2.1.1.1 EXEMPLOS .................................................................................................................................................................... 41
2.1.2 MENTORIA INTERNA E EXTERNA ............................................................................................................................. 41
2.1.3 FUNES DO MENTOR NATURAL ........................................................................................................................... 42
2.1.4 EXEMPLOS ........................................................................................................................................................................ 42
2.2 MENTORIA INTENCIONAL .............................................................................................................................................. 43
2.2.1 MENTOR E TIPOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................................... 44
2.2.2 EXEMPLO .......................................................................................................................................................................... 44
-
Mentoria S U M R I O
2.2.3 OUTRO EXEMPLO .......................................................................................................................................................... 44
2.3 COACHING .......................................................................................................................................................................... 45
2.4 COACHING NA EMPRESA ............................................................................................................................................... 45
2.4.1 COACH E MENTOR NATURAL .................................................................................................................................... 46
2.4.2 MENTORIA NATURAL E MENTORIA INTENCIONAL ........................................................................................... 46
2.5 FASES DA MENTORIA ...................................................................................................................................................... 47
2.6 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 47
UNIDADE 3 CONDIES PARA A MENTORIA .................................................................................. 48
3.1 CONDIO ORGANIZACIONAL ................................................................................................................................... 48
3.1.1 COMPARTILHAMENTO DE RESPOSTAS .................................................................................................................. 48
3.1.1.1 IMPACTO ........................................................................................................................................................................ 48
3.2 CONDIO INDIVIDUAL ................................................................................................................................................ 49
3.2.1 CONDIES INDIVIDUAIS DO MENTOR ............................................................................................................... 50
3.2.2 CONDIES INDIVIDUAIS DO MENTORADO ...................................................................................................... 50
3.3 CRTICAS MENTORIA .................................................................................................................................................... 51
3.4 VANTAGENS DA MENTORIA .......................................................................................................................................... 51
3.5 PODER COMPARTILHADO .............................................................................................................................................. 51
3.6 DICAS PARA O EXERCCIO DA MENTORIA ................................................................................................................ 53
3.7 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 54
UNIDADE 4 CENRIOS CULTURAIS .................................................................................................. 54
MDULO 3 VISES PARA A MENTORIA ................................................................................ 55APRESENTAO ........................................................................................................................................................................ 55
UNIDADE 1 VISO MECANICISTA .................................................................................................... 55
1.1 ORIGEM DA VISO MECANICISTA .............................................................................................................................. 55
1.1.1 EXEMPLO .......................................................................................................................................................................... 56
1.1.2 PRIMEIRA ORGANIZAO MECANICISTA .............................................................................................................. 56
1.1.3 REVOLUO INDUSTRIAL .......................................................................................................................................... 56
1.2 TEORIA DE MAX WEBER ................................................................................................................................................. 57
1.2.1 CONSEQUNCIAS .......................................................................................................................................................... 57
1.3 TEORIA CLSSICA DA ADMINISTRAO .................................................................................................................. 58
1.3.1 APLICAO NA EMPRESA ........................................................................................................................................... 58
1.4 TEORIA DA ADMINISTRAO CIENTFICA ............................................................................................................... 58
1.4.1 APLICAO NA EMPRESA ........................................................................................................................................... 59
1.5 ALGUMAS CRTICAS ......................................................................................................................................................... 60
1.6 ALGUMAS VANTAGENS .................................................................................................................................................. 60
1.7 ALGUMAS CONSEQUNCIAS ....................................................................................................................................... 61
1.8 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 61
UNIDADE 2 VISO SISTMICA ......................................................................................................... 61
2.1 ORIGEM DA VISO SISTMICA .................................................................................................................................... 61
2.1.1 EXEMPLO .......................................................................................................................................................................... 62
2.2 SISTEMA ............................................................................................................................................................................... 62
2.2.1 ABORDAGEM SISTMICA DA ADMINISTRAO ................................................................................................ 62
2.2.2 ORGANIZAO COMO SISTEMA ............................................................................................................................. 63
2.2.3 PROCESSOS ...................................................................................................................................................................... 64
-
MentoriaS U M R I O
2.3 CRTICA DA VISO SISTMICA ..................................................................................................................................... 64
2.3.1 VISO CLSSICA ............................................................................................................................................................ 64
2.4 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 65
UNIDADE 3 VISO DA COMPLEXIDADE .......................................................................................... 65
3.1 ORIGEM DA VISO DA COMPLEXIDADE .................................................................................................................. 65
3.1.1 NOVOS INSIGHTS .......................................................................................................................................................... 65
3.1.2 ESPAO DA MENTORIA ................................................................................................................................................ 66
3.1.3 EDUCAO ...................................................................................................................................................................... 66
3.2 PRINCPIOS DA TEORIA DA COMPLEXIDADE ......................................................................................................... 67
3.2.1 AMBIENTE EMPRESARIAL ........................................................................................................................................... 67
3.2.2 AINDA NO INTERIOR DA EMPRESA ......................................................................................................................... 68
3.3 COMPLEXIDADE ................................................................................................................................................................ 69
3.3.1 AMBIENTE DE NEGCIOS .......................................................................................................................................... 69
3.4 TEORIA DA COMPLEXIDADE E MENTORIA .............................................................................................................. 69
3.5 DIFERENAS ENTRE A VISO CLSSICA E A VISO DA COMPLEXIDADE ................................................... 70
3.6 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 71
UNIDADE 4 CENRIOS CULTURAIS .................................................................................................. 71
MDULO 4 APRENDIZAGEM NA MENTORIA ......................................................................... 73APRESENTAO ........................................................................................................................................................................ 73
UNIDADE 1 ORGANIZAES DE APRENDIZAGEM .......................................................................... 73
1.1 CONCEITUAO ................................................................................................................................................................ 73
1.2 DISCIPLINAS PARA A ORGANIZAO ........................................................................................................................ 74
1.3 MUDANA NAS ORGANIZAES ............................................................................................................................... 74
1.4 FONTES DE APRENDIZAGEM ....................................................................................................................................... 75
1.5 COMUNIDADE DE PRTICA .......................................................................................................................................... 75
1.5.1 SUBCOMUNIDADES ..................................................................................................................................................... 76
1.6 APRENDIZAGEM ................................................................................................................................................................ 76
1.6.1 EXPERINCIA E REFLEXO .......................................................................................................................................... 76
1.7 EXPECTATIVAS DA ORGANIZAO ............................................................................................................................. 77
1.8 IMPORTNCIA DA APRENDIZAGEM ........................................................................................................................... 77
1.9 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 78
UNIDADE 2 UNIVERSIDADE CORPORATIVA .................................................................................... 78
2.1 UNIVERSIDADE TRADICIONAL E CORPORATIVA .................................................................................................... 78
2.2 FUNCIONAMENTO CERTIFICAO E CORPO DOCENTE ................................................................................. 78
2.2.1 FUNCIONAMENTO ESPAO FSICO ..................................................................................................................... 79
2.2.2 FOCO .................................................................................................................................................................................. 79
2.2.3 PROGRAMA ...................................................................................................................................................................... 80
2.3 FORMAS DE APRENDIZAGEM ...................................................................................................................................... 80
2.4 CARTER DOUTRINRIO ................................................................................................................................................. 81
2.4.1 TREINAMENTO VERSUS CURSO CORPORATIVO ................................................................................................. 81
2.5 ARGUMENTOS A FAVOR ................................................................................................................................................. 81
2.5.1 OUTROS ARGUMENTOS .............................................................................................................................................. 82
2.5.2 MAIS ARGUMENTOS .................................................................................................................................................... 82
2.6 PARCERIAS POSSVEIS ..................................................................................................................................................... 83
-
Mentoria S U M R I O
2.7 ALGUNS CUIDADOS ........................................................................................................................................................ 83
2.8 PROPSITOS COMUNS ................................................................................................................................................... 83
2.8.1 TIPOS DE PARTICIPAO ............................................................................................................................................. 84
2.9 SNTESE ................................................................................................................................................................................ 84
UNIDADE 3 CENRIOS CULTURAIS .................................................................................................. 84
MDULO 5 ENCERRAMENTO ................................................................................................ 85APRESENTAO ........................................................................................................................................................................ 85
-
Mentoria A B E R T U R A
7
ABERTURA
APRESENTAO
No atual ambiente de negcios, as empresas, por necessitarem de agilidade, precisam poder
contar com pessoas competentes e motivadas, capazes de se comprometerem com os resultados
desejados. As empresas necessitam ainda modificar cada vez mais seu papel, deixando de ser
somente unidades de produo de bens e servios, para serem, sobretudo, espaos de
aprendizagem, onde as pessoas possam usar seus talentos tanto para se aperfeioar quanto para
participar do desenvolvimento da empresa. No Mentoria, trataremos dessas questes.
Ao optar por fazer o Mentoria, voc optou tambm por participar de um mtodo de ensino o
ensino a distncia. Dessa forma, voc ter bastante flexibilidade para realizar as atividades nele
previstas. Embora voc possa definir o tempo que ir dedicar a este trabalho, ele foi planejado
para ser concludo em um prazo determinado. Verifique sempre, no calendrio, o tempo de que
voc dispe para dar conta das atividades nele propostas. L, estaro agendadas todas as atividades,
inclusive aquelas a serem realizadas em equipe ou encaminhadas, em data previamente
determinada, ao Professor-Tutor.
OBJETIVO E CONTEDO
No Mentoria, refletiremos sobre o ambiente de negcios no mundo contemporneo, ressaltando
o papel da aprendizagem como processo o qual possibilita que as pessoas criem, inovem,
desenvolvam e experimentem novas formas de conhecimento, visando ao sucesso individual e
coletivo daqueles que atuam no mundo dos negcios.
Sob esse foco, o Mentoria foi estruturado em cinco mdulos, nos quais foi inserido o seguinte
contedo...
Mdulo 1 Atual ambiente de negcios
Neste mdulo, trataremos, a partir de uma viso histrica das sociedades agrcola,
industrial e da informao, do impacto que o modo de vida dessas sociedades exerceu
sobre o mundo do trabalho. Analisaremos ainda os fatores emergentes da era
tecnolgica, apontando as caractersticas da ps-modernidade e suas conseqncias
no mundo de negcios. Nesse contexto, trataremos das mudanas organizacionais,
enfatizando sua dimenso humana afetada pelo carter de no-permanncia que tem
marcado as relaes na empresa, as mudanas organizacionais e as competncias que
tal perspectiva exige do gestor.
-
MentoriaA B E R T U R A
8
Mdulo 2 Exerccio da mentoria coaching
Neste mdulo, alm de apresentarmos os diferentes conceitos de mentoria,
compararemos o papel do mentor a outros papis sociais que dele se aproximam.
Refletiremos ainda sobre as condies organizacionais e individuais necessrias
mentoria, bem como sobre as vantagens e desvantagens desse processo para a empresa.
Mdulo 3 Vises para a mentoria
Neste mdulo, discutiremos as teorias da administrao clssica e cientfica, refletindo
sobre o paradigma cartesiano e sua influncia no mundo do trabalho. Analisaremos a
origem e o conceito de viso sistmica, contrapondo-a viso mecanicista. Refletiremos
ainda sobre o conceito e os princpios da teoria da complexidade, e sobre a influncia
dessa teoria no ambiente de negcios.
Mdulo 4 Aprendizagem na mentoria
Neste mdulo, analisaremos a relevncia do desenvolvimento de pessoas como forma
de adquirir e manter as competncias que a empresa deseja. Iniciaremos apresentando
o conceito de organizaes de aprendizagem. Discutiremos ento o processo de
aprendizagem individual, examinando suas fontes e a importncia da reflexo.
Trataremos ainda das universidades corporativas, conceito contraposto aos tradicionais
treinamento e desenvolvimento. Alm disso, examinaremos as relaes que envolvem,
por um lado, a gesto do conhecimento e a gesto de competncias; e por outro, as
competncias individuais e a construo da competncia da empresa. Apresentaremos
tambm as aes para o desenvolvimento da mentoria, de modo a auxiliar o mentor a
desempenhar suas funes com sucesso.
Mdulo 5 Encerramento
Neste mdulo alm da avaliao deste trabalho , voc encontrar algumas divertidas
opes para testar seus conhecimentos sobre o contedo desenvolvido nos mdulos
anteriores: caa-palavras, jogo da memria, jogo da caa e jogo do labirinto. Entre neles
e bom trabalho!
-
Mentoria A B E R T U R A
9
BIBLIOGRAFIA
ALBOM, Mitch. A ltima grande lio: o sentido da vida. Rio de Janeiro: GMT, 1998.
Romance que trata de uma srie de encontros entre um velho professor e um de seus
alunos. Nesses encontros, os dois personagens discutem temas fundamentais para a
felicidade e a realizao humana.
BAUER, Ruben. Gesto da mudana: caos e complexidade nas organizaes. So Paulo: Atlas,
1999.
Ao fazer referncia a questes relacionadas s novas formas de gesto e organizao
nas empresas, esta obra trata, de forma bastante clara e em linguagem acessvel, de
temas como a Teoria do Caos; a autopoiesis, de Maturana e Varela, ou as estruturas
dissipativas de Prigogine.
BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Petrpolis: Vozes, 1999.
Boff, nesta obra, analisa uma antiga fbula a respeito do cuidado, aprofundando seus
desdobramentos para as vrias dimenses da vida pessoal e social, especialmente na
perspectiva da fase planetria e ecolgica da humanidade.
CAPRA, Fritjof. A teia da vida. So Paulo: Cultrix, 1997.
Nesta obra, Capra elabora uma sntese brilhante das descobertas cientficas recentes,
como a teoria da complexidade, a Teoria Gaia, a Teoria do Caos e outras explicaes das
propriedades dos organismos, sistemas sociais e ecossistemas.
FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA, Moacir de Miranda (Org.). Gesto estratgica do
conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competncias. So Paulo: Atlas, 2001.
Trata de processos, ferramentas e mesmo conceitos at ento introduzidos de forma
fragmentada nas organizaes. Essa viso integrada, conectada, vital para uma
compreenso da sinergia de importantes elementos aprendizagem, conhecimento
e competncias para a competitividade das organizaes, cujo sentido pode e deve
ser contemplado sob o ponto de vista de uma qualificada gesto estratgica de pessoas.
MARCONDES, Danilo. Iniciao histria da Filosofia. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997.
A base deste livro so as notas coligidas ao longo de mais de 15 anos dedicados ao
ensino da Filosofia. Respondendo a perguntas de seus alunos, o autor sistematizou as
informaes e elaborou, de forma extremamente metdica e acessvel, um panorama
de 2.500 anos de filosofia ocidental.
MORIN, Edgar. Cincia com conscincia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
Esta obra enfrenta um duplo desafio: apontar, por um lado, os problemas ticos e
morais da cincia contempornea, e, por outro, a necessidade epistemolgica de um
novo paradigma capaz de romper com os limites do determinismo e da simplificao,
alm de incorporar o acaso, a probabilidade e a incerteza como parmetros necessrios
compreenso da realidade.
-
MentoriaA B E R T U R A
10
PROFESSORA-AUTORA
Sylvia Constant Vergara doutora em Educao pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, mestre em Administrao pela Fundao
Getulio Vargas, administradora de empresas e pedagoga pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estgio na Beckman
High School New York. Professora titular da Escola Brasileira de
Administrao Pblica e de Empresas, da Fundao Getulio Vargas,
tambm pesquisadora, palestrante e consultora de organizaes privadas
e pblicas. autora dos livros Projetos e relatrios de pesquisas em administrao, Mtodos de
pesquisa em administrao, Mtodos de coleta de dados no campo e Gesto de pessoas, e
coorganizadora dos livros Gesto com pessoas e subjetividade e Educao com arte experincias
vividas de ensino-aprendizagem, todos publicados pela Editora Atlas.
-
Mentoria M D U L O 1
11
MDULO 1 ATUAL AMBIENTE DE NEGCIOS
APRESENTAO
Nos ltimos anos, as empresas vm mudando suas estratgias, redefinindo seus mercados,
repensando suas estruturas. Uma grande quantidade de livros publicada, alguns se tornando
best sellers, apresentando o que chamamos de modismos em administrao. Renomados
consultores internacionais pregam, eloquentemente, determinadas estratgias, para logo depois
se desdizerem. A mudana em si no caracterstica somente do mundo contemporneo
interfere no mundo dos negcios.
Neste mdulo, refletiremos ento sobre as caractersticas do ambiente de negcios face
complexidade do mundo contemporneo, identificando os impactos das mudanas sobre as
empresas.
Pretendemos ainda analisar algumas teorias e estratgias de valorizao do ser humano e da
natureza, vistos como uma totalidade orgnica, em permanente constituio e nascimento, ou
seja, como um cosmos em outras palavras, vamos procurar entender por que a complexidade
do mundo contemporneo afeta, diretamente, o mundo dos negcios.
UNIDADE 1 COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORNEO
1.1 SOCIEDADE AGRCOLA VERSUS SOCIEDADE INDUSTRIAL
No passado, a agricultura constitua a base da sociedade.
A sociedade agrcola tirava sua energia dos homens, dos animais, do sol, vento, gua...
A sociedade agrcola caracteriza-se pelo enraizamento das famlias, com forte unio de seus
membros, e pela reserva dos canais de comunicao a ricos e poderosos.
Embora possamos dizer que, h dois milnios, j existissem, tanto na antiga Grcia como em
Roma, embries do que seriam as fbricas, nada se poderia assemelhar ao que viria depois da
sociedade agrcola a sociedade industrial.
Como aponta Alvin Toffler...
O industrialismo trouxe chamins, linhas de montagem, colocou o trator na fazenda, a
mquina de escrever no escritrio, a geladeira na cozinha, produziu o jornal e o cinema, o
trem suburbano, o DC-3, o correio...
-
MentoriaM D U L O 1
12
A sociedade industrial tirava sua energia do carvo, do gs, do petrleo, dos combustveis fsseis...
Suas caractersticas so as relaes alteradas nas famlias, a educao em massa, os
canais de comunicao abertos, a separao entre produtor e consumidor, a
padronizao da organizao do trabalho, a especializao.
1.2 SOCIEDADE INDUSTRIAL
A sociedade industrial, construda com carvo, ferro, ao e eletricidade, construiu tambm uma
lgica de pensamento que privilegia a fragmentao, gerando o que Peter Drucker denomina de
viso bitolada.
Essa sociedade foi o palco iluminado para a burocracia uma forma de organizao do trabalho
que privilegia...
a diviso do trabalho, visando especializao; a hierarquia, percebida como propulsora da eficincia; a padronizao, que leva previsibilidade, inclusive do comportamento humano; a impessoalidade, pois, na burocracia, as regras existem para o cargo,
independentemente de quem o ocupe;
a meritocracia, uma vez que os membros das burocracias, sendo especialistastreinados, fazem carreira de acordo com seus mritos;
o administrador, que pode ser um profissional contratado para administrar e, nonecessariamente, o dono dos meios de produo;
o contrato, a carreira, o salrio e a aposentadoria.
1.3 SOCIEDADE DA INFORMAO E DO CONHECIMENTO
Se, no passado, tivemos as sociedades agrcola e industrial, hoje vivemos uma nova sociedade
a da informao e do conhecimento.
A sociedade da informao deu incio a movimentos interessantes, como a mudana
do eixo do poder dos msculos para a mente.
Alm disso, empreendeu a identificao do conhecimento como recurso prioritrio,
em detrimento da terra, do capital e do trabalho braal.
A sociedade da informao desnuda para ns a complexidade das relaes econmicas, polticas,
sociais, tecnolgicas, culturais e dos valores pessoais.
Faz ainda emergir o que Peter Drucker denomina sociedade do conhecimento, porque se organiza
em torno da aplicao dos conhecimentos de seus membros.
A viso bitolada era considerada por Ducker como a doena degenerativa
dos especialistas, com seu enfoque restrito e limitado.
-
Mentoria M D U L O 1
13
1.3.1 CRTICAS SOCIEDADE DA INFORMAO
claro que a era da informao e do conhecimento tambm tem seus problemas.
Um deles que o excesso de informao atrapalha, pois ainda no aprendemos a selecionar
aquela que realmente relevante.
Ainda h a considerar que uma informao s se torna conhecimento se h reflexo
sobre ela.
1.4 GLOBALIZAO NA SOCIEDADE DA INFORMAO
A informao viola as fronteiras geogrficas e revela o movimento de globalizao.
Temos ento a integrao do espao fsico, aliada acelerao do tempo e construo
de um sistema cada vez mais interdependente, envolvendo pases, estados, cidades,
organizaes, pessoas.
Nesse mundo de partes to interdependentes, confrontamo-nos, mais que nunca, com o alerta
de Ilya Prigogine...
Um leve bater de asas em Pequim pode vir a provocar um furaco na Califrnia.
Na sociedade da informao, os centros de deciso perpassam por continentes e pases, embalados
por negcios, movimentos de mercado e exigncias de reproduo de capital.
Acirra-se a competitividade, fazem-se parcerias, formam-se blocos econmicos, fortalecem-se
regionalismos, emergem postulaes tribais e desnudam-se paradoxos.
O mundo, afinal, tornou-se uma aldeia global, como prenunciava McLuham h cerca
de tantas dcadas, ou virou um grande emprio?
1.5 SNTESE
Acesse, no ambiente on-line, a sntese desta unidade.
Corporaes recrutam pessoas para trabalhar em qualquer parte do mundo
em que mantenham negcios. Cunhou-se, nas empresas, a expresso
expatriados. Fritjof Capra anunciou a morte do capitalismo e o nascimento de
uma economia sustentvel, graas ao surgimento de uma nova sociedade, unida
e em expanso, via internet.
-
MentoriaM D U L O 1
14
UNIDADE 2 MODELO DE DESENVOLVIMENTO
2.1 DESENVOLVIMENTO TECNOLGICO
Neste mundo de mudanas to rpidas, a grande estrela foi, sem dvida, a tecnologia...
celulares multifuncionais; automao bancria; cdigo de barras; engenharia gentica; robs e naves espaciais; msseis inteligentes; prospeco em guas profundas.
No h dvida de que a tecnologia tem facilitado nossas vidas, mas, por si, no tem sido capaz de
neutralizar, por exemplo, problemas como o da distribuio de renda.
2.1.1 DISTRIBUIO DE RENDA
O ndice de Desenvolvimento Humano IDH , criado pela Organizao das Naes Unidas,
mede o grau de desenvolvimento humano dos pases. Esse ndice composto por uma srie de
indicadores socioeconmicos...
expectativa de vida ao nascer; analfabetismo adulto; taxa de escolaridade; renda per capita.
O Relatrio de Desenvolvimento Humano publicado pela ONU, em 2007, afirma que...
...na ltima dcada, o IDH tem aumentado em todas as regies em desenvolvimento.
Em relao expectativa de vida, o Brasil ocupava, em 2002, a 79 posio, menor do
que a de pases como a Albnia, cujo PIB per capita inferior ao brasileiro.
2.1.2 PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA ONDAS
Em 2002, em entrevista a Isto Dinheiro, Alvin Toffler comenta que v o Brasil como trs pases
distintos, cada um com suas caractersticas especficas.
No primeiro que corresponderia 1 Onda , as pessoas trabalham como seus
ancestrais, ou seja, o processo o mesmo h centenas de anos. Produz-se o suficiente
para sobreviver.
Os mais altos postos pertecem Noruega, Austrlia e aos Estados Unidos,
e os mais baixos Republica Democrtica do Congo e ao Nger.
-
Mentoria M D U L O 1
15
No segundo 2 Onda , vivemos em uma economia industrial, em grandes cidades
urbanizadas e poludas, com rgidos horrios e nenhuma preocupao com o
conhecimento.
Em uma fatia menor, existe o Brasil, que ingressa na 3 Onda, em que as pessoas
trabalham por meio do conhecimento, usam computadores e valorizam as ideias.
2.2 DESEMPREGO
No caso do Brasil, a relao tecnologia-desemprego no muito evidente porque, ao contrrio
dos pases ditos desenvolvidos...
...ainda no chegamos a um estgio de desenvolvimento tecnolgico tal que possamos
abrir mo da tarefa realizada por pessoas.
De qualquer maneira, ns, que utilizamos servios bancrios, por exemplo, sabemos o que
dispensa de empregados.
Por outro lado, h oferta de emprego no preenchida, para pessoas que detenham
certas habilidades e que possuam tipos especiais, avanados, de informao.
2.2.1 IMPACTO DA TECNOLOGIA
Jos Pastore, ao comentar o impacto causado pela tecnologia, ressalta que a destruio de
empregos no setor bancrio...
... decorrente da introduo de novas tecnologias. Porm, isso foi, parcialmente,
compensado pela criao de trabalho em outros setores...
Houve um forte crescimento das atividades de crdito realizadas por instituies no
bancrias empresas comerciais, de carto de crdito, consrcios , assim como de
atividades conexas ao setor financeiro 'tradings, seguradoras e comrcio eletrnico.
A esperana de escapar da misria habilitar pessoas para que produzam
mais o que s vai acontecer com a difuso do conhecimento, ou seja, com
educao de qualidade.
Embora polmica, no podemos deixar de atrelar tecnologia outra questo
crucial... a do desemprego.
Ou seja, a tecnologia uma faca de dois gumes?
-
MentoriaM D U L O 1
16
2.2.2 HOMEM VERSUS MQUINA
Jeremy Rifkin alerta para o fato de que...
...estamos entrando em um novo perodo da Histria em que as mquinas, cada vez mais,
substituiro o trabalho humano na produo de bens e servios.
Embora no se possam determinar prazos, Rifkin ressalta que, neste sculo, chegaremos era das
organizaes sem trabalhadores, principalmente na rea da industrializao.
Apesar de as previses no serem favorveis aos trabalhadores, um grande grupo de
administradores acredita que a tecnologia tenha trazido uma grande contribuio com referncia
s modificaes na hierarquia das empresas.
Dessa forma, os empregados tm de estar habilitados para tomar uma srie de decises
antes reservadas ao topo da pirmide empresarial.
2.2.3 SITUAO BRASILEIRA
Na atualidade, aps a crise econmico-financeira que se espalhou por todo o mundo, o brasileiro
vem usufruindo de ofertas de emprego.
Tais vagas exigem pessoas qualificadas, o que requer educao, condio indispensvel para que
as empresas possam manter-se competitivas face aos avanos tecnolgicos.
A tecnologia vem provocando e contribuindo para o desenvolvimento de pessoas
mais qualificadas.
Nesse cenrio, a palavra treinamento deve ser substituda pela expresso aprendizagem
contnua para todos.
2.3 DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INTERPESSOAL
Alm do que podemos observar como descompasso entre gerao e distribuio de riquezas, o
elevado desenvolvimento tecnolgico convive, de certa forma, com um baixo desenvolvimento
pessoal e interpessoal.
Ao mesmo tempo em que podemos viajar a planetas vizinhos... mergulhar no universo
microscpico dos tomos... conversar, via internet, com pessoas do outro lado do
planeta... no temos sido capazes nem de nos conhecer, nem de lidar com diferenas
individuais.
Por que, no entanto, nem sempre essas vagas so preenchidas?
-
Mentoria M D U L O 1
17
A realidade virtual, com o advento de aparatos tecnolgicos, acrescentou um novo matiz ao
campo dos relacionamentos humanos os relacionamentos virtuais.
Mediadas por computadores, pessoas se conhecem sem jamais terem-se encontrado...
namoram sem nunca terem-se tocado.
Problemas de ordem social ou familiar podem ocorrer quando o usurio utiliza o computador
para manter esses relacionamentos virtuais, iniciando um conflito interno entre a realidade virtual
e o dia-a-dia.
2.3.1 IMPACTOS DA INTERNET
Para Nicolaci da Costa, no entanto, a rede tambm pode funcionar como meio de identificao
com o outro, e como fonte de pesquisa e informao sobre diferentes formas de viver, de sentir.
Isso ocorre porque, diante da tela, podemos at mesmo elaborar uma personagem,
com determinado tipo de comportamento e dotada de um corpo fsico que estaria
restrito fantasia, no fosse a virtualidade.
Os computadores dos dias de hoje, se no tm a capacidade humana de sentir, tm, ao menos, a
capacidade tambm muito humana de gerar uma ampla gama de sentimentos em seus
usurios...
...sentimentos negativos como os de raiva, desespero e impotncia perante a mquina
e sentimentos positivos como os de confiana, cumplicidade e companheirismo
em relao mquina.
O fato que no so poucos os relatos de pessoas que admitem ter estabelecido uma
relao de amizade e at mesmo de amor com seus computadores.
2.4 RELAES COM O AMBIENTE NATURAL
Leonardo Boff, ao comentar sobre os valores fundados na cooperao e na solidariedade, ressalta
o fato de o ser humano estar inaugurando, por meio de uma nova viso, uma nova tica de
comunho de todos com todos e com a Terra, com a natureza e seus ecossistemas...
Hoje nos encontramos em uma fase nova na humanidade. Todos estamos regressando
Casa Comum, Terra os povos, as sociedades, as culturas e as religies. Todos trocamos
informaes sobre experincias e valores. Todos nos enriquecemos e nos completamos
mutuamente...
Ou seja, fantasia e realidade se alimentam reciprocamente.
-
MentoriaM D U L O 1
18
2.4.1 VERTENTES DA ECOLOGIA
Para Boff, a ecologia pode ser classificada em quatro diferentes vertentes...
Ecologia ambiental...
Preocupa-se com o meio ambiente, com a qualidade de vida e com a preservao das
espcies em extino. V a natureza fora do ser humano e da sociedade.
Procura preservar o meio ambiente da destruio que o projeto industrialista mundial
lhe impe.
Ecologia social...
Preocupa-se com a insero do ser humano e da sociedade na natureza. Prioriza o
saneamento bsico, a rede escolar, e o servio de sade de qualidade. Entende o
desenvolvimento sustentvel como aquele que atende s carncias bsicas dos seres
humanos, sem sacrificar o capital natural da Terra.
O bem-estar no pode ser apenas social, mas tem de ser tambm sociocsmico
atender aos demais seres da natureza, como as guas, plantas, os animais e
microrganismos, pois todos juntos constituem a comunidade planetria na qual estamos
inseridos.
Ecologia mental ou profunda...
Sustenta que as causas do deficit da Terra no se encontram apenas no tipo de sociedade
que temos, mas na mentalidade que vigora, pois nela se iniciam os mecanismos que
nos levam guerra contra a Terra.
Para reverter esse tipo de mentalidade, necessrio resgatar a dimenso do feminino
no homem e na mulher. Pelo feminino, o ser humano se abre ao cuidado, sensibilizase
pela profundidade misteriosa da vida e recupera sua capacidade de maravilhamento.
O feminino ajuda a resgatar a dimenso do sagrado, que impe limites manipulao
do mundo, pois d origem venerao e ao respeito.
Ecologia Integral...
Parte de uma nova viso da Terra, inaugurada pelos astronautas. Eles veem a Terra de
fora dela, como um resplandecente planeta azul e branco que cabe na palma da mo.
Dessa perspectiva, a Terra e os seres humanos emergem como uma nica entidade.
2.4.2 COSMOGNESE E ANTROPOGNESE
Os cosmlogos nos advertem de que o universo inteiro se encontra em cosmognese, formando
um espao aberto capaz de novas aquisies e expresses.
Por isso, temos de ter pacincia com o processo global, uns com os outros e at
conosco, pois ns, humanos, estamos, igualmente, em processo de antropognese.
-
Mentoria M D U L O 1
19
Trs grandes emergncias ocorrem na cosmognese e antropognese...
a complexidade/diferenciao; a auto-organizao/conscincia; a religao/relao de tudo com tudo.
2.4.3 COMPLEXIDADE DO SER HUMANO
A partir de seu primeiro momento aps o Big-Bang , a evoluo est criando mais e mais seres
diferentes e complexos.
Quanto mais complexos, mais se auto-organizam, demonstrando maiores nveis de
interioridade e de conscincia, at chegarem conscincia reflexa no ser humano.
Quanto mais complexo e consciente, mais o ser humano se relaciona e se religa com
todas as coisas.
Dessa forma, faz com que o universo seja, realmente, uni-verso, totalidade orgnica, dinmica,
diversa e harmnica um cosmos.
2.5 ALGUMAS CONCLUSES
Ao refletirmos sobre economia, tica e ecologia como partes de um todo, parece que os vnculos
se mostram frgeis e que, de repente, vemo-nos diante de escolhas que polarizam...
competio/cooperao; dominao/parceria; quantidade/qualidade; expanso/conservao; controle da populao/direito vida; recesso econmica/consumismo exacerbado.
Isso nos remete s foras e fraquezas do modelo de desenvolvimento, ou seja...
distribuio desigual de renda; conscincia ecolgica crescente; escassez de recursos naturais; consumismo; desenvolvimento tecnolgico elevado; desenvolvimento pessoal e interpessoal baixo; aproximao tecnolgica, isolamento fsico; desemprego; oferta de emprego para pessoas detentoras de certas habilidades e certos
conhecimentos.
Apesar dos desequilbrios, vem crescendo a conscincia do estar no mundo, o que coloca em
evidncia um processo cujo entendimento fundamental para a compreenso da realidade...
-
MentoriaM D U L O 1
20
2.6 SNTESE
Acesse, no ambiente on-line, a sntese desta unidade.
UNIDADE 3 EMERGNCIA DE UM NOVO PARADIGMA
3.1 IDENTIDADE
Em meio a um contexto scio-histrico-poltico-econmico conturbado, como o atual, a questo
da identidade assume um carter problemtico e central.
Tal questo se manifesta em indagaes recorrentes, alimentadas por um mundo
fragmentado.
Os centros desses mundos apagam as margens e anulam as diferenas, constituindo o que temos
denominado ps-modernidade ou modernidade tardia.
3.1.1 PS-MODERNIDADE
A crise de identidade uma das caractersticas bsicas da ps-modernidade.
Alguns a consideram um prolongamento cronolgico da modernidade.
Outros negam a prpria modernidade, declarando, como Latour, que jamais fomos modernos, na
medida em que prevaleceram a fragmentao, o contingente, o inefvel, que o projeto de
modernidade procurou apagar.
Outros ainda denominam de ps-modernismo o sistema de valores que, diferentemente da nfase
exclusiva no crescimento econmico caracterstico da sociedade industrial moderna , valoriza
aspectos relacionados qualidade de vida.
3.1.2 IDENTIDADE E GLOBALIZAO
Curvello identifica a globalizao como fator determinante das profundas transformaes que
vivenciamos, na medida em que modifica os conceitos de fronteira territorial espao e as
noes de tempo.
Quem sou eu? Quem somos ns?
O conceito de ps-modernidade polmico.
Isso provoca um dilogo tenso entre o local e o global, a homogeneidade e a
diversidade, o real e o virtual, a ordem e o caos.
-
Mentoria M D U L O 1
21
Liderando ou sendo carregadas por essa nova onda, as organizaes passam por profundas
transformaes.
O antigo trip do conceito de organizao pessoas, estrutura e tecnologia entra em xeque...
...esses componentes no mais precisam abrigar-se sob um mesmo espao, nem operar
a um mesmo tempo para configurar uma organizao.
3.1.2.1 CONSEQNCIAS DA GLOBALIZAO
Como decorrncia da crescente informatizao dos processos administrativos fruto das novas
tecnologias para transmisso/recepo de dados , h o desaparecimento dos escritrios, a corroso
dos cargos, a ameaa aos empregos.
Esse cenrio provoca uma srie de reflexes sobre questes relacionadas identidade face
homogeneizao das relaes humanas.
Tal homogeneizao desconsidera os contextos locais em que as pessoas se inserem e a
diversidade que as constitui.
Curvello conclui ento que a aprendizagem e a qualificao pessoal e organizacional
passam a ser os processos de comunicao responsveis pelo crescimento das pessoas
e da empresa.
3.2 VALORES EMERGENTES NO PS-MODERNISMO
Os valores que emergem do ps-modernismo, cujos aspectos se relacionam qualidade de vida,
esto orientados para uma transformao pessoal, para um olhar para dentro de si mesmo.
O Programa de Valores e Estilos de Vida do Instituto de Pesquisa de Stanford chama-os
de valores voltados para o interior.
Dois so os grupos nos quais esses valores se inscrevem.
O primeiro diz respeito ao desejo de maior participao pessoal, expressa pelo exerccio
de direitos, deveres e responsabilidades.
O segundo est relacionado realizao do potencial humano.
Qual o futuro da dimenso humana nas organizaes?
Como reinserir as pessoas em espaos dos quais elas vm sendo expulsas?
As organizaes sobrevivem sem as pessoas?
Como, no mbito organizacional, ser possvel fazer aflorar a criatividade e a
inovao?
-
MentoriaM D U L O 1
22
Ambos nos remetem possibilidade de um mundo mais humanizado.
Se confrontarmos esses valores com o paradigma ainda reinante no mundo contemporneo,
verificaremos que no existe coerncia entre eles.
3.2.1 PS-MODERNISMO E COTIDIANO
A viso reducionista, fragmentada, tem de positivo o fato de nos permitir criar modelos, fazer
categorizaes e lidar, mais facilmente, com os elementos de nosso cotidiano.
Por outro lado, no entanto, a viso reducionista cria srios obstculos compreenso das mudanas
que hoje ocorrem no mundo, porque no considera as inter-relaes existentes.
O que, por exemplo, a crescente exigncia dos consumidores quanto qualidade dos
produtos e servios oferecidos tem a ver com a crescente conscincia poltica dos
empregados quanto a seus direitos e deveres?
O que ambos tm a ver com a autocracia que cai do pdio que tanto tempo a sustentou?
3.3 PARADIGMA AINDA VIGENTE
O paradigma ainda vigente pressupe que o universo que nos engloba seja uma grande mquina,
funcionando como um relgio.
Mecanicista e materialista em essncia, esse paradigma postula o domnio do homem-mquina
sobre a natureza e exige um crescimento material a ser conquistado mediante um crescimento
econmico e tecnolgico.
Baseado no modelo analtico da Fsica clssica de Newton, que pressupe a quantificao e a
fragmentao, procura explicar o todo a partir da descrio das partes que o compem.
Capra avalia que tal paradigma j nos tenha dado amostras de esgotamento, por ser
incapaz de solucionar inmeros problemas bsicos e existenciais.
O paradigma reinante argumenta que os fenmenos s podem ser
compreendidos se forem reduzidos a seus componentes bsicos, ou seja, se
forem decompostos em partes.
Essas e outras questes afloram, atualmente.
-
Mentoria M D U L O 1
23
A sobrevivncia humana s ser possvel se substituirmos essa viso fragmentada por uma
perspectiva holstica, fraterna, que agregue, por um lado, os seres humanos entre si e, por outro,
homem e natureza, vistos como uma entidade nica, como um sistema aberto, em permanente
processo de constituio e nascimento.
3.4 CARACTERSTICAS DO NOVO PARADIGMA
A convivncia com a mudana no ambiente organizacional virou rotina. possvel identificar uma
busca incessante em manter alguma ordem face ao caos em que as organizaes se transformaram.
preciso mudar.
Se levarmos em conta que a Administrao mesmo em relao s Cincias Humanas ocupa
um espao cujas fronteiras so pouco definidas, interessante refletirmos sobre o que nos dizem
outras reas do saber, em particular, a Fsica Quntica, porque elas nos apontam um novo paradigma.
Esse novo paradigma se caracteriza pelo crescimento...
da exigncia dos consumidores; da conscincia poltica dos empregados; da participao feminina; da desvalorizao da autocracia; do envelhecimento das populaes; de mudanas em estilos de vida; da valorizao do ser humano.
Por outro lado, importante refletir tambm sobre o que nos dizem
estudiosos da Administrao, j que eles ocupam papel relevante na orientao
dos gestores.
-
MentoriaM D U L O 1
24
3.5 DISCIPLINAS DA APRENDIZAGEM
Segundo Peter Senge, a raiz da inovao no est na observao ou na repetio das melhores
prticas, como tem estado na moda. Essa estratgia no leva a uma aprendizagem real, pois...
...aprender no absorver ou copiar uma informao, mas perceber o que nos exige
dominar as cinco disciplinas...
Maestria pessoal...
Abertura do esprito vida com uma atitude criativa e no reativa.
Modelos mentais...
Necessidade da existncia de valores e princpios.
Viso partilhada...
Cocriao e viso da empresa partilhada por todos, dando foco e coerncia s diversas
atividades.
Aprendizagem em grupo...
Desenvolvimento de inteligncia e capacidade maiores do que a soma dos talentos
individuais, tomando como leis da equipe o dilogo e a discusso.
Pensamento sistmico...
Capacidade de estabelecer relaes, considerando que tudo est interligado e que as
organizaes so sistemas complexos.
3.6 BASE DAS DISCIPLINAS DA APRENDIZAGEM
As profundas teorias que as fundamentam, lembra Senge, baseiam-se em conhecimentos que
remontam a centenas de anos...
Dou-lhe mais um exemplo a ideia bsica da aprendizagem em grupo envolve a prtica
do dilogo, que tem seu bero no 'di lgos' grego, que significa, literalmente, corrente de
ideias, ou seja, aquilo que se cria quando um grupo de pessoas fala entre si, de tal modo
que h um fluxo de ideias entre elas.
Nas organizaes de aprendizagem, segundo Senge, o papel dos lderes difere, radicalmente, de
tomar decises.
Os lderes das organizaes tm a responsabilidade de ampliar a capacidade de as
pessoas moldarem o futuro, ou seja, de ampliarem seu prprio aprendizado.
Cada uma das disciplinas de Senge representa um corpo significativo de
teoria e mtodos de gesto.
-
Mentoria M D U L O 1
25
Cada pessoa desenvolve novos conhecimentos e, ao coloc-los em prtica, contribuipara o crescimento do grupo.
3.7 SNTESE
Acesse, no ambiente on-line, a sntese desta unidade.
UNIDADE 4 AMBIENTE DE NEGCIOS
4.1 CARACTERSTICAS DO AMBIENTE DE NEGCIOS
A primeira dessas mudanas diz respeito emergncia de uma sociedade baseada na informao
e no conhecimento, o que se manifesta sob a forma de acelerado desenvolvimento tecnolgico.
A segunda refere-se ao processo de globalizao, que viola a noo de mercados domsticos,derrubando as fronteiras geogrficas que, durante sculos, representaram limites para as transaes
comerciais.
Apoiada nos avanos da teleinformtica, a comercializao de bens e servios supera
os obstculos da distncia.
Ao mesmo tempo em que verificamos acirrada competio de base global, identificamos,contraditoriamente, no ambiente de negcios, ntido movimento de cooperao, com o
estabelecimento de parcerias e alianas que configuram novas relaes entre pases e empresas,bem como entre elas e seus concorrentes e fornecedores.
4.1.1 FALTA DE NITIDEZ NAS RELAES
Motivadas por ameaas comuns ou pela necessidade de reduzir custos operacionais, as relaestornam pouco ntidas as fronteiras que, tradicionalmente, definiram os limites das empresas.
Paralelamente, o consumidor est cada vez mais afastado das pessoas, j que cabe s
mquinas a intermediao entre ele e a empresa, seja pela internet, seja em caixaseletrnicos, por exemplo.
De qualquer forma, o consumidor quer ser atendido em seus mnimos desejos,
manifestando elevado nvel de exigncia em relao qualidade dos produtos eservios oferecidos.
Essa exigncia se deve no s maior possibilidade de escolhas, como tambm ao poder crescente
dos consumidores de fazerem valer seus direitos.
a questo da cidadania de que tanto falamos!
Tomando como referncia algumas das mudanas que vm acontecendo
em escala global, possvel identificarmos a teia que essas mudanas tecem no
ambiente de negcios em que as empresas atuam.
-
MentoriaM D U L O 1
26
4.2 IMPACTO NAS EMPRESAS
Perceber as organizaes como seres vivos hoje uma tendncia do mundo de negcios.
Tal viso se contrape ideia tradicional de que a empresa uma mquina de fazer dinheiro e,
portanto, incapaz de criar seus prprios processos, de ter sua prpria identidade, de agir de forma
autnoma.
Se olharmos a empresa como mquina, os princpios so outros...
Sua identidade lhe imposta pela gesto, enquanto seus membros so considerados
recursos dos quais a organizao dispe, de acordo com seus interesses, e no uma
comunidade humana de trabalho.
Tomar a empresa como sistema vivo vai implicar modificaes na valorizao do capital humano.
Por outro lado, por no serem entidades isoladas mas, ao contrrio, estarem em interao
dinmica com o ambiente em que se encontram , cabe investigar as mudanas pelas quais as
empresas vm passando como decorrncia do ambiente de negcios em que atuam.
4.2.1 VOLATILIDADE DO MUNDO DOS NEGCIOS
A volatilidade sem precedentes, caracterstica do mundo de negcios globalizado, tem obrigado
as empresas a responderem, rapidamente, s circunstncias sempre mutantes do mercado. Elas
no sabem mais...
...quais sero seus concorrentes amanh...
...qual ser a taxa de cmbio no ms subsequente...
...que nova tecnologia poder tornar obsoleta metade de sua linha de produo ou
sistema de distribuio...
Nesse sentido, a volatilidade acarreta, como consequncia, a necessidade de estratgias de
capacitao profissional e novas formas de organizao que possibilitem empresa vencer os
desafios e alcanar os objetivos pretendidos.
4.2.2 TIPOS DE MUDANAS
Apenas para efeito de ordenao de ideias, as mudanas decorrentes do ambiente em que as
empresas atuam podem ser divididas em trs reas tecnolgica, humana e organizacional.
Trata-se de uma diviso meramente didtica, que no pretende negligenciar o carter
de interdependncia que existe entre elas.
-
Mentoria M D U L O 1
27
4.3 MUDANAS TECNOLGICAS
A tecnologia traz impactos profundos sobre o ambiente de negcios.
Ela se expressa nas formas de organizao do trabalho, nos fluxos de tarefas e na exigncia de
novas habilidades por parte dos empregados.
Por vezes, faz-se presente sob a forma de equipamentos ou de processos que dispensam
a presena do trabalhador, como podemos observar em inmeros casos de automao
e de informatizao.
Se considerada separadamente, a tecnologia da informao que conta com os avanos da
microeletrnica e das telecomunicaes promove enorme impacto no fluxo e no tratamento
das informaes.
A tecnologia da informao possibilita, alm da rapidez, melhorias substanciais no
fluxo das informaes.
Entretanto, ela ainda no garante melhor desempenho, nem no que tange comunicao, que
continua a ser o maior problema das empresas, nem no que diz respeito tomada de deciso, que
envolve aspectos tcnicos, polticos, organizacionais e psicolgicos.
4.3.1 ORGANIZAO VIRTUAL OU TELETRABALHO
A tecnologia traz a oportunidade do que convencionamos chamar organizao virtual ou
teletrabalho. Pessoas podem ter seu escritrio em casa, ligando-se s empresas por meios
eletrnicos.
Sem dvida, isso muda as relaes de trabalho e conceitos to caros administrao,
como o de controle e o de subordinao.
As empresas precisam ento aprender a trabalhar com parceiros e a controlar no mais
pessoas e seu tempo, mas resultados.
Na IBM, por exemplo, quando o teletrabalhador recebe seu material para o trabalho
domiciliar, recebe tambm uma carta do teletrabalhador...
Pensar o papel do trabalho humano na organizao uma reflexo que no
podemos deixar de fazer.
-
MentoriaM D U L O 1
28
A organizao virtual ou teletrabalho fruto da influncia das novas tecnologias na forma de
organizao do trabalho requer que os funcionrios busquem estratgias de socializao e de
competio compatveis com o distanciamento fsico caracterstico desse tipo de organizao...
...ao mesmo tempo em que necessitam desenvolver habilidades tcnicas e tipos de
competncia especficos, tais como gerenciamento do tempo e autoconfiana.
Trata-se de um documento em que esto explcitos os vnculos com a organizao, as metas a
serem alcanadas, os deveres e direitos.
Tal procedimento visa estabelecer uma nova forma de dilogo em funo das condies
de trabalho, diferentes das de uma empresa tradicional, dado o distanciamento fsico
da sede da organizao e de seus outros membros.
4.3.2 NOVOS PRODUTOS E SERVIOS
Alm das novas formas de trabalho, as mudanas de natureza tecnolgica viabilizam novos tipos
de produtos e servios, que passam a ter em comum elevado grau de diferenciao.
Nos casos em que a tecnologia deixa de ser considerada um diferencial, a nfase desloca-se para
os servios agregados.
Mesmo os bens tangveis passam a ser vistos como um pacote de servios, de cuja
quantidade e qualidade dependem a conquista e a manuteno dos clientes.
4.4 DIMENSO HUMANA DAS MUDANAS
Referindo-se a uma mudana no tipo de perguntas que lhe faziam nos seminrios que realizava,
Peter Drucker mencionou que antes as pessoas costumavam lhe perguntar...
Contudo, agora elas indagam...
O que eu preciso aprender que me possa ajudar, onde quer que eu venha a trabalhar?
Por trs dessa mudana, possvel identificar o carter de no-permanncia que est marcando
as relaes empregador/empregado.
Se as mudanas de ordem tecnolgica que verificamos nas empresas se
revelam nas novas formas de trabalho, no fluxo e no tratamento das informaes,
na individualizao de produtos e na nfase em servios adicionais, o que pode
ser atribudo dimenso humana?
Como posso preparar-me para a prxima promoo?
-
Mentoria M D U L O 1
29
Antes as relaes giravam em torno de um pacto psicolgico no qual, de um lado, oferecia-se
bom salrio, benefcios e garantia de emprego; de outro, exigia-se lealdade, assiduidade e
pontualidade. Hoje elas so bem diferentes.
4.4.1 COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES
Nas atuais relaes de trabalho, o paternalismo d lugar ao compartilhamento de responsabilidades.
Dessa forma, espera-se, por um lado, que as empresas ofeream oportunidades para o
desenvolvimento de seus empregados e parceiros; por outro, que os empregados e
parceiros cuidem de suas prprias carreiras e se comprometam com os resultados.
A esse novo pacto empresas/empregados/parceiros podem ser somadas as expectativas
provenientes de valores emergentes da sociedade o desejo de maior participao e a busca de
autorrealizao.
4.4.2 TICA
Outro aspecto das mudanas de natureza humana diz respeito tica, que passa a ser exigida no
ambiente de negcios e no interior de cada empresa.
Se confiana e tica so pilares fundamentais nas relaes entre fornecedores e concorrentes,
no poderia ser diferente dentro da empresa.
As crescentes demandas da sociedade por decises e aes empresariais responsveis
relacionam-se a posicionamentos ticos no nvel individual.
Sobre essa questo, Vogt ressalta que...
No af do utilitarismo prtico que tudo converte em valor econmico, tal qual um Rei Midas
que na lenda tudo transforma em ouro pelo simples toque, no percamos de vista os
fundamentos ticos, estticos e sociais, sobre os quais se assenta a prpria possibilidade
do conhecimento e de seus avanos.
Verdade, beleza e bondade no mnimo do ao homem, como j se escreveu, a iluso de
que, por elas, ele escapa da prpria escravido humana.
4.5 MUDANAS ORGANIZACIONAIS
Novas estruturas organizacionais tm surgido. Elas tornam bem mais frgil a tradicional pirmide
hierrquica e, dessa forma, reduzem barreiras tanto as que separam a empresa de seu ambiente,
quanto as que delimitam suas reas internas.
Logo, ganha destaque a reduo dos nveis hierrquicos pela horizontalizao das
estruturas e pela adoo de estruturas em rede.
-
MentoriaM D U L O 1
30
Verificamos ainda...
a nfase em equipes multifuncionais com elevado grau de autonomia equipesautogerenciadas;
o esforo para levar a deciso para cada vez mais perto do cliente; o exerccio da capacitao das pessoas dentro das empresas; o compartilhamento do poder; a ampliao do conceito de delegao; a expectativa de que viso e ao estratgica que, praticamente, sempre estiveram
restritas alta direo faam hoje parte do cotidiano de todas as pessoas na
empresa, medida que elas se orientem para resultados pretendidos e para tarefas
que adicionem valor ao que produzido.
4.5.1 EXEMPLO
Um homem foi visitar uma empresa.
Para entrar, tinha, necessariamente, de passar por um jardim.
Era lindo.
Viu o jardineiro, abaixado, cuidando das plantas.
No resistiu e lhe perguntou...
voc quem cuida do jardim? Parabns! Ele est lindo!
Ah! Obrigado, que sou um homem de marketing.
De marketing?
. Por onde as pessoas passam primeiro? Qual o carto de visitas da empresa? Ento, eu
sou um homem de marketing.
Sem dvida. Ele era um homem de marketing.
4.5.2 ORGANIZAO DE APRENDIZAGEM
Atuem ou no fora das fronteiras geogrficas de seus pases, seus estados ou suas cidades, as
empresas so afetadas pela globalizao da economia; esto sujeitas, de qualquer modo, aos
movimentos de competidores estrangeiros.
Outro ponto que merece nossa reflexo que, como resultado das
mudanas no mundo, as empresas se veem s voltas com a necessidade de se
orientar para o mercado global.
-
Mentoria M D U L O 1
31
Em um ambiente no qual a administrao da mudana inclui a necessidade de administrar surpresas,
as organizaes, frequentemente, veem-se diante da necessidade de aprender com seus prprios
erros.
Essa capacidade de aprender continuamente tem identificado muitas empresas com o
que se convencionou chamar de learning organization organizao de aprendizagem.
4.5.3 MODIFICAO DA VISO HIERRQUICA
A viso produtiva do erro como possibilidade de aprendizado amplia o conceito de organizao.
Isso ocorre porque cada integrante e no apenas o lder ou o gestor passa a ser responsvel
pela criao de uma nova realidade, questionando padres arraigados que impeam o bom
desempenho.
A viso hierrquica dentro da organizao se modifica.
As pessoas aprendem a aprender de forma criativa, inovadora e crtica, questionando o
que fazem, como e por qu, contribuindo para o crescimento do grupo.
4.6 COMPETNCIA GLOBAL
Admitimos a necessidade de adaptao das empresas em resposta s mudanas no
ambiente de negcios.
No entanto, nem sempre, reconhecemos a necessidade de novas competncias
profissionais.
como se as empresas flexveis, adaptveis s mudanas, socialmente responsveis e
comprometidas com a aprendizagem, pudessem prescindir de pessoas com idnticas
caractersticas.
Ao discutir os reflexos da atuao das empresas em um mercado global sobre o processo de
desenvolvimento de gerentes, Rhinesmith prope um ciclo de aprendizado de competncia
global, no qual relaciona mentalidade, caracterstica pessoal e competncia.
4.6.1 MENTALIDADE GLOBAL
Para Rhinesmith, pessoas de mentalidade global so as que...
investem na imagem mais ampla, aceitando a vida como um equilbrio de forascontraditrias que devem ser apreciadas, ponderadas e geridas;
confiam no processo, a fim de lidar com o inesperado, ao invs de confiarem naestrutura;
Aprender com o erro?
-
MentoriaM D U L O 1
32
do valor diversidade e ao trabalho em equipes multiculturais, como o frumbsico dentro do qual realizam objetivos pessoais e organizacionais;
veem as mudanas como oportunidades; sentem-se vontade com surpresas e ambiguidade; buscam, continuamente, estar abertas a si mesmas e aos demais; repensam limites e encontram novos significados, mudando sua direo e conduta.
4.6.2 FOCO DO GESTOR
O gestor deve identificar as foras contraditrias, enfatizando o processo e no a estrutura,
valorizando a diversidade e o trabalho de equipes multifuncionais.
Enfim, deve manter uma viso sistmica da organizao do ambiente.
Essa competncia lhe dar condies de aceitar a mudana como oportunidade de crescimento,
o que permite que reoriente sua conduta e direo sempre que necessrio.
4.6.3 QUALIFICAO PROFISSIONAL
Segundo Rhinesmith, um gestor de empresas, para o desempenho eficaz de suas funes, deve
possuir os seguintes atributos...
Sensibilidade...
Caracterstica necessria para que o gestor possa lidar com as diferenas individuais
presentes nas equipes. Para isso, importante no s estar integrado e ser
emocionalmente estvel como tambm estar aberto a outros pontos de vista e
predisposto a questionar suposies, valores e convices.
Julgamento...
Caracterstica associada qualidade de lidar com as incertezas cada vez mais presentes
nas decises gerenciais.
Reflexo...
Oferece a perspectiva necessria s exigncias de um aprendizado contnuo.
Conceituao...
Diz respeito capacidade intrnseca ao pensamento abstrato, que permite lidar com a
complexidade das organizaes atuais, e que deve se manifestar em formas de pensar
simultaneamente especializada e holstica, conciliando anlise e sntese.
Conhecimento...
Atributo que permite enfrentar o processo competitivo; precisa ser amplo e profundo,
cobrindo os diferentes aspectos do negcio.
-
Mentoria M D U L O 1
33
Flexibilidade...
Habilidade necessria para o enfrentamento de situes de mudanas abruptas do
ambiente, levando ao gerenciamento de processos e no formulao de regras de
procedimento.
4.6.4 COMPETNCIAS
Rhinesmith conceitua competncia como...
...uma capacidade especfica de executar a ao em um nvel de habilidade que seja
suficiente para alcanar o efeito desejado.
Uma competncia desenvolvida pelo fluxo constante entre mentalidade, prtica e tarefa.
Portanto, mentalidade no competncia. Na verdade, uma competncia s se estabelece quando
a mentalidade transformada em comportamento.
Da mesma forma, caracterstica no competncia. Uma pessoa pode ser sensvel para lidar com
diferenas individuais e, no entanto, no aplicar essa sensibilidade no trabalho em equipe.
A sensibilidade transforma-se em competncia gerencial quando o gestor a usa para conhecer a
si e aos outros, bem como para criar, desenvolver e manter equipes de trabalho.
Segundo Erich Hoffer...
Em uma poca de mudanas dramticas, so os que tm capacidade de aprender que
herdam o futuro. Quanto aos que j aprenderam, estes se descobrem equipados para
viver em um mundo que no existe mais.
4.6.5 COMPETNCIAS GERENCIAIS
Rhinesmith elenca seis competncias necessrias ao fazer da gesto. So elas...
Gesto da competitividade...
Refere-se capacidade de coletar e utilizar informaes acerca tanto de pessoas,
capital e tecnologia, quanto de fornecedores, processos e oportunidades de mercado
em uma base global.
Revela a expectativa de que os gestores atuem para alm das fronteiras organizacionais,
esquadrinhando um ambiente de negcios cada vez mais globalizado, antecipando-
se a fatos e tendncias, e revelando uma efetiva orientao para o equilbrio de resultados
de curto e longo prazos.
Vejamos a diferena entre competncia, mentalidade e caracterstica...
-
MentoriaM D U L O 1
34
Gesto da complexidade...
Trata-se do que Senge chamou de pensamento sistmico, ou seja, da capacidade de
lidar com muitos interesses concorrentes, de mltiplos parceiros fornecedores,
distribuidores, clientes, entre outros em situaes de contradio e conflito, de modo
a alcanar excelncia em diferentes dimenses organizacionais, o que requer adaptao
contnua s mudanas tecnolgicas e s novas demandas de conhecimento.
Gesto da adaptabilidade...
Relaciona-se flexibilidade e disposio para a mudana. Requer criatividade,
renovao de estratgias e de processos, alm de aprendizado contnuo.
Gesto de equipes...
Diz respeito capacidade de lidar com mltiplas habilidades funcionais, nveis
diferenciados de experincias e origens culturais diversas, a fim de que o gestor...
facilite os processos; provoque a motivao; concilie esforos e talentos; valorize as pessoas como elementos-chave nas organizaes; desenvolva suas habilidades; integre suas qualidades de especialistas e generalistas, promovendo um
ambiente de relaes entre iguais.
Gesto da incerteza...
Liga-se capacidade de lidar com as mudanas contnuas, buscando o equilbrio
adequado entre fluxo e controle. Para no desfrutarem da sensao de impotncia e
frustrao, melhor que os gestores se preparem para a mudana, e no contra ela.
Gesto do aprendizado...
Relaciona-se capacidade de aprender sobre si mesmo assim como de facilitar o
aprendizado dos outros.
4.7 SNTESE
Acesse, no ambiente on-line, a sntese desta unidade.
UNIDADE 5 CENRIOS CULTURAIS
Para refletir um pouco mais sobre questes relacionadas ao contedo deste mdulo, acesse os
cenrios culturais no ambiente on-line.
-
Mentoria M D U L O 2
35
MDULO 2 EXERCCIO DA MENTORIA COACHING
APRESENTAO
As novas tecnologias tm provocado uma verdadeira revoluo no mundo dos negcios. Hoje, as
organizaes de sucesso privilegiam a interao entre seus funcionrios, valorizando a troca de
informaes sobre experincias como forma de aprendizagem. A capacidade de aprender
antes revelada por poucos, passa a ser exigida de todos. Face aos novos desafios, a criatividade,
bem como a iniciativa e a rapidez de respostas, tornam-se fundamentais. Gerenciar e liderar no
mais dar uma direo, mas promover o aperfeioamento contnuo das pessoas.
Segundo Tracy Goss, se algum precisa reinventar sua organizao e ser bem-sucedido, necessita,
em primeiro lugar, reinventar a si mesmo, mudando o prprio ser. Essa circunstncia implica o
autoconhecimento e o autodesemvolvimento.
Considerando essas premissas, neste mdulo, pretendemos refletir sobre os conceitos, princpios,
tipos e as fases da mentoria estratgia indispensvel ao novo mundo de negcios, capaz de criar
oportunidade para que as pessoas e as empresas obtenham o sucesso almejado.
Se, no mdulo 1, revelamos o que deve ser do conhecimento de qualquer mentor porque lhe
apresenta o contexto maior no qual atua, pretendemos, no mdulo 2, apresentar as condies
organizacionais e individuais para a existncia da mentoria, o que permite nos posicionar,
criticamente, sobre as influncias da mentoria na vida dos que atuam no mundo dos negcios.
UNIDADE 1 ORIGEM E CONCEITOS
1.1 MENTORIA
Mentoria a ao de influenciar, aconselhar, ouvir, ajudar a clarificar ideias e a fazer escolhas, guiar.
Vejamos a relao entre alguns personagens histricos e mentoria...
John Gotti...
O filme Gotti, que focaliza a mfia, apresenta o personagem John Gotti, um mafioso de
fala mansa e pausada, que aconselhava sua quadrilha sobre as prticas mais eficazes de
fazer dinheiro. O filme ressalta sua capacidade de persuadir outros mafiosos. O FBI
pegou John Gotti e ele foi condenado priso perptua pelos crimes que cometeu.
Morreu em 2002.
Machiavelli...
Nicoll Machiavelli, embora no tenha convencido os Mdici de como governar, exerce
influncia, at os dias correntes, sobre os amantes do poder. Na rea de administrao,
comum v-lo citado por empresrios, consultores e at oradores das turmas de
graduao no momento de sua formatura.
-
MentoriaM D U L O 2
36
Jesus Cristo...
Jesus Cristo foi um dos homens que mais influenciaram o mundo. O Cristianismo
uma doutrina religiosa que se baseia em seus ensinamentos. A histria da vida e dos
ensinamentos de Jesus foi registrada nos evangelhos, palavra grega que significa boa
nova. Essas narrativas fazem parte da Bblia, livro sagrado dos cristos, que descreve a
criao do mundo, a histria do povo judeu, a vida e a obra de Cristo, e que contm
algumas profecias.
Scrates...
Scrates, filsofo grego do sculo V, influenciou muitos jovens atenienses. Foi
Condenado morte sob a acusao de que corrompia a juventude. At os dias correntes,
o processo educativo denominado maiutica, que Scrates utilizava, provoca a
admirao de milhares de educadores em todo o mundo. Scrates praticava o que, de
fato, significa educar tirar de dentro, fazer aflorar as potencialidades do educando,
lev-lo reflexo e concatenao de ideias. Scrates influenciou Plato, outro grande
filsofo da antiga Grcia, que influenciou Aristteles, outro filsofo grego, que influenciou
Alexandre o grande guerreiro.
Francisco Gomes da Silva...
Bem aqui, no Brasil, Francisco Gomes da Silva , mais conhecido como Chalaa,
aconselhava Dom Pedro I. Chalaa veio para o Brasil com a corte portuguesa e tornouse
confidente e servial do Im