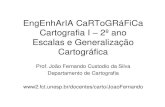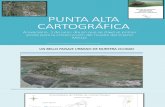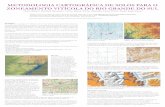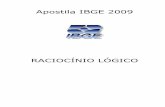O lugar do quantitativo na pesquisa cartográfica
-
Upload
luciano-feijah -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of O lugar do quantitativo na pesquisa cartográfica
-
O lugar dO quantitativO na pesquisa cartOgrficaJanana Mariano CsarI H Fabio Hebert da SilvaII HH
Pedro Paulo Gastalho de BicalhoIII HHHI Universidade Federal do Esprito Santo, Vitria, ES - Brasil
II Universidade Federal Fluminense, Campos, RJ - BrasilIII Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ - Brasil
resumOEste texto se prope discutir as noes de qualitativo e quantitativo no mbito da pesquisa cartogrfica, com nfase neste ltimo. Estas esto articuladas na direo tico-poltica de um plano de inseparabilidade entre formas e foras, no restritas perspectiva dicotmica entre quali e quanti. A partir de dois casos de pesquisa, em suas especficas estratgias, um teste psicolgico e um questionrio de medio de transtornos mentais leves busca problematizar os efeitos da operao do quantitativo como uma das pistas possveis ao mtodo da cartografia: a noo de quantitativo como quantum de foras e do qualitativo como diferencial entre quanta de foras, imiscudas na produo do real.
Palavras-chave: metodologia de pesquisa; mtodo da cartografia; quantitativo; qualitativo.
the place Of quantitative in cartOgraphic researchabstract
This paper proposes to discuss the notions of quality and quantity within the cartographic research, with emphasis on the latter. These are articulated in ethical-political direction of an inseparability plan of forms and forces, not restricted to dichotomous perspective between quality and quantity. From two cases of research in their specific strategies, a psychological test and a questionnaire measuring mild mental disorders, seeks to problematize the effects of quantitative operation as one of the possible clues to the method of cartography: the notion
H Psicloga. Possui especializao em Transdisciplinaridade e Clnica, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente doutoranda do Programa de Ps-graduao em Educao- PPGE da Universidade Federal do Esprito Santo. E-mail: [email protected]
HH Psiclogo. Possui especializao em Transdisciplinaridade e Clnica; mestrado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Educao pela Universidade Federal do Esprito Santo. Docente da Universidade Federal Fluminense (Campos/RJ), Psicologia.E-mail: [email protected]
HHH Psiclogo. Possui especializao em Psicologia Jurdica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Adjunto do Instituto de Psicologia e do Programa de Ps-Graduao em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Endereo: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psicologia. Av. Pasteur, 250 - Pavilho Nilton Campos - Campus Praia Vermelha. Urca - Rio de Janeiro, RJ Brasil. CEP: 22290-240.E-mail: [email protected]
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
of quantitative as a quantum forces and the notion of qualitative as differential between quanta of forces, in a real production.
Keywords: research methodology; method of cartography; quantitative, qualitative.
1 - intrOduO
De acordo com uma classificao at certo ponto consagrada, as investi-gaes qualitativas (quali) e quantitativas (quanti) so consideradas de natureza diferente (MINAYO; SANCHES, 1993), e, por isso se diz da possibilidade de integrao entre um mtodo e o outro, tendo em vista trazerem um olhar diferente sobre uma mesma realidade. A pesquisa quantitativa tende verificao e men-surao de dados, assumindo, muitas vezes, uma realidade estatstica devido ao uso de procedimentos controlados (MINAYO; SANCHES, 1993; SERAPIONI, 2000). Considera-se como ponto forte sua validade externa, j que os resultados so generalizveis para grandes aglomerados de dados, que podem ser classifi-cados e tornados inteligveis por meio de variveis. J as pesquisas qualitativas focalizam as particularidades e especificidades dos grupos sociais estudados, de forma a entender os fenmenos a partir da perspectiva dos participantes, de co-nhecer de forma profunda suas vivncias e as representaes e interpretaes que eles mesmos fazem dessas experincias (SERAPIONI, 2000; TURATO, 2005). Segundo Minayo e Sanches (1993) o material primordial da pesquisa qualitativa a palavra, ou o material discursivo, capaz de revelar sistemas de valores, nor-mas, smbolos, toda uma trama que aponta para as relaes sociais. Reconhece ainda que entre as abordagens qualitativas as etnogrficas privilegiam as etapas de observao participante e convivncia no campo de pesquisa.
Entendemos que, sob essa classificao, a cartografia poderia se aproximar de algumas investigaes qualitativas e se distanciar de outras. O distanciamento se coloca quando, nessas investigaes qualitativas, privilegia-se o estudo dos fenmenos (valores, crenas, representaes, opinies, hbitos, atitudes) sepa-rados de sua dimenso processual de produo. A aproximao aconteceria na proporo do compartilhamento de preocupaes e pressupostos implicados no processo da pesquisa, como, por exemplo: quando se busca como o objeto de estudo acontece (TURATO, 2005, p. 509); quando se trabalha com um nvel de intensidade das relaes sociais; quando se acompanha processos e se busca acessar a complexidade constitutiva de fenmenos especficos; e, ainda, quando a pesquisa se dedica ao estudo da configurao desses fenmenos ou processos, realizando, muitas vezes, uma imerso no campo de estudo, como se observa nas abordagens etnogrficas (MINAYO; SANCHES, 1993). Etnografia e pesquisa cartogrfica articulam-se no ethos relativo aos modos como seus pesquisadores se interessam e compem com o campo de pesquisa, modo de convivncia, de in-cluso dos participantes, de relao com estes, de disponibilidade, configurando, portanto, uma atitude que se constri no trabalho de campo (POZZANA; KAS-TRUP, 2009). Encontramos possibilidades de aliana e parceria em algumas das
358 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
preocupaes tico-polticas que movem esses processos de pesquisa, quando as investigaes se fazem no apenas a partir de um vivido representacional; mas na articulao dos objetos de estudo a seu plano de produo.
Lembramos que a preocupao tica indica o exerccio de uma atitude (FOUCAULT, 2006), de renovada ateno na direo de nosso pensamento e aes cotidianas, de questionamento em relao aos mundos e sujeitos que neles se atualizam. O compromisso nesse ponto com a potncia e efetuao da vida na abertura e diferenciao do ser. Desdobra-se a afirmao de uma poltica afirma-dora da vida, que ativa a experincia de constituio de modos de existncia sin-gulares na aliana com o coletivo em ns. A inseparabilidade entre tica e poltica reposiciona as prticas de produo de conhecimento na direo crtico-criadora, abrindo condies transformadoras do que somos e fazemos.
Para a cartografia o mtodo no se define por metas1 traadas anterior-mente, tampouco se delimita a partir desta ou daquela ferramenta de pesquisa, mas, sobretudo por um caminho e direo tico-poltica. Possibilita que no pes-quisar os instrumentos sejam forjados, (re)situando-os sempre a partir do plano de relaes que produz a pesquisa, no a partir de si mesmos. Desse modo, o que chamamos de quali-quanti, na pesquisa cartogrfica, mais do que uma descrio formal dos mtodos e tcnicas a serem utilizados, indica as opes e a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro terico utilizado (ARA-GO; BARROS; OLIVEIRA, 2005, p. 20). Expressa tambm um jogo de foras constituinte do plano problemtico da pesquisa.
Pensamos com Lourau e Lapassade (1975) que opor quantitativo a qualita-tivo, como dois mtodos de pesquisa distintos, ainda que passveis de integrao, seria estabelecer os termos para um equvoco. Tal distino diz respeito, efetiva-mente, designao de:
[...] tcnicas parciais, mais ou menos orientadas para o uso das matemticas (ou, simplesmente, de dados estatsticos brutos) ou, ento, para a utilizao de variveis no quantificadas (o que no significa que no possam ser quantificveis) (LOURAU; LAPASSADE, 1975, p. 43).
A discusso do qualitativo e quantitativo torna-se interessante pesquisa cartogrfica, mas no se limita classificao geral de instrumentos e estratgias, que definiriam um ou outro, ou enumerao das vantagens e desvantagens tam-bm a estes relacionadas. A comparao entre os mtodos, dentro dessa classifica-o, muitas vezes focada na definio de qual deles seria mais ou menos cientfico ou qual mtodo permitiria maior generalizao, ou, ainda, quais instrumentos se prestariam para um ou outro mtodo. Assim, uma parte significativa da literatura est preocupada apenas em focalizar a contraposio entre as duas abordagens. E, ainda, como se pode observar a partir da dcada de 1960, h estudos que se ocu-pam em mostrar o quanto eles podem ser complementares (SERAPIONI, 2000).
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 359
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Interessa-nos aqui propor uma discusso sobre quantitativo e qualitativo na ultrapassagem da perspectiva dicotmica quali-quanti, tendo em vista o carter incontornvel assumido pela ateno ao plano de produo de subjetividade e objetividade, que os marca por sua provisoriedade e impermanncia e os anima incessantemente. Entendemos, portanto, que uma problematizao do quantitati-vo e do qualitativo pode nos auxiliar a ampliar nossos modos de fazer pesquisa.
Com isso, afirmamos que a pesquisa cartogrfica, inclusive na monta-gem de seus instrumentos, possui o compromisso com o acesso experin-cia,2 e no com a descrio, o mapeamento e a mensurao de um vivido separado de seu plano genealgico de produo. E, nessa direo, buscamos deslocar a discusso do qualitativo e do quantitativo para outras bases, que no so ancoradas na dicotomia quali-quanti e sim na articulao com o plano de inseparabilidade entre formas e foras, dando nfase, sobretudo, ao aspec-to quantitativo na relao com a pesquisa cartogrfica.
Seguindo algumas linhas derivadas de outras pistas do mtodo da carto-grafia, como inveno de dispositivos (KASTRUP; BENEVIDES DE BARROS, 2009), acesso experincia (PASSOS; BENEVIDES DE BARROS, 2009a), ao coletivo de foras (ESCSSIA; TEDESCO, 2009), trabalhamos neste texto com essa diretriz: o quantitativo se refere ao prprio movimento de constituio do real. Em outras palavras, optamos por focar certos aspectos da relao quantita-tivo e qualitativo por dentro do prprio mtodo da cartografia, considerando al-guns pressupostos e movimentos que, momentaneamente, se apresentaram mais interessantes ao tratarmos a atividade de pesquisa do cartgrafo.
Sem ignorar o modo tradicional de classificao das pesquisas como quan-titativas, formulamos uma discusso da noo desse quantitativo na relao com o plano das foras e o mtodo da cartografia. Nessa direo, afirmamos aqui o quantitativo como quantum de fora e o qualitativo como diferencial entre quanta de fora (DELEUZE, 1976; NIETZSCHE, 1999; WHITEHEAD, 2006). Dizendo de outro modo, trata-se de distinguir sem separar o plano intensivo da experincia o plano coletivo das foras (ESCSSIA; TEDESCO, 2009), plano movente da realidade, que se expressa por sua dimenso extensiva e o plano das formas, plano de organizao. Ressalta-se, desse modo, que a partir da pesquisa cartogr-fica o quantitativo e o qualitativo ganham sentido na articulao com a experin-cia, onde se d a prpria imbricao dos dois planos.
Considerar o quantitativo no mbito da pesquisa cartogrfica, para alm de uma operao matemtica abstrata (onde a processualidade da experincia resta separada e silenciada), desloca-nos para outra discusso. O quantitativo apon-ta para a inseparabilidade forma-fora, extrapolando a dicotomia quali-quanti. O acompanhamento de processos e o acesso experincia implica a inveno de mapas nos quais as relaes entre quantidades de foras ganham contornos provisrios e se expressam em formas e sentidos. Ao afirmarmos a pesquisa car-togrfica como acompanhamento de processos nos referimos necessariamente a processos que constituem planos de fora, relao entre quantidades de fora.
360 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
Assim, como demonstrado no Grfico a seguir, identificamos a cartografia com o traado do plano intensivo das foras, na pesquisa que passa pelo acesso ex-perincia, independente se localizado na tradicional dimenso quali ou quanti.
Grfico1
2 quandO O quanti apartadO de sua fOra
Um debate extremamente importante, que tem nos ajudado a pensar as questes aqui apresentadas, diz respeito problemtica do uso dos testes psicol-gicos. A psiquiatra Hilda Morana (2003), em sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Medicina da Universidade de So Paulo, traduziu e validou a Es-cala Hare PCL-R Psychopathy Checklist Revised para seu uso no Brasil. Em 2005, a escala foi avaliada pelo Conselho Federal de Psicologia que, no mesmo ano, aprovou a sua utilizao por meio da Comisso Consultiva que compe o Sistema de Avaliao de Testes Psicolgicos (SATEPSI).
O instrumento tem como propsito averiguar o grau de psicopatia presente na populao carcerria por meio de uma entrevista semiestruturada confivel e vlida, segundo palavras do manual. Pontua o indivduo ao longo de 20 itens eleitos para definir operacionalmente e assim reificar tornar coisa a ser medida o conceito de psicopatia (dentre eles, promiscuidade sexual e relacionamen-tos conjugais de curta durao) quantificando-os em uma escala de 3 pontos (0, 1 ou 2) de acordo com o grau em que as respostas de um apenado se enquadram no conceito de psicopatia (inquirido por meio da entrevista). Importante apontar, desde j, o carter processual do conceito reificado de psicopatia, bem como os itens utilizados, no teste, como critrios de avaliao de tal constructo. Direo oposta tomada pela escala que prioriza a anlise da considerada estrutura da per-sonalidade, sem considerar a conduta explcita (ou manifesta) do sujeito avaliado. Vale lembrar que, no Canad, os sujeitos diagnosticados como psicopatas, a partir desse teste, so diretamente encaminhados priso perptua, por serem conside-rados perigosos e irrecuperveis.
O teste PCL-R tem sido apresentado como a soluo para a prtica do exame criminolgico, e, assim, afirmado como instrumento cientfico capaz de apontar futuras reincidncias criminais e, desse modo, definir condies de regresso ou progresso da pena para indivduos a partir de seu suposto grau de
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 361
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
psicopatia. Yamada (2009) aponta que, apesar da pretenso de cientificidade e neutralidade, muitos profissionais atuantes no campo tm demonstrado que os instrumentos utilizados pela psicologia nos exames tcnicos de criminosos reve-lam mais do que as chamadas caractersticas pessoais do examinando, como os esteretipos e preconceitos que circulam sobre a questo do crime e do crimino-so. Alm disso, repercutem em novas tcnicas de controle da populao, respal-dando-se na sutileza do instrumental cientfico (RAUTER, 2003).
O PCL-R apresentado como um instrumento sem histria, sem atraves-samentos sociais, polticos e econmicos, como uma mquina na qual somente preciso inserir os dados e nela retirar os resultados necessrios. No importa como essa mquina funciona, como foi criada, tampouco a poltica de cincia em jogo e os mecanismos tecnolgicos imbricados em seu funcionamento (YAMA-DA, 2009). Sua validade (e seu estatuto de fidedignidade) atestada pelo cum-primento e pelo suposto rigor dos mtodos quantitativos que se materializam pelas definies estatsticas de varincia e desvio padro. Assim, discusses epis-temolgicas ou tico-polticas so entendidas como mtodos qualitativos que, por seu suposto subjetivismo, no servem como argumentos para tornar reco-mendvel um teste e, do mesmo modo, para afirmar sua no-recomendao. A discusso tradicional calcada na dicotomia quali e quanti acaba por inviabilizar uma discusso mais ampla nesse campo.
O que um teste, com uma pretensa verdade e neutralidade quantitativa, na medio do desempenho em relao populao carcerria termina por produzir? A discusso, quando restrita ao instrumento em si, encontra o risco de perder-se de seu campo de produo e produzir naturalizaes. No caso em questo, a an-lise do PCL-R (e de outros testes psicolgicos) se torna restrita aos chamados mtodos quantitativos (tomados por instrumentos que operam por abstraes matemticas), entendidos como descritores de verdadeiros fatos cientficos que comprovam sua validade segundo srias e rgidas exigncias cientficas que atestam a sua confiabilidade e os aprovados constructos psicomtricos do teste. O que escapa aos critrios estatsticos desconsiderado, por serem argumentos que serviriam a outro tipo de mtodo, o qualitativo, nesse caso. O resultado de um teste psicolgico, contudo, efetivamente produz mundo, pois interfere na vida do avaliado: ao se conceder ou no a Carteira Nacional de Habilitao, o porte de armas ou a aprovao em um concurso pblico. Ou, ainda, ao se instituir um diagnstico de hiperatividade e dficit de ateno ou de psicopatia.
A medida, em vez de representar um mundo verdadeiro, produz mundos. Logo, h uma dimenso quali nesse territrio quanti, em todo o processo. Des-se modo, no considerar as implicaes tico-polticos e seus efeitos para a vida dos avaliandos, ao avaliar tal instrumento, parece-nos uma atitude questionvel. Qual o sentido de se proceder uma avaliao somente por argumentos quanti, dentro de uma classificao geral acerca do mtodo? O que deixamos de fora? Neste exemplo, podemos inferir que a tradicional dicotomia quali-quanti produz efeitos polticos que devemos colocar em anlise.
362 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
Parece haver nessa dicotomia a suposio de um real verdadeiro que pode ser mensurado e uma transposio direta do concreto sensvel para o ideal abstra-to, como se a quantidade medida ou o ideal tomado como essncia fosse de fato o concreto. As questes que nos interessam, de outro modo, interrogam os efeitos dessas prticas: como as quantidades de psicopatia acabaro por definir as re-laes com os presos? Quais condutas sero adotadas diante das quantidades constituintes desses corpos? Quais posturas e atitudes se atualizam diante daquilo que aparece como mensurao da prpria existncia nesses sujeitos? Que sujeitos e objetos se constituem nessa dinmica conjugao de foras?
3 - O quantitativO e a pesquisa cartOgrfica
Sujeitos e mundos so produtos arbitrrios, lembra Deleuze (1976), de arranjos de foras. Toda realidade quantidade de fora em relao de tenso umas com as outras. Todo objeto que elegemos composto por uma multiplici-dade de foras. Tambm para Nietzsche (1999) um objeto ou uma substncia uma fico. So relaes entre quantidades de foras quantum. E por fora entendemos ao, poder de transformao. No a ao de um sujeito ou de uma matria, mas a ao de uma fora sobre a outra, que est no prprio processo de constituio do mundo.
Segundo Paschoal (1999, p. 52),
Um quantum no algum tipo de matria ou qualquer coisa que corresponda ideia de ser (Daisen), mas algo que pode ser designado como quantidades de ao, propores de querer, fora em ao. [...] um quantum designa ao, produo de efeito (wirkung), dinamicidade e relao (wirken) com outros quanta. Um quantum no remete a algo que permaneceria aps a desagregao de uma unidade anteriormente dada e que juntamente com outros quanta, se reagregaria, formando novos corpos.
quantidade, dizemos quantidade das foras. No uma quantidade que funcione na lgica do nmero, divisvel em partes menores. Mas, uma quantidade intensiva, que por isso melhor se define como quantum de fora, continuum de intensidades (PASSOS; BENEVIDES DE BARROS, 2009b). A qualidade diz respeito ao diferencial entre as quantidades. Essa distino entre o quantitativo e o qualitativo aponta para sua inseparabilidade, pois a toda diferena de quanti-dades corresponde uma qualidade. desse modo que podemos, diante de formas constitudas, de sujeitos, objetos e saberes, perguntar: Como se produziu essa forma? Quais foras nela se movimentam? Qual a expresso desse arranjo de for-as? As formas ou qualidades so expresso da luta entre as foras, de quanta de fora, por isso so indissociveis das quantidades. Nessa mesma direo, no h como acessar o plano das foras sem a avaliao das qualidades, das formas. E a avaliao diz respeito ao modo como a vida se expande ou se apequena. No bas-ta simplesmente afirmar ou negar outra noo de quanti ou quali, mas pensar estratgias de articulao dos efeitos da pesquisa com a prpria vida. Interessa,
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 363
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
nesse sentido, no caso de instrumentos como os testes, menos defini-los como quanti ou quali, e mais, pens-los como mobilizao de quantidades de fora, como efeitos que atualizam sujeitos e mundos. A crtica a uma noo de quanti-dade como conceito abstrato que tende anulao da diferena e a uma noo de qualidade que no seja expresso da relao entre as foras (DELEUZE, 1976).
O que nos interessa , do ponto de vista, da prpria quantidade, a irredutibilidade da diferena de quantidade igualdade (DELEUZE, 1976, p. 36), a irredutibilidade das foras ao arranjo que faz surgir a forma. A qualidade puro diferencial entre as foras. Medi-las importante, mas no na direo de um sentido nico para determinado fenmeno. Interessa que no se subsuma forma, o coletivo de foras que nela presente. Esse ponto fundamental, pois quando utilizamos a abstrao matemtica em um uso puramente mecanicista, transfor-mamos o que da ordem da multiplicidade e da complexidade, em igualdade, e o que da ordem da diferena, em semelhana. Em vez da tenso e provisoriedade que compem o jogo do real, a unidade e a anulao das foras.
Isso conduz a um desdobramento da questo da medio, que aparece de forma diferente nos modos de abordar o quanti e quali, que j enunciamos aqui. A medio no mbito da dicotomia quali-quanti funciona como operao interpretativa da realidade. O qualitativo e o quantitativo serviriam para abordar facetas distintas da realidade (objetiva/subjetiva), como mtodo definido a priori ou como instrumento para lidar com um real quanti ou quali. Na dicotomia quali-quanti, trata-se de um trabalho limitado ao plano das formas j constitudas, que, separadas de seu plano genealgico, ilusoriamente, comparecem substan-cializadas, como coisas que se pode medir, esquadrinhar e identificar verdades. Sujeitos e objetos, nessa operao, so apartados da complexidade de sua hist-ria, que, ao contrrio de uma placidez e imobilidade, indica, nos jogos de foras, enfrentamentos, rupturas, bloqueios e oportunidades.
Outro risco, nessa experincia de medio explicativa e redutora, quando a pesquisa se prope determinados problemas que ,de sada, parecem conter pres-supostos que buscam confirmao num real dado. Assim, espera-se que a pesqui-sa, sob a premissa de certo raciocnio, possa ser capaz de apontar o que deve ser realizado e a soluo a ser alcanada. Quando se busca, por exemplo, averiguar o grau de psicopatia nas populaes carcerrias, h uma realidade recortada que medida, como se a medio fosse o prprio real. A medio tomada como aquilo que o preso . Tal determinao traz consigo justificado um conjunto de prticas naturalizadas, alm de expectativas de solues quanto ao que fazer e como se relacionar com os presos objetos da interveno.
Afirma-se, aqui, a importncia de uma atitude crtica, a ser tambm cul-tivada nos processos de pesquisa, que no se faz como prescrio vinda do alto ou como monoplio de alguns considerados mais capacitados que outros. Abordar a questo da quantidade apontar para a dimenso de processualidade, provisoriedade que est na gnese das formas e que continua nelas presente. As formas objetivadas, sejam elas o crcere, o prisioneiro, o teste ou a pesquisa, so efeitos de composies de foras.
364 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
Apontamos essa atitude crtica, portanto, como outro modo de experincia de medio, que toca o quanti e quali, na inseparabilidade entre forma e fora. Faz-se, ento, como criticismo de ao, como instrumento de luta, de resistncia, de no querer mais as coisas como esto, como desafio em relao ao que (FOU-CAULT, 2010, p. 349), ao recorte do real e suas verdades pressupostas. Medir, nesse caso, uma operao crtico avaliativa. encontrar os pontos de fissuras e de quebra nas formas constitudas acessando um plano de quanta de foras em luta, imprevisvel em seus efeitos (quali). tambm intervir no presente dessas lutas.
Medir seria, ento, pr-se a caminho de um exerccio de avaliao das foras em relao, em uma experincia que, como crtica, no se aproxima da ao judicativa. Medir, no sentido de avaliar, afirmao de um processo de dife-renciao que a essncia da fora. A diferena de quantum a prpria essncia da fora. O instrumento PCL-R, por isso, menos que avaliar e exercitar a crtica, busca classificar uma realidade, a partir de um esquema descolado do concreto. O desafio da medio se faz a cada caso, avaliando concretamente, na composio das foras, sua qualidade respectiva e a nuance dessa qualidade, a diferena que o arranjo expressa (DELEUZE, 1976).
Essa experincia crtica no se faz ainda como monoplio ou privilgio de pesquisadores, ainda que os incluam, concluses feitas por uns sobre a vida de outros, mas encontra sua efetivao no sujeito da ao, da ao atravs da qual o real transformado (FOUCAULT, 2010, p. 349). A atitude crtica no se faz apenas por pesquisadores, mas atitude a ser construda e efetivada por todos. , por isso, um ethos que indica o carter participativo na pesquisa e a gerao coletiva dos problemas que, de fato, interessam e so interessantes a todos os que dela participam (DESPRET, 2011).
Por isso, podemos dizer que h sempre nas pesquisas, de modo geral, uma experincia de medio sendo atualizada, no sendo prerrogativa de uma pesqui-sa ou outra ou de instrumentos especficos para este fim, pois toda pesquisa, em seus procedimentos, produz determinados mundos e sujeitos. A pesquisa carto-grfica, no entanto, compromete-se com a medio, na inseparabilidade forma--fora, e no cultivo e exerccio de uma atitude crtica.
4 um exercciO de devOlver O quantitativO aO quantum de fOras
O interesse pelo problema do quantitativo na pesquisa cartogrfica remete ainda importncia da noo de dispositivo3 para esse mtodo e das possibilidades de uso de instrumentos e procedimentos que da advm. Um dispositivo, nas ml-tiplas linhas que o compem, pode se prestar a usos diferenciados. Porm, um uso somente extensivista pode buscar no problema investigado unicamente o que se de-lineia como forma, como limite preciso, realizando uma medio de performance. Nesse uso, o extensivismo tenderia qualidade, forma, esvaziada de quantidades de fora, de histria; e as quantidades como independentes e equivalentes.
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 365
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
A cartografia, de outro modo, afirma tanto o extensivismo quanto o intensi-vismo como duas polticas de narratividade inseparveis, cada uma descrevendo certa dimenso do objeto que se apresenta plano das formas, plano das foras (PASSOS; BENEVIDES DE BARROS, 2009b, p. 152). Ao considerar a dimenso extensiva do fenmeno investigado, como no caso que discutiremos na sequncia, a pesquisa cartogrfica tem como direo o acompanhamento de processos e o aces-so ao plano das foras, ou seja, toma a extenso como efeito de um plano intensivo.
Recentemente (2010-2011), em pesquisa desenvolvida na rede municipal da Serra/ES pelo Programa de Formao e Investigao em Sade do Trabalha-dor (PFIST)/UFES foi utilizado um questionrio,4 que constitui um protocolo de procedimentos da OMS, para mensurar e diagnosticar transtornos mentais leves em educadores dessa rede. O instrumento bem validado nos d como resultado a colocao de sujeitos-trabalhadores mais ou menos dentro de uma curva-normal; 20% dos professores apresentam o indicativo de transtorno mental leve, sendo que temos bem especificado o que compreende a categoria transtorno mental leve.
O instrumento utilizado parece de sada j apontar seu resultado, pois j se sabe que o que busca o diagnstico de transtorno mental e, obviamente, poderia ser tambm o que, unicamente nos daria a ver, no fosse a problematizao reali-zada dentro deste Programa quanto ao instrumento e quanto ao processo de pro-duo dos seus resultados. Entendemos que h, prioritariamente, na construo desse instrumento, uma direo de uso extensivista, assim como no PCL-R, no qual a busca inicial pela redundncia, pela semelhana e pela possibilidade de realizao de anlises estruturais e generalizadas seja sobre a populao carcer-ria ou sobre os trabalhadores da educao de um determinado municpio. Opera, portanto, a partir de um quantitativo substancializado, que termina por igualar e uniformizar todo um campo de foras.
Entretanto, o que interessava na pesquisa realizada no era apenas a pro-duo de um dado, ou o instrumento e sua capacidade de gerar equivalncias infinitamente, mas, a potncia desse material, no sentido de favorecer um ponto de articulao com os trabalhadores, um objeto comum que fosse passagem para inflexes no desenrolar dos processos de trabalho na educao. Foram utilizados grficos e estatsticas para fomentar anlises coletivas dos processos de trabalho.
Portanto, para o dilogo com os trabalhadores parecia importante construir condies de visibilidade luta de foras que atravessa e compe o campo pro-blemtico, inclusive em seus efeitos de sofrimento, nos processos reativos que produzem despontencializao (o apartamento da fora daquilo que ela pode, de seu poder de agir). Os grficos tornaram-se um importante ponto de partida para compor um processo de anlise coletiva da atividade do professor, sendo que, naquele momento, ajudou a compor um objeto comum, uma narratividade que tivesse sentido para os trabalhadores e para a prpria Secretaria de Educao do municpio. De outro modo, poder-se-ia no conseguir avanar com a pesquisa e seus objetivos de fomentar espaos de anlise coletiva dos processos de traba-lho, buscando, nessa direo, construir junto aos trabalhadores outras estratgias. Com isso, ressaltamos apenas que o uso da matemtica pode se dar bem se arti-
366 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
culado com o plano problemtico. No se trata de negar ou abolir este ou aquele instrumento. Trata-se de articul-los sempre no plano mais amplo dos problemas que envolvem e produzem a pesquisa, atento ao modo como deles se faz uso, de forma a retir-los sempre de uma perspectiva per si, prt--porter, como se j viessem prontos para uso, operando-os, assim, como dispositivo mais amplo, muitas vezes includo ou incluindo outros dispositivos.
O esforo maior na pesquisa com educadores foi o de problematizar ini-cialmente, na equipe de pesquisa, os sentidos do questionrio e sua articulao com os outros processos em andamento, quais pesquisadores estariam envolvi-dos, quais escolas participariam, como envolver a Secretaria de educao neste processo. Enfim, todo um trabalho de retirada do instrumento de um lugar j dado, fazendo-se como dispositivo mais amplo.
Porm, foi preciso um cuidado: os dados poderiam funcionar como denn-cia e como representao dos comportamentos e sentimentos, sob o risco de a relao entre os grficos, com nmeros alarmantes, e a experincia de sofrimento se reduzir a uma anlise individualizada, limitada ao plano das formas. A aborda-gem cartogrfica impunha um exerccio contnuo de articular, conforme direo apontada neste texto no Grfico 1, dimenso intensiva e extensiva, fora e forma retomar assim na pesquisa a relao da abstrao dos nmeros com o plano coletivo das foras. Os grficos e os nmeros foram includos na pesquisa como ndice intensivo desse plano mais ampliado: estratgias de avaliao dos efeitos da pesquisa e criao de dispositivos.
Limitar a anlise ao corte pressuposto no instrumento (dado como repre-sentao do mundo) torna o pesquisador ignorante de outros pontos importantes, como as invenes de estratgias, as redes solidrias e cooperativas e processos de produo de sade. Buscava-se o plano das foras, as microlutas, que expressam o quantum de foras, o continuum de intensidades. Cabia, portanto, uma anlise mais ampliada a fim de avaliar o dispositivo criado. Assim, os possveis resul-tados, conjugados expressividade estatstica, articulavam-se a outras questes que continuavam por ampliar a discusso em vez de se fechar em um diagnstico.
Se havia, por exemplo, um grfico em que 75,4% dos educadores respon-diam afirmativamente ao fato de dependerem de outras pessoas para realizar adequadamente seu trabalho, havia outro ainda que mostrava que apenas 26% consideravam satisfatrias tais relaes. No caso dos dois grficos mencionados, havia uma abertura para que pudssemos pensar que h um plano de interdepen-dncia e inseparabilidade que sustenta os processos de trabalho, perceptvel maior parte dos trabalhadores, mas, nem por isso, vivvel e praticvel. O que se considera insatisfatrio nas relaes? Quais as expectativas de uns sobre os ou-tros e ainda sobre a atividade de trabalho? Outras estratgias a serem inventadas mostravam-se necessrias para o tratamento de tais questes.
Nessa pesquisa, a extensividade s fez sentido quando alianada a uma po-ltica intensivista, assim como no interessava privilegiar apenas um instrumento em detrimento de outros. Sem cair em um extremo ou outro, o caminho do entre
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 367
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
nos permite pensar a importncia das diferentes estratgias, desde que situadas em um dispositivo mais amplo, capaz de analisar a composio das linhas e das foras diferentes que atravessam e compem a pesquisa.
5 cOnsideraes finais
A ampliao desse debate parece-nos cada vez mais importante no que toca s polticas de produo de pesquisa na atualidade. Recolocar a discusso sob ou-tras bases, que no a partir dos instrumentos per si ou de uma suposta dicotomia quali-quanti, mas a partir de uma direo tico-poltica. Por isso, na pesquisa cartogrfica, do mesmo modo como se afirma o mtodo em sua dimenso pro-cessual ou a construo de objetos que surgem agenciados aos modos como se pesquisa, tambm as dimenses quantitativa e qualitativa fazem sentido em sua inseparabilidade constituinte, operando ainda um plano de inveno de estrat-gias que permitam acesso multiplicidade da experincia.
Esse o desafio: sair da dicotomia, sem abandonar a dualidade quali-quan-ti como dimenses constitutivas do real, como jogos de foras e a expresso des-ses. Esse modo de colocar a questo traz cena um fazer situado, de modo que as expresses dos jogos de fora no so a ltima palavra sobre o real, so sempre pas-sagens e conjunes. As qualidades, no plano das formas, no so representaes de um real dado e acabado, ou a correspondncia do mundo expectativa do pes-quisador. A direo tica reside nessa possibilidade de avaliar os efeitos do prprio pesquisar em articulao com o modo como se pesquisa, como surgem sujeitos e objetos nessa experincia. O poltico na dimenso tica nos convida a observarmos nossas prticas e ainda a correlao de foras que permite um dispositivo funcionar. a este movimento, o das prticas, que necessrio pensar e intervir.
articulando a pesquisa com um fazer-situado que o quantitativo e o qualitati-vo podem no equivaler a instrumentos e ferramentas utilizados. O acompanhamento e acesso ao quali e ao quanti, como dimenses imbricadas, possibilitam a inven-o de estratgias, onde importa a avaliao de seus efeitos. Como os dispositivos montados articulam-se aos problemas que fazem a pesquisa, o que produzem?
Chama a ateno nas discusses mais atuais, que ainda que quantitativo e qualitativo se apresentem em uma perspectiva de complementaridade e inte-grao, resguarda-se uma separao muito clara em relao aos procedimentos. Afirma-se uma integrao, mas os instrumentos e tcnicas e o prprio mtodo continuam operando uma diviso. Quando a questo do quali-quanti deslo-cada para alm da dicotomia ou da integrao, como planos de inseparabilidade de produo do real, desdobra-se tambm a possibilidade de retirada dos dispo-sitivos de pesquisa de uma classificao apriorstica, quantitativos ou qualitati-vos, ou das funes de medir, contar e/ou descrever, compreender, analisar. Ao contrrio, os dispositivos, em vez de distribudos em um ou outro mtodo ou funo, puramente uma coisa ou outra, portariam as duas dimenses, tanto uma face intensiva quanto extensiva, e isso no dividiria o dispositivo, ao contrrio,
368 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
abriria possibilidades de mltiplos usos, afirmando seu carter de hibridismo. No dispositivo, portanto, intensivo-extensivo, fora-forma, quanti-quali, compare-cem como afirmao do carter hbrido de constituio do real.
Os dois casos trabalhados neste texto apontam para os efeitos de se considerar a dicotomia quali-quanti ou a dualidade forma-fora. Quando h a manipulao do instrumento per si ou a tentativa de fazer caber a pesquisa em uma classificao geral, parece haver j de incio um mundo pronto a ser investigado, que se supe substan-cializado e idealmente isolado. A atividade de pesquisar torna-se a medio (interpre-tao) da correspondncia e fidedignidade dos produtos da pesquisa expectativa do pesquisador. Os objetos e sujeitos so arrancados de sua processualidade.
Tradicionalmente, os parmetros psicomtricos, que conferem o atual status de teste recomendvel, como o PCL-R, pelo Conselho Consultivo do Sistema de Avaliao de Testes Psicolgicos esto embasados unicamente em critrios estatsticos, tornando o teste uma forma vazia de fora. Embora, em lti-ma instncia, esteja claramente compondo a produo de mundos verdadeiros. Portanto, a utilizao, na pesquisa cartogrfica, de ferramentas tradicionalmente consideradas como quantitativas, podem ou no abrir o trabalho de formulao e ampliao dos problemas em questo. Disso depender o uso desses disposi-tivos, no compromisso tico-poltico de experimentao em seu carter hbrido, buscando para alm de determinaes causais e exatas, proximidades e veloci-dades relativas aos arranjos de quantidades de fora sempre provisrias. No caso da pesquisa com os docentes, a dimenso extensiva do dispositivo montado, na utilizao da estatstica, permitiu visibilizar questes importantes. Possibilitou pensar o nmero como quantitativo, no sentido de quantum. O nmero uma abstrao (WHITEHEAD, 1969, 2006), mas possvel de articulao com o quan-titativo das foras que tambm o produzem, sua dimenso intensiva.
H de se acrescentar ainda uma indicao: optar pelo trabalho com a pol-tica extensivista, ou ainda com instrumentos que visam extrair, medir, contar e, ainda, possibilitam uma ampla generalizao de resultados, exige um redobrado cuidado. A pesquisa em educao o solicitou, pois a abstrao dos nmeros e o recorte possibilitado criava a iluso de se saber verdadeiramente sobre algo, entender melhor uma realidade. O cuidado este de buscar os limiares, a luta de foras, que no se presta medio interpretativa e representacional. Tratava--se, ento, de exercitar e sustentar uma atitude-crtica, como experincia de me-dio, acercar-se do ethos que produz a pesquisa a fim de dissolver a presuno positivista, para afirmar o quantum de foras, a multiplicidade do real.
Desse modo, o real em sua produo marcado por uma batalha que mora na gnese dos acontecimentos, um combate contra tudo aquilo que ele teria po-dido ser, mas no (ROQUE, 2008, p. 107). Interessa na anlise da relao entre quantidades de fora que produzem os acontecimentos, menos o por qu? e mais o como. Esta parece ser uma pista para o exerccio da avaliao, do diferencial entre as foras (da qualidade). No se trata de medir para entender, explicar ou reconhecer um mundo dado. Trata-se de acessar o plano das foras
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 369
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
para avaliar os efeitos das relaes, e como fazem vibrar um mundo. Uma boa pista, portanto, para a prtica da cartografia no seria a dicotomia quali-quanti, mas a inseparabilidade forma-fora.
nOtas1 Embora o pesquisar no parta do ponto zero, mas se constri a partir de um patrimnio, de uma histria, de outras experimentaes. Quando dizemos que as metas no se encontram prontas que as direes da pesquisa so inseparveis de como o campo se constitui, dos problemas que emergem.
2 Lembramos que o plano da experincia, de produo ou coemergncia, dimenso processual cujo primado o das relaes, agenciando sujeitos e objetos, teoria e prtica, e como veremos, quantitativo e qualitativo. Ver mais em Passos e Benevides de Barros (2009a).
3 Sobre a importncia do dispositivo na pesquisa cartogrfica ver Kastrup e Benevides de Barros (2009).4 O Questionrio utilizado corresponde a um inqurito epidemiolgico com levantamento de dados relacionados s seguintes variveis: aspectos sociodemogrficos, percepo sobre sade e trabalho, situaes relacionadas sade mental baseado no Self Report Questionnaire (SRQ 20).
referncias
ARAGO, E. M.; BARROS, M. E. B.; OLIVEIRA, S. P. Falando de metodologia de pesquisa. Estudos e pesquisas em psicologia, Rio de Janeiro: ano 5, n. 2, p. 18-28, 2005.
POZZANA, L.; KASTRUP, V. Cartografar acompanhar processos. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCSSIA, L. da. (Org.). Pistas do mtodo da cartografia: pesquisa-interveno e produo de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 52-75.
DELEUZE, G. Nietzsche e a filosofia. Rio de Janeiro: Rio/SEMEION, 1976.
DESPRET, V. Leitura etnopsicolgica do segredo. Fractal: Revista de Psicologia, Niteri, v. 23, n. 1, p. 5-28, jan./abr. 2011.
ESCSSIA, L. da; TEDESCO, S. O coletivo de foras como plano de experincia cartogrfica. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCSSIA, L. da. (Org.). Pistas do mtodo da cartografia: pesquisa-interveno e produo de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 92-108.
FOUCAULT, M. A hermenutica do sujeito. So Paulo: Martins Fontes, 2006.
FOUCAULT, M. Mesa redonda em 20 de Maio de 1978. In: MOTTA, M. B. da (Org.). Estratgia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2010. Coleo Ditos & Escritos, v. 4, p. 335-351.
KASTRUP, V.; BEVEVIDES DE BARROS, R. Movimentos-funes do dispositivo na prtica da cartografia. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCSSIA, L. da (Org.). Pistas do mtodo da cartografia: pesquisa-interveno e produo de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009. p. 76-91.
370 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013
-
O lugar do quantitativo na pesquisa cartogrfica
LOURAU, R.; LAPASSADE, G. Para um conhecimento da sociologia. Lisboa: Assrio & Alvim, 1975.
MINAYO, M. C. S; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposio ou complementariedade? Cad. Sade Pblica, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, jul./set., 1993.
MORANA, H. C. P. Identificao do ponto de corte para a escala PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) em populao forense brasileira: caracterizao de dois subtipos de personalidade; transtorno global e parcial. 2003. 178f. Tese (Doutorado) Faculdade de Medicina, Universidade de So Paulo. So Paulo, 2003.
NIETZSCHE, F. W. Genealogia da moral: uma polmica. So Paulo: Companhia das Letras, 1999.
PASCHOAL, A. E. A dinmica da vontade de poder como proposio moral nos escritos de Nietzsche. 1999. 272 f. Tese (Doutorado)__Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas (SP), 1999.
PASSOS, E; BENEVIDES DE BARROS, R. A cartografia como mtodo de pesquisa-interveno. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCSSIA, L. da (Org.). Pistas do mtodo da cartografia: pesquisa-interveno e produo de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009a. p. 17-31.
PASSOS, E.; BENEVIDES DE BARROS, R. Por uma poltica da narratividade. In: PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCSSIA, L. da (Org.). Pistas do mtodo da cartografia: pesquisa-interveno e produo de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009b. p. 150-171.
RAUTER, C. M. B. Criminologia e Subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2003.
ROQUE, T. Isabelle Stengers. Penser avec Whitehead: une libre et sauvage creation de concepts (resenha). Revista Brasileira de Histria da Cincia, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 106-111, jan.-jun. 2008.
SERAPIONI, M. Mtodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em sade: algumas estratgias para a integrao. Cincia & Sade Coletiva, [S.l.], v. 5, n. 1, p.187-192, 2000.
TURATO, E. R. Mtodos qualitativos e quantitativos na rea da sade: definies, diferenas e seus objetos de pesquisa. Rev. Sade Pblica. So Paulo, v. 39, n. 3, p. 507-514, 2005.
Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013 371
-
Janana Mariano Csar; Fabio Hebert da Silva; Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
WHITEHEAD, A. N. Os fins da educao e outros ensaios. So Paulo: Nacional / USP, 1969.
WHITEHEAD, A. N. A cincia e o mundo moderno. So Paulo: Paulus, 2006.
YAMADA, L. T. O horror e o grotesco na psicologia: avaliao de psicopatia atravs da Escala Hare PCLR. 2009. Dissertao (Mestrado em Psicologia)__Programa de Ps-Graduao em Psicologia, Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2009.
Recebido em: 05 de maio de 2013Aceito em: 10 de julho de 2013
372 Fractal, Rev. Psicol., v. 25 n. 2, p. 357-372, Maio/Ago. 2013