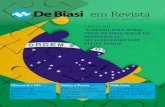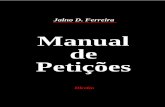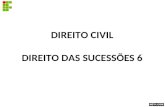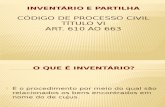procedimentos de inventário e partilha
Transcript of procedimentos de inventário e partilha
Consideraes sobre os procedimentos de inventrio e partilhaprocesso civil, procedimento, inventrio, partilha.INTRODUO Ao analisar os institutos jurdicos do inventrio e da partilha, ainda que em seus a spectos procedimentais, inevitavelmente emerge a indagao sobre quais os fundamento s do direito sucesso. Lembrando a lio de Demolombe, Washington de Barros Monteiro a firma que a propriedade no existiria se no fosse perptua e a perpetuidade do domnio d escansa precisamente na sua transmissibilidade pos mortem [1]. A despeito de uma v iso meramente patrimonialista, afirma-se que o estmulo para a construo de um patrimni o est na inteno de proporcionar melhores condies futuras aos familiares, viso esta ali nhada ao direito de famlia que apregoa no apenas o incentivo ao trabalho, poupana e economia, mas tambm e principalmente o fator de proteo, coeso e de perpetuidade da f amlia [2]. Diante da importncia da sucesso, imprescindvel que se conhea os procedimento s adequados para que o esplio seja inventariado e partilhado entre os herdeiros. A matria encontra-se disposta tanto no Cdigo Civil, em seu Livro V, Ttulo IV, quant o no Cdigo de Processo Civil, em seus artigos 982 a 1045, lembrando a alterao posta pela Lei. 11. 441/2007, que passou a admitir o inventrio e partilha extrajudicia is, realizada por meio de escritura pblica lavrada por tabelio, nas hipteses de ine xistncia de testamento, capacidade e concordncia de todos os herdeiros. Trata-se d e concesso de faculdade aos herdeiros, posto que podero optar pela via judicial me smo diante das condies autorizativas do mbito extrajudicial. No entanto, a obrigato riedade para os demais casos foi mantida[3]. Interessa notar, por fim, que dispo sies de outros ttulos so igualmente pertinentes ao tema, sobretudo s disposies gerais o direito sucessrio, utilizando-se para a soluo da aparente sobreposio de normas os c ritrios de especialidade e supremacia da lei mais nova[4]. 1 INVENTRIOEm seu sentido estrito, inventrio significa a declarao de bens do falecido, transmi tidos aos seus herdeiros pelo princpio de Saisine, o qual enuncia que a abertura da sucesso ocorre no momento da morte do de cujus, com a imediata transmisso da he rana aos herdeiros, como define o artigo 1784 do Cdigo Civil. Todavia, em sentido mais amplo, refere-se necessria fase procedimental posterior troca de titularidad e, constituindo, portanto, um procedimento especial de jurisdio contenciosa de dec larao dos bens do falecido para a liquidao do acervo[5], assim classificado pelo leg islador no por possuir estrutura contenciosa, com autor e ru, contestao, dilao probat e sentena de procedncia ou improcedncia [6], mas porque em seu curso poder surgir o l itgio. Tendo em vista que cada herdeiro receber seu quinho de direito, o inventrio se presta apurao da herana lquida e sua posterior partilha [7] entre os herdeiros, legatrios essionrios e credores do esplio. A importncia deste procedimento se expressa inclus ive nas ocasies em que negativo, ou seja, quando no h bens a inventariar e efetivad o por simples justificao judicial, sobretudo porque o herdeiro responde pelas dvida s deixadas pelo de cujus at a fora do quinho recebido, sendo desejvel demonstrar aos possveis credores a inexistncia de bens (arts. 1792 e 1997). 1.1 DA COMPETNCIA Passando a aspectos essencialmente procedimentais, tem-se que o foro onde se abr e a sucesso hereditria o do lugar do ltimo domiclio do de cujus (art. 1785, CC), obs ervando as regras de competncia territorial elencadas no art. 96 do CPC, que dispe sobre foros subsidirios, quais sejam, o da situao dos bens, quando o falecido no po ssua domiclio certo, ou do lugar do bito, quando na situao anterior, possua bens em di versas localidades. Frise-se que, mesmo se possuidor de nacionalidade estrangeir a e falecido no exterior, todos os bens no territrio nacional sero processados pel a autoridade judiciria brasileira (art. 89, II, CPC). 1.2 DO PRAZO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTOA lei estipula prazo especfico de 60 dias (art. 983, CPC) para a abertura do inve ntrio, isso porque o regime de bens no pode mais ser mantido e h interesse da Fazen da Pblica na arrecadao do imposto de transmisso causa mortis. Todavia, a nica conseqnc a para o descumprimento do prazo de abertura o pagamento de multa a ser definida por lei estadual, havendo possibilidade de realizar sua abertura a qualquer tem po (Smula 542 do STF). Diante da inrcia dos herdeiros, o magistrado competente par a determinar a abertura ex officio (art. 989, CPC), sendo o prazo para a concluso , em todos os casos, de 12 meses a contar da instaurao, podendo ser prorrogado de ofcio ou por requerimento das partes. 1.3 RESOLUO POR VIA ORDINRIA Quando surge durante o procedimento a necessidade de se provar fatos por outros meios que no documentais, sejam eles prova oral, inspeo judicial ou percia, caber ao magistrado remeter o interessado s vias ordinrias para discutir as matrias de alta indagao (art. 984, CPC), tendo em vista o carter prprio de celeridade que deve reves tir o procedimento de inventrio[8]. 1.4 DO ADMINISTRADOR E DO INVENTARIANTENo olvidando a natureza ficta da saisine de transmisso imediata da propriedade[9], elaborou o legislador a figura do administrador provisrio do inventrio, encargo a tribudo quele que se encontra na posse e administrao dos bens no momento da morte do inventariado (art. 797, CC), possuindo legitimidade para requerer a abertura do inventrio[10] (art. 987, CPC), j que responsvel pela representao ativa e passiva, ju dicial e extrajudicial do esplio at que haja a nomeao por parte do juzo do inventaria nte, legtimo, judicial ou dativo, observada a ordem de preferncia, a incluso do com panheiro pela leitura do artigo 1797, I, do CC, e a prestao do respectivo compromi sso (art. 990, CPC). Assumidas a representao e administrao do esplio, cabe ao inventa riante praticar atos livres ou dependentes de manifestao dos herdeiros e prvia auto rizao judicial, enumerados taxativamente nos arts. 991 e 992, do CPC. Sem autorizao, so nulos os atos de alienao, transao, pagamento de dvidas do esplio e realizao de d as necessrias com a conservao e melhoramento dos bens. Dentre os dispositivos menci onados, enumera o art. 995, do CPC, as hipteses de remoo do inventariante por falta s relacionadas ao processo de inventrio, sendo instaurado o procedimento a pedido dos interessados ou de ofcio. Serprocessado em apenso, em contraditrio pleno, resu ltando em deciso interlocutria, da qual caber recurso de agravo. Observe-se que a o corrncia de faltas alheias ao processo, mas que interferem na qualidade de invent ariante, ou pela inrcia deste ensejar a destituio e no a referida remoo.1.5 Primeiras Declaraes Ao se iniciar o procedimento de Inventrio surge a necessidade de serem apresentad as as chamadas primeiras declaraes, informaes essenciais para o incio e processamento do Inventrio. As primeiras declaraes devem ser apresentadas antes das citaes dos interessados em u m prazo de 20 dias a partir da data do compromisso de inventrio, para depois ser lavrado termo circunstanciado. Caso as declaraes no sejam apresentadas dentro do p razo, elas podem ser admitidas atravs do protocolo de petio autnoma que posteriormen te dever ser ratificadas no termo circunstanciado, em casos em que se torne indis pensvel que o termo contenha todos os dados que a norma elenca como necessrios.Das chamadas primeiras declaraes devem estar contidos alguns elementos essenciais de qualificao e singularizao, como, por exemplo, a qualificao do falecido e a indicao dia, hora e local do bito. Deve-se elencar tambm a existncia ou no de testamentos, e indicar a qualificao dos interessados, como o cnjuge sobrevivente e o regime de b ens que regia a unio, sem deixar de apresentar quem so os herdeiros e o respectivo grau de parentesco com o de cujus. Por fim, as primeiras declaraes, antes da citao dos interessados, devem abordar o ro l dos bens do esplio, indicando o valor de mercado. Ademais, caso existam nos ben s do esplio algum bem alheio necessrio que seja indicado os direitos e deveres da massa hereditria. Se o autor da herana era comerciante dever ser procedida pelo juzo o balano do estabelecimento comercial[11]. 1.6 Citao e Intimao dos Interessados Aps as primeiras declaraes os interessados (cnjuge ou companheiro sobrevivente, herd eiros, legatrios e o testamenteiro) devem ser citados tanto pelo meio direto citao pessoal ou por hora certa ou por edital quando o domiclio dos herdeiros e interes sados seja diverso ao foro aonde se processa o inventrio. Faz-se necessrio, tambm, que a Fazenda Pblica e o Ministrio Pblico sejam devidamente intimados e no citados. 1.7 Impugnao s Primeiras DeclaraesAps a citao e devidas intimaes, garantido as partes impugnar as primeiras declaraes, los mais diversos motivos, como em razes de erros e omisses, reclamaes oriundas da n omeao do inventariante ou contestando a qualidade de alguns que foram includos como herdeiros. O prazo para a impugnao de 10 dias a contar da citao e intimao. Diante das impugnaes, cabe ao juiz decidir se acata ou no as alegaes para que, caso o corra alguma alterao, retifique as primeiras declaraes. Se a matria alegada de relati va importncia, como em casos em que alterada a qualidade de herdeiro de um dos in teressados, deve o juiz suspender o feito e indicar que as partes procurem a via prpria para a resoluo daquele conflito. Dessa forma, o juiz responsvel pelo inventri o deve julgar todas as questes de fato e de direito relativas ao inventrio, e deve remeter as solues de demandas auxiliares as vias competentes, organizando melhor o processamento do inventrio. Em se tratando de excluso de um interessado da lista das primeiras declaraes existe a previso de que este preterido pleiteie a sua admisso no inventrio. Isto deve ser feito em qualquer momento, desde que seja antes da partilha, devendo o juiz apr eciar o pedido aps ouvir os interessados.Por outro lado quando no admitidos o pedido de admisso no inventrio, deve-se remete r o requerente da incluso s vias ordinrias ao de petio de herana (prazo de 30 dias) sguardando o seu respectivo quinho at a deciso da demanda da incluso no inventrio. Fr ise-se a necessidade de comprovao documental para a incluso de interessados na cond io de herdeiro no inventrio, da mesma forma que a incluso do legatrio deve se dar pela juntada do testamento escrito. Caso j tenha ocorrido a partilha o interessado deve utilizar ao direta contra os he rdeiros para requerer o seu quinho, porm se a partilha for invlida as solues so divers as. Por fim, a Fazenda Pblica deve informar ao juzo, antes da partilha, dentro de 20 d ias aps a sua vista dos autos, o valor dos bens descritos pelas primeiras descries. 1.8 Avaliao, ltimas Declaraes e Clculo dos Impostos No havendo impugnao as primeiras declaraes ou resolvidas todas as pendencias judiciai s, deve ser procedida a avaliao dos bens do esplio, com a finalidade de apurar um v alor exato do monte partvel possibilitando uma justa partilha. Entretanto, quando as partes forem capazes e a Fazenda Pblica concordar com o val or atribudo aos bens, quando os herdeiros concordarem com o valor declarado pela Fazenda Pblica, quando o clculo do tributo causa mortis for elaborado com base nos valores venais e quando houver avaliao atual realizada em outro processo, no ser ob rigatria a avaliao, sendo considerada hipteses de dispensa da avaliao dos bens. Tambm dispensados de avaliao os bens de pequeno valor que se situem fora da comarca em que tramita o inventrio, afim de evitar custos altos do processo. As partes tem 10 dias para impugnar o laudo apresentado pelo avaliador oficial, cabendo ao juiz decidira questo, determinando a repetio da percia ou a retificao do la udo quando necessrio. Finalizados esses procedimentos deve ser lavrada a termo as ltimas declaraes, que f inalizam a fase de inventrio dos bens e devem condizer com a realidade ftica da co mposio do patrimnio do falecido. Quando aceitas as ltimas declaraes lavradas em termo o juiz responsvel deve proceder a realizao do clculo do imposto de transmisso causa mortis, utilizando como base o valor da avaliao dos bens. As partes podem impugnar o clculo do imposto, uma vez acolhidas tais manifestaes o juiz ordenar a remessa dos autos ao contador responsvel para que seja procedida as alteraes necessrias. Vale lembrar que o imposto causa mortis no exigvel antes da hom ologao do juiz e no incide sobre os honorrios advocatcios. Por fim, nessa fase procedimental, pode o Juzo ordenar a inspeo judicial sob a cois a ou pessoa, afim de esclarecer fatos primordiais para a resoluo do inventrio, deve ndo o herdeiro responsvel pela solicitao arcar com os custos. 1.9 Colaes A colao o instituto empregado para reconstituir o monte hereditrio, devendo ser uti lizado sempre que algum dos herdeiros tenha sido beneficiado por ato praticado e m vida pelo falecido (doao). Devem ser chamados a colacionar os herdeiros descendentes que por ventura tenham recebido doao do ascendente e os cnjuges sobreviventes que tambm tenha recebido doao, uma vez que nesses casos se considera como havendo um adiantamento da legtima. O s sujeitos a colao devem trazer o bem doado pelo autor da herana para ser juntado ao monte hereditrio, com a finalidade de permitir uma justa determinao da legtima de ca da co-herdeiro descendente, deixando de fazer responder pelas penas de sonegao. A colao pode ser efetivada de duas maneiras, a primeira in natura e a segunda por atribuio do valor. O bem apresentado in natura deve ser restitudo ao monte, por out ro lado, pela maneira de atribuio do valor ao bem doado computado ao quinho hereditrio do donatrio o valor estipulado ao bem objeto daquela doao. Os herdeiros que devam colacionar tem o prazo de 10 dias para apresentar os bens que recebeu ou o seu valor. importante ressaltar que o valor do bem indicado na colao deve ser, segundo previso legal, o valor estipulado data da doao, contudo, a fim de evitar maiores prejuzos as partes, parte da doutrina nacional defende a correo monetria do valor do bem doa do data de abertura da sucesso.[12] Ocorrendo divergncia quanto o recebimento do bem por doao ou quanto a obrigatorieda de de apresentar o bem ao juzo, necessariamente dever o magistrado responsvel julga r a questo, podendo ocorrer at o sequestro dos bens sujeitos colao quando restar omi sso o herdeiro responsvel. Caso a matria de divergncia relacionada a colao seja de al ta indagao a questo dever ser resolvida em procedimento prprio, afim de no tumultuar o procedimento de inventrio. 1.10 SonegaoPor fim, como um ltimo aspecto interessante a ser analisado a respeito do procedi mento de inventrio est a sonegao. Sonegao seria a ocultao, de forma dolosa, de bens d splio. Podendo ocorrer tanto quando o inventariante deixa de indica-los com a int eno de subtra-los ou quando no so trazidos os bens colao.[13]A sonegao s pode ser arguida aps a descrio dos bens, com declarao expressa do inventa nte informando que no existem outros bens a inventariar. Obviamente que o Cdigo Ci vil prev punies aos sonegadores. Caso o sonegador seja o herdeiro ele perder o direi to sobre o bem sonegado, ou dever pagar o valor correspondente e perdas e danos. Caso o sonegador seja o inventariante estar sujeito as mesmas penas, alm de ser re movido do cargo. O prazo prescricional para a arguio de sonegao e bens de 10 anos, conforme ampla ori entao da jurisprudncia nacional. 1.11 Pagamento das Dvidas Em relao as dividas contradas lo seu pagamento repassada aos pagamento da dvida deve se dar no ocorra cada um dos herdeiros . pelo de cujus no resta dvida que a responsabilidade pe bens que passaram a compor a herana do falecido. O antes da diviso do quinho dos herdeiros, caso isso responder nos limites da parte recebida como heranaPara requerer o pagamento o credor deve informar o juzo a existncia da dvida e o in teresse no recebimento dos valores, juntando comprovao da divida vencida e exigvel - permitindo-se tambm a habilitao de dividas vincendas, garantido seu pagamento fut uro. Se as partes concordarem o juiz deve declarar habilitado o credor, resguard ando o valor da dvida ou os bens necessrios para quit-la, sendo permitida a adjudic ao dos bens em favor do credor.Caso haja discordncia sobre o requerimento do credor pelos herdeiros e legatrios, a questo dever ser resolvida pelas vias prprias, novamente limitando a atuao do proce dimento de inventrio, devendo-se deixar reservado os bens necessrios para a quitao d a suposta dvida. No vedada a penhora dos bens do esplio, contudo os bens que foram reservados para a quitao da dvida so os que tem preferncia para a quitao em futura exe uo. Vale lembrar que credores com garantia real e a Fazenda Pblica esto livres do proc edimento de habilitao do crdito. 2 PARTILHAFindo o procedimento de inventrio, isto , feita todas as declaraes e impugnaes, realiz ados eventuais pagamentos de dvidas e decididas todas as questes apresentadas s via s ordinrias, pode-se, ento, efetuar a partilha dos bens restantes do acervo heredi trio. Como exposto, a transmisso hereditria se perfaz quando aberta a sucesso. Porm nesse momento existe uma co-titulariedade entre os herdeiros e legatrios ao rol hereditr io, importando assim que se faa a diviso correta entre seus titulares e no quinho a o qual cada um possui direito. Tem-se, assim, o procedimento de partilha, para que possam ser individualizados os bens do quinho a que cada parte tem direito, caso no apontado por testamento, p elo autor da herana. Para que se possa determinar como a partilha ser procedida, importa saber o modo de sucesso a que os herdeiros sero submetidos. Sendo eles: sucesso por direito prpri o, por representao, por linhas ou por transmisso. Na sucesso por direito prprio ou por cabea (arts. 1.835 e 1.834 CC) o grau hierrquic o de parentensco entre os herdeiros e o de cujos o mesmo, assim a sucesso se proc ede em quinhes igualitrios a todos os herdeiros. Na sucesso por representao (arts. 1.851 a 1.856 CC) o grau de parentesco entre os h erdeiros e o de cujos desigual, deste modo os quinhes que tem direito os herdeiro s sero diferenciados. Perfaz-se a sucesso por linhas, toda vez em que os nicos herdeiros sejam ascendent es do falecido, assim fluindo de forma igualitria uma parte linha ascendente mate rna e outra paterna. Note-se que nessa modalidade no se admite a representao, porta nto na hiptese de apenas um dos pais estar vivo, este herdar toda a herana. Caso os dois sejam mortos, e haja avs vivos, a transmisso se faz da mesma maneira, metade linha paterna e metade materna. Por fim a sucesso por transmisso, na ocorrncia de um dos herdeiros do autor falecer no decorrer do processo, antes de aceitar a sua herana, ou depois de aceita-la, mas antes da partilha. Por transmisso os herdeiros deste ltimo se tornam herdeiros daquele primeiro, na medida do quinho. O procedimento de partilha pode ocorrer de dois modos 5 CC). 2.1 Partilha Judicial O instituto da partilha judicial encontra-se previsto nos artigos 1.022 a 1.030 do Cdigo de Processo Civil. O procedimento se inicia com o pedido de quinho formulado pelo herdeiro no prazo de 10 dias a contar da data da efetivao da ltima diligncia do procedimento anterior. Ao qual ser proferido despacho pelo juiz, tambm no prazo de 10 dias, para a delib erao da partilha em favor do herdeiro, bem como resolvendo o que caber a cada herde iro ou legatrio, ou seja individualizando os bens cada quinho. a partilha CPC e art. 2.01Dessa deciso tambm so resolvidas a meao do cnjuge, a indicao dos bens a serem alienad ou adjudicados por no ser possvel a sua diviso e tambm discorrer sobre a licitao de be insscetivel de divisao cmoda (art., ou seja, caso dois ou mais herdeiros disputem a adjudicao de um mesmo bem. Na partilha judicial existe a figura do partidor, conforme o artigo 1.023 do CPC , ao qual ficar designado a elaborar o esboo da partilha. Essa figura um auxiliardo juzo encarregado de apurar tanto a herana bruta, ou seja, a soma total de todos os bens do autor da herana, assim como fica encarregado de apurar a soma lquida d o montante a ser partilhado, isto , o que restou aps o pagamento de todas as dvidas , impostos, despesas, etc; bem como os bens adicionados ao valor por colao. Apurado o montante lquido da herana, necessrio fazer a reserva do equivalente por d ireito do cnjuge meieiro, assim reserva-se a metade, observados o estado civil e regime de casamento existente com relao ao de cujos. Da outra metade que ser partil hada, deve se observar o que compe a parte disponvel, ao qual poderia o titular di spor livremente conforme seu ato de ltima vontade, e o que ir compor a parte legtim a, que a reserva legal garantida aos herdeiros necessrios. Atualmente, com a vigncia do novo Cdigo Civil, o cnjuge herdeiro concorrente ao pat rimnio da herana (art. 1.829 CC), ressalvados os casos de separao, em que no concorre r. Assim concorrendo com os descendentes de primeiro, herdeiros por cabea, caber ao cnjuge parte igual na partilha. Importando em salientar o artigo 1.832 do CC que dispe no poder ser o quinho do cnjuge, inferior a quarta parte da herana caso seja a scendente dos herdeiros, tambm. Informe-se que o companheiro tambm tem direitos so bre a herana do outro falecido, sobre os bens adquiridos na constncia da unio estvel , observados os dispostos no artigo 1.790 do CC. Pois bem, uma vez elaborado o esboo da partilha, so intimadas as partes, o Ministri o Pblico e a Fazenda Pblica, para se manifestarem acerca desse, aceitando ou impug nando o esboo em prazo de 05 dias. Resolvidas eventuais questes levantadas, ser assim realizado o despacho, lanando a partilha aos autos. Descabendo desta deciso qualquer recurso. Compe o procedimento de partilha o auto de oramento bem como a folha de pagamento dos quinhes, legados e dvidas aceitas. Sendo que no auto de oramento constar o nome do falecido, do inventariante, do cnjuge ou companheiro, dos herdeiros e legatrios , e tambm dos credores habilitados no processo. E na folha de oramento estar contid a as informaes sobre os bens do falecido, indicando o quinho de cada herdeiro, info rmando os bens correspondentes e eventuais nus que os gravem. Indicar tambm acerca da meao disposta ao cnjuge. Constatadas as regulariedades, ou seja, no havendo qualquer impeclio para com o Fi sco nem com a Fazenda Pblica, poder ento o juiz proferir a sentena do processo de pa rtilha. Que por constitutiva que se classifica, extingue a comunho at ento existente entre os herdeiros e define os quinhes cabentes a cada um deles [14]. Frise-se da possibilidade de recurso contra esta deciso. Transitado em julgado o procedimento de partilha, tem-se que os herdeiros recebe m as partes equivalentes a seus quinhes e tambm o formal de partilha, que junto co m a certido de pagamento de quinho hereditrio, que documento substitutivo do formal para as hipteses em que o quinho no ultrapasse o valor de cinco salrios vigentes ao foro do juzo, constituem ttulos executivos judiciais (art 584, V CPC). Pode ainda , no lugar do formal, ser expedida carta de adjudicao, nas hipteses em que h somente um herdeiro. Salienta-se que da ocorrncia de erros materiais, omisses, etc, por parte do juiz, aberta a possibilidade de emenda de ofcio ou a requerimento das partes para que s ejam sanados os vcios. Assim como aberta a possibilidade futura da ao rescisria conf orme artigo 1.030 do CPC. Importante ressaltar acerca da petio de herana, procedime nto este, para quando sobrevier herdeiro, que havido fora do casamento, no era ep oca do inventrio e partliha conhecido, sendo que a relao de paternidade no havia sid o declarada judicialmente. Poder este, requerer seu direito na sucesso por meio da petio de herana, que possui um prazo prescricional de 20 anos, vide Sumula 149 STF .2.2 Partilha Amigvel Como se refere o ttulo, a modalidade de partilha em que os herdeiros de comum aco rdo, sendo eles capazes, formalizam os termos da partliha sobre a herana lquida em escritura pblica ou em instrumento particular homologado em juzo. Esta modalidade do instituto da partilha est prevista no artigo 1.029 do CPC assim como no artig o 2.015 do CC. Cumpre destacar que para que possa ser efetivada todos os herdeir os devem ser capazes assim como devem concordar com o resolvido acerca da indivi dualizao dos quinhes hereditrios. Por se tratar de relao realizada na haste particular dos herdeiros, esta resoluo pod e vir dotada de vcios de consentimento e de manifestao de vontade, assim sendo possv el a sua anulao nos termos do artigo 486 do CPC. Esta ao poder ser proposta por qualquer parte elencada no arrolamento sumrio, consti tuindo o polo passivo por todos aqueles beneficiados pela partilha, ou seja, for ma-se um litisconsrcio passivo necessrio e unitrio. Dever ainda, esta ao, ser proposta em um prazo decadencial de um ano a contar da da ta em que se confirmou o vcio, isto , no caso de coao, da data em que essa cessou, n o caso de erro, da data em que o ato foi realizado e assim por diante. Ressalte-se por fim, que de quando houver apenas um herdeiro com direitos sobre os bens do falecido, no haver partilha, mas sim a adjudicao da herana, na hiptese de s er agente capaz. Se incapaz, haver a necessidade de instaurao do inventrio ou o proc edimento de arrolamento comum. 2.3 Do Arrolamento O arrolamento, conforme explica Marcato, o procedimento especfico para inventaria r e partilhar herana quando os herdeiros requererem partilha amigvel, quando for o caso de adjudicao da herana lquida a herdeiro nico ou quando o valor dos bens do espl io for igual ou inferior a 2.000 Obrigaes Reajustveis do Tesouro Nacional (ORTN s)[15 ] No caso dos herdeiros requererem partilha amigvel ou no caso de adjudicao de herana a herdeiro nico o procedimento a ser observado para a concretizao desta ser o arrola mento sumrio, j nos casos em que o valor da herana for igual ou inferior a 2.000 OR TN s e houver herdeiro incapaz ou, sendo todos os herdeiros capazes, estes no conco rdarem com a partilha amigvel, adotar-se- o procedimento do arrolamento comum. O arrolamento o procedimento mais adequado em virtude de sua celeridade e econom ia, visto que dispensa termos, clculos do contador e, exceto nos casos de express a previso, avaliaes. Conforme explica Hironaka, o rito sumrio do arrolamento se real iza pela juntada da partilha amigvel com as primeiras declaraes e permite o desfech o rpido com a sentena homologatria, ambos os processos (arrolamento sumrio e comum), eliminam fases procedimentais simplificando o procedimento de partilha.[16] 2.4 Arrolamento SumrioO arrolamento sumrio, previsto nos artigos 1.032 a 1.035 do CPC, se trata de um p rocedimento de jurisdio voluntria que se inicia com a apresentao da petio inicial, que contenha o disposto nos incisos I, II e III do art. 993 do referido cdigo, ao juzo competente, juntamente com a certido de bito e o comprovante de pagamento das cus tas devidas. Em seguida os herdeiros indicam o inventariante e aps sua nomeao apres enta-se o plano de partilha amigvel ou requer-se a adjudicao dos bens no caso de he rdeiro nico. Uma vez provado o pagamento dos tributos devidos, condio para a expedio e entrega, ao herdeiro ou legatrio, do formal de partilha ou da carta de adjudicao d os bens [17], a partilha ser homologada determinando-se a expedio de formal, ou no ca so da homologao da adjudicao expedir-se- carta, para que se possa, assim, ordenar o arquivamento dos autos. Frise-se que, conforme anota Marcato: a sentena homologatria da partilha ou adjudicao amigveis realizadas noarrolamento sumrio poder ser anulada por vcio de consentimento ou de incapacidade .[18] A espcie de procedimento de inventrio judicial a qual se denomina arrolamento sumri o trata-se de rito simplificado, com declarao dos bens e apresentao de partilha amigve l, quando todos interessados forem maiores e capazes, ou quando o herdeiro for ni co .[19] Tal procedimento dispensa a avaliao dos bens do esplio, tendo em vista que quando se tratar de partilha amigvel os herdeiros j definiram consens ualmente os valores dos bens, enquanto quando tratar-se de herdeiro nico no haver n ecessidade de avaliao dos bens. Todavia, se houver credor do esplio este poder impug nar o valor estipulado pelos herdeiros aos bens que foram reservados para o paga mento da dvida. A despeito da reserva de bens, a qual serve de garantia para o pa gamento das dvidas existentes e deve ser levada a termo antes da homologao, os bens que no fizerem parte de tal reserva podero ter sua partilha homologada ainda que haja credores, evitando, desta maneira, prejuzo dos interesses dos herdeiros e le gatrios. Alm da avaliao o arrolamento sumrio dispensa tambm a lavratura de termos e a remessa dos autos ao contador e ao partidor, j que so os prprios herdeiros que elaboram o p lano de partilha. Cabe ressaltar que no caso de haver questes pertinentes correo do valor estimado do s bens do esplio, tanto referente a tributos quanto a taxas judicirias, o procedim ento do arrolamento sumrio no deve ser adotado, devendo a Fazenda Pblica utilizar-s e da via administrativa para a resoluo de tais questes. Por fim, toca observar que se durante o processo de inventrio os herdeiros entrar em em acordo, compondo-se amigavelmente, ou o herdeiro incapaz adquirir capacida de plena, possvel a converso do inventrio em arrolamento sumrio,em havendo interesse e com observncia aos requisitos legais. 2.5 Arrolamento Comum Com previso no art. 1.036, o procedimento de arrolamento comum o que deve ser ado tado quando o valor da herana for menor ou igual a 2.000 ORTN s e houver incapaz de ntre os herdeiros ou quando os herdeiros capazes no concordarem com a partilha am igvel. Conforme elucida Hironaka tal procedimento ocorre com declarao de bens e subm isso da partilha ao juiz, abreviando-se outras fases procedimentais, quando os be ns do esplio sejam de pequeno valor (igual ou inferior a duas mil Obrigaes Reajustve is do Tesouro Nacional ORTN s) .[20] Dever ser apresentada petio inicial ao juzo competente, em consonncia com os requisit os previstos no art. 993 do CPC e juntamente com a certido de bito e o comprovante de pagamento das custas necessrias. Uma vez nomeado o inventariante, este dever pr estar as suas declaraes no prazo de 20 (vinte) dias a contar da nomeao, atribuindo v alor aos bens do esplio e apresentando, desde logo, o plano de partilha [21] para que em seguida sejam intimados os representantes do MP e da Fazenda Pblica e cita dos os interessados para que se manifestem a respeito das declaraes prestadas pode ndo, inclusive, impugnar a estimativa do valor dos bens, caso em que o juiz deve r nomear um avaliador para que apresente, em 10 dias, um laudo de avaliao. As parte s devero manifestar-se acerca do laudo para que em seguida o juiz designe audincia na qual dever decidir a respeito das reclamaes e impugnaes apresentadas ao plano de partilha, mandar pagar as dvidas no impugnadas, e determinar os bens a serem includ os na reserva para pagamento de dvidas impugnadas, conforme determina o 2 do art. 1 .036 do CPC. Destas decises cabe recurso de agravo. As questes que envolvem matria de alta indagao devero ser remetidas s vias ordinrias de resoluo.Uma vez provado o pagamento dos tributos e rendas relativos aos bens do esplio o juiz dever julgar a partilha ou determinar a adjudicao por sentena da qual o transit o em julgado resultar a expedio do formal de partilha ou carta de adjudicao. Desta se ntena cabe apelao. A sentena que julgue a adjudicao e a partilha realizadas no arrolam nto comum poder ser objeto de ao rescisria .[22]Algumas caractersticas prprias do arrolamento comum so: a interveno do Ministrio Pblic no feito para tutelar os interesses dos incapazes; a avaliao dos bens por avaliad or determinado pelo juzo sempre que alguma das partes ou o Ministrio Pblico impugna r a estimativa apresentada pelo inventariante; a citao dos herdeiros; a realizao de audincia para os fins j mencionados e a nomeao do inventariante pelo juiz com observn cia a ordem legal prevista no art. 990 do CPC.[23] 2.6 Das Disposies Comuns ao Inventrio e ao Arrolamento Existem algumas caractersticas constantes tanto no procedimento do inventrio quant o no do arrolamento, dentre elas a concesso de medidas cautelares que decorre do surgimento de situaes que necessitam providncias acautelatrias pertinentes as quais compete ao juiz adotar, enquanto ao beneficiado pela cautelar compete propor ao pr incipal no prazo de 30 dias para evitar a cessao da eficcia da medida cautelar. Outra caracterstica comum ao inventrio e ao arrolamento a realizao da sobrepartilha, que se trata de uma nova partilha realizada aps a partilha amigvel ou judicial cu jo procedimento idntico ao do inventrio ou do arrolamento que a antecedeu, opera-s e nos mesmos autos destes e decorre sobre os bens: sonegados; descobertos aps a p artilha; litigiosos e de liquidao difcil ou morosa; e reservados para pagamento de credores que foram devolvidos herana. Aos dois procedimentos comum, ainda, a nomeao de curador especial ao herdeiro ause nte ou incapaz, visto que no caso do incapaz no ter quem o represente ou de conco rrer na partilha com seu representante caracterizando conflito de interesses, o juiz dever nomear um curador especial. Outros pontos comuns entre o inventrio e o arrolamento so a possibilidade de cumul ao de inventrios, que ocorre quando falecendo o cnjuge meeiro antes dapartilha dos b ens do pr-morto (art. 1.043 CPC), as duas heranas socumulativamente inventariadas e partilhadas se os herdeiros de ambos forem os mesmos, cumulao est que tambm possvel no arrolamento, quando presentes osmesmos pressupostos legais,[24] e a habilitao d o herdeiro representante, caso em que falecendo herdeiro j admitido no inventrio e no possuindo este herdeiro outros bens alm do seu quinho hereditrio, seu quinho pode r ser partilhado junto com os bens do monte (art. 1.044 CPC).Cabe ressaltar que em ambos os casos no sero modificadas as primeiras declaraes e a avaliao j existentes no inventrio original, salvo alterao no valor dos bens que compem o acervo hereditrio (art. 1.045 CPC) e no inventrio a que se proceder por morte do cnjuge herdeiro suprstite, lcito, independentemente de sobrepartilha, descrever e partilhar bens omitidos no inventrio do cnjuge pr-morto (art. 1.045, pargrafo nico), ou seja, se o cnjuge (ou companheiro) sobrevivente herdeiro eno apenas meeiro do pr-m orto, vindo a falecer podero ser descritos e partilhadosno seu inventrio, independ entemente de sobrepartilha, os bens omitidos noinventrio do cnjuge pr-morto. [25] CONCLUSO O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou um conhecimento abrangente e detalhado de todas as fases procedimentais do Inventrio e Partilha. Dessa forma, foi possvel compreender melhor a importncia de tais institutos no desenrolar da S ucesso e da confirmao dos direitos de cada parte envolvida. As peculiaridades dos procedimentos, esmiuados por cada ponto elaborado na anlise, apontam para a necessidade de um conhecimento detalhado a respeito de cada faseexistente para o correto processamento e finalizao, quer seja do Inventrio ou da P artilha. Ademais, tais institutos se revestem de grande influncia social, uma vez que regu lam toda e qualquer relao familiar que possam, sabidamente, gerar conseqncias ao pat rimnio do de cujus e causar eventuais danos aos interesses de seus sucessores. A letra da lei e o procedimento em si apresentam-se como instrumentos do Estado pa ra a regulao social e a manuteno do bem estar familiar e dos legitimados. Por fim, percebe-se a importncia de tais institutos dentro do bojo do Direito Suc essrio, instrumento que possibilita a correta transferncia de bens e valores de fa lecidos aos seus familiares e cnjuges.Referncias CARVALHO, Dimas Messias de; CARVALHO, Dimas Daniel de. Direito das sucesses, inve ntrio e partilha: teoria, jurisprudncia e esquemas prticos. Atualizado conforme a l ei n 11.441/2007. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Di reito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 2007. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucesses.v. 6 . So Paulo: Saraiva, 2002. PEREIRA, Caio Mrio da Silva. Instituies de direito civil: Direito das sucesses. v. 6 . 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucesses. So Paulo: Atlas, 200 8. Notas: [1] MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das sucesses. v. 6. So Paulo: Saraiva, 2002. p. 06. [2] PEREIRA, Caio Mrio da Silva. Instituies de direito civil: Direito das sucesses. v. 6. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 8. [3] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 2007 . p. 204,205. [4] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) . Direito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 400. [5] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.) . Direito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 402. [6] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 2007 . p. 211. [7] Ibid. p. 204,205. [8] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 2007 . p. 204,205. [9] CARVALHO, Dimas Messias de; CARVALHO, Dimas Daniel de. Direito das sucesses, inventrio e partilha: teoria, jurisprudncia e esquemas prticos. Atualizado conforme a lei n 11.441/2007. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 259. [10] O artigo 988, do CPC, enuncia a legitimidade concorrente, atribuda a todos n o rol pelo interesse que detm na realizao do inventrio e partilha. So eles o cnjuge su prstite, incluindo o companheiro, o herdeiro, o legatrio, o testamenteiro, o cessi onrio do herdeiro ou do legatrio, o credor do herdeiro, do legatrio ou do autor da herana, o sndico da falncia do herdeiro, do legatrio, do autor da herana ou do cnjuge suprstite, o Ministrio Pblico, havendo herdeiros incapazes, e por fim a Fazenda Pbli ca, quando tiver interesse, como a arrecadao de tributos, por exemplo. [11] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 222. [12] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 230. [13] VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito das Sucesses. So Paulo: Atlas, 2008. p.315. [14] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 237. [15] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 241. [16] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord. ). Direito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 426, 427. [17] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 243. [18] Ibid., p. 245. [19] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord. ). Direito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 403 [20] HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord. ). Direito das sucesses. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 403 [21] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 244. [22] Ibid., p. 245. [23] Ibid., p. 244. [24] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 248. [25] MARCATO Antonio Carlos. Procedimentos especiais. 13 ed. So Paulo: Atlas, 200 7. p. 249.Dignidade humana e trfico de pessoasINTRODUO Sangue, suor e lgrimas. Medo. Escravido. Prostituio. Palavras que permeiam o trfico h umano e clamam por seu combate. Como o Estado se posiciona quando tal barbrie se insere em seu territrio e qual a sua responsabilidade perante o Direito Internaci onal so objeto do presente estudo. O artigo enfoca a primazia da dignidade e sua prevalncia na esfera dos Direitos H umanos, especificamente no Direito Internacional. Analisa tambm como as naes se une m para a criao de mecanismos de combate e represso ao trfico humano. Aborda a relativizao da soberania e a responsabilidade objetiva do Estado frente s violaes ocorridas em seu territrio, o enfrentamento e o dever de prestar assistncia s vtimas. Por fim, na concluso, desenvolve uma avaliao de como o Direito Internacional se mob iliza no combate ao trfico humano e garante a proteo dos direitos fundamentais nos Estados. DIGNIDADE E DIREITOS HUMANOS A origem da dignidade humana como valor a ensejar proteo especial remete ao cristi anismo. A conscincia dos direitos humanos tem, na realidade, sua origem na concepo d o homem e do direito natural estabelecida por sculos de filosofia crist . (MARITAIN apud MENDES, COELHO, BRANCO, 2010, p. 308). No perodo iluminista fenmeno que lanou as sementes de um conceito moderno de pessoa humana baseado na dignidade e na valorizao do indivduo como pessoa (SZANIAWSKY apud GALVANI, 2010, p. 33) houve o reconhecimento e a consolidao da dignidade humana com valor a ser respeitado por todos. A internacionalizao da proteo aos direitos humanos teve incio aps a Segunda Guerra Mun dial. As atrocidades cometidas sob a gide de suposta supremacia racial chocaram o mundo e impulsionaram a criao de normas capazes de viabilizar tal proteo, bem como a responsabilizao dos Estados em caso de violao. Houve a efetiva converso em tema tran scendente ao interesse estritamente domstico dos Estados . (PIOVESAN, 2000, p. 130) . A dignidade humana foi reconhecida na Declarao Universal dos Direitos Humanos em 1 948 e tida como inerente a todas as pessoas, titulares de direitos iguais e inal ienveis, assevera Piovesan (2010). Para a coexistncia pacfica de todas as naes, em re lao harmnica e amistosa, houve a relativizao da soberania em favor da dignidade. O princpio da dignidade da pessoa humana passou ento a nortear as Constituies modern as, traduzindo-se em um direito fundamental indispensvel vida. Revestiu-se de cart er normativo e constituiu-se como fundamento do Estado Democrtico Brasileiro.A dignidade humana perpassa por todo o ordenamento jurdico e estabelece critrios d e valorao destinados hermenutica jurdica, gozando de prioridade absoluta sobre inter esses coletivos, segundo afirma Mendes, Coelho e Branco (2010). Entretanto o aut or admite que tal valor no absoluto pois passvel de sofrer limitaes. Tornou-se pacf que os direitos fundamentais podem sofrer limitaes, quando enfrentam outros valor es de ordem constitucional . (MENDES, COELHO, BRANCO, 2010, p. 316). O autor esclarece que tambm no mbito internacional as declaraes de direitos humanos admitem expressamente limitaes que sejam necessrias para proteger a segurana, a orde m, a sade, a moral pblica ou os direitos e liberdades fundamentais de outros. Destaca ainda que uma das tendncias na evoluo dos direitos humanos, que se verifica tanto no plano internacional quanto nos ordenamentos jurdicos internos, a da esp ecificao. Alguns indivduos, por conta de certas peculiaridades, tornam-se merecedore s de ateno especial, exigida pelo princpio do respeito dignidade humana. Da a consag rao de direitos especiais aos enfermos, aos deficientes, s crianas, aos idosos...O h omem no mais visto em abstrato, mas na concretude das suas diversas maneiras de s er e de estar na sociedade . (MENDES, COELHO, BRANCO, 2010, p.330). Essa tendncia s e mostra relevante para assegurar proteo especial s vtimas do trfico humano. O TRFICO HUMANO E O DIREITO INTERNACIONAL Embora sejam indissociveis a liberdade e a dignidade humana, tal assertiva freque ntemente ignorada nos regimes autoritrios e corruptos. A desigualdade e a pobreza abrem caminho para a busca de melhores condies de vida em outras naes. Nesse contex to, aliado s facilidades advindas da globalizao, se aproveitam os aliciadores do cr ime organizado, ludibriando pessoas para posteriormente submet-las s mais degradan tes e desumanas situaes. Tais chicanas somente so percebidas pelas vtimas quando estas se encontram fora de seu territrio de origem. Os criminosos submetem-nas ao trabalho escravo e explor ao sexual como forma de pagamento por despesas de viagem, moradia, alimentao. Muitas vezes retm documentos e passaportes, dificultando o retorno ao pas. O trfico humano atinge mais mulheres e crianas em situao de extrema vulnerabilidade. Contudo, nos ltimos anos, crescente o nmero de homens vitimados.Para enfrentar o problema que atinge milhes de pessoas em todo o mundo, a ONU pro moveu a criao de estratgias e mecanismos de combate atravs da Conveno das Naes Unidas ntra o Crime Organizado Transnacional: a chamada Conveno de Palermo, que contou co m 147 pases signatrios e foi realizada na Itlia no ano de 2000. Segundo Gomes (2009), a Conveno de Palermo o instrumento mais abrangente no combate ao crime organizado transnacional porque prev medidas e tcnicas especiais de inv estigao, controle e combate criminalidade organizada. Incentiva a cooperao e a assis tncia entre os Estados visando desarticular o crime organizado. Garante que os Es tados membros devam criar mecanismos de denncia e servios de assistncia s vtimas, par a que estas sejam tratadas como pessoas vtimas de abusos graves. O ESTADO E O TRFICOA conduta do Estado para o enfrentamento do problema sugere uma poltica pblica cap az de desenvolver estratgias de combate aliadas a uma intensa mobilizao social. Com a participao da sociedade, medidas de informao, preveno e coibio tendem a ser mais e azes. No Brasil, atravs do Decreto n 5.948 de 2006, foi criada a Poltica Nacional de Enfr entamento ao Trfico de Pessoas PNETP que define o compromisso ao combate no mbito nacional, com a participao do Estado e da sociedade civil. Tais estratgias internas devem se alinhar s estratgias transnacionais de combate ao crime organizado, afirma Gomes (2009). Outra faceta do enfrentamento se refere ateno dispensada s vtimas dentro do territrio do Estado. Tal ateno se justifica para que possa haver a reconstruo da dignidade hu mana frente ao direito violado.A Conveno de Palermo firma a ateno s vtimas do trfico internacional de pessoas. Enfati a a criao de meios que permitam a recuperao fsica, psicolgica e social, com o auxlio d sociedade civil. Estabelece que o Estado tem o dever de garantir a segurana das pessoas vtimas de trfico, enquanto estas se encontrarem em seu territrio, e de asse gurar a possibilidade de obteno de indenizao pelo dano sofrido. Cabe ao Estado no qual o trfico se manifesta o dever de punir, coibir e remediar, como visto no tpico anterior. dentro dos limites de seu territrio que essa barbrie se consagra. O Estado deve responder efetivamente, de acordo com sua poltica int erna e seu ordenamento jurdico. Ao declinar-se de sua atuao, pode ser responsabiliz ado na esfera Internacional. A partir do momento em que a voz da razo se cala e a s normas do Direito Internacional so desrespeitadas, surge a necessidade de se ad otar condutas severas com a finalidade atenuar os efeitos do crime . (BORGES, 2006 , p 137).A responsabilidade do Estado objetiva perante o Direito Internacional. Na interp retao dos tratados voltados para a proteo dos direitos humanos, prevalece a natureza objetiva das obrigaes pactuadas, segundo Piovesan (2010). O carter objetivo das obr igaes convencionais sobrepe-se identificao das intenes subjetivas das partes . (TRIN 2010, p. XLII). Piovesan enfatiza que quando h violao, por ao ou omisso, de direitos humanos pelo Esta do, implica em responsabilizao internacional. A jurisdio internacional pode ser acio nada mediante denncia, a fim de que o Conselho de Segurana Promotoria do Tribunal Penal Internacional investigue o crime. Para que o exerccio da jurisdio ocorra nece ssria a adeso do Estado ao tratado, ou seja, que o Estado reconhea expressamente a jurisdio internacional. CONCLUSO O sofrimento imposto s pessoas nas duas guerras mundiais trouxe a dignidade human a para a mesa de discusso das principais naes, atravs da Declarao Universal dos Direit os Humanos. Esta constituiu verdadeiro marco histrico em promoo dos direitos humano s e das liberdades fundamentais, visto que houve a relativizao da soberania das naes em prol da dignidade. A pessoa humana passou a ser vista como sujeito de direitos internacionais e sua dignidade vista como inerente ela, inalienvel e indivisvel.Uma das violaes mais degradantes dignidade humana o trfico de pessoas. Com a global izao e o crescimento das desigualdades sociais, o trfico humano assumiu grandes pro pores e gerou a necessidade de unir foras para combat-lo, no mbito internacional, traa ndo estratgias efetivas de combate ao crime organizado. Os tratados internacionai s visam estudar e oferecer instrumentos para o enfrentamento do problema e a Con veno de Palermo se destaca no mbito de tal crime. Dada a fragilidade fiscalizatria do sistema internacional, cabe ao Estado a taref a de reprimir o trfico dentro de seu territrio, punindo e coibindo o crime organiz ado, prestando assistncia s vtimas. Portanto, objetivamente responsvel perante o Dir eito Internacional e estar sujeito s sanes sempre que direitos humanos forem violado s e o Estado se quedar inerte. O Direito Internacional representa um verdadeiro alicerce para a cooperao e o dese nvolvimento de sociedades justas e harmnicas, nas quais os direitos humanos sejam respeitados. HUMAN DIGNITY AND HUMAN TRAFFICKING: an overview of international law and state responsibility ABSTRACT: The objective of the present study is to discuss about the principle o f human dignity and its impact on Human Rights and under international law. Thro ugh research methodology, addresses the crime of human trafficking and state res ponsibility of international law to combat transnational crime and guarantee of fundamental rights of human being. KEYWORDS: Dignity. Human rights. Human traffcking. International law. REFERNCIAS BORGES, Leonardo Estrela. O Direito Internacional humanitrio. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. GALVANI, Leonardo. Personalidade jurdica da pessoa humana: uma viso do conceito de pessoa no Direito Pblico e Privado. Curitiba: Juru, 2010. GOMES, Rodrigo Carneiro. O crime organizado na viso da Conveno de Palermo. Belo Hor izonte: Del Rey, 2009. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocncio Mrtires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Cu rso de Direito Constitucional. So Paulo: Saraiva, 2010. PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o Direito Constitucional. So Paulo: Max Limona de, 2000. PIOVESAN, Flvia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. So Pau lo: Saraiva, 2010. TRINDADE, Antnio Augusto Canado. Apresentao. In: Direitos humanos e o Direito Consti tucional Internacional. So Paulo: Saraiva, 2010. p. XXXVII a XLVI. Leia mais: http://jus.com.br/revista/texto/22974/dignidade-humana-e-trafico-de-p essoas#ixzz2C1BgvXm3DIREITO DE FAMLIA - Divrcio e Separao JudicialDO DIVRCIO E DA SEPARAO JUDICIAL Com o advento da Emenda Constitucional n 66, publicada em 14 de julho de 2010, ti vemos uma inovao no mbito do Direito de Famlia brasileiro. A referida emenda proporc ionou dinamicidade ao instituto do divrcio, j que a mesma extinguiu o requisito de prvia separao judicial por mais de um ano ou de separao de fato comprovada por mais de dois anos. SEPARAO JUDICIALA separao judicial um instituto do direito de famlia que viabiliza a cessao do vnculo conjugal tanto por acordo recproco entre os cnjuges quanto da forma litigiosa. O p rimeiro se d quando os cnjuges esto de mtuo consentimento, desde que estejam casados h mais de um ano, sob a gide do artigo 1574 do cdigo civil de 2002. Na forma litig iosa um dos cnjuges atribui culpa ao outro pela dissoluo, podendo ser requerida a q ualquer tempo. Art. 1.574. Dar-se- a separao judicial por mtuo consentimento dos cnjuges se forem ca sados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidame nte homologada a conveno.Pargrafo nico. O juiz pode recusar a homologao e no decretar a separao judicial se apu ar que a conveno no preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cnjuges. No obstante a separao judicial, findar a sociedade conjugal mantm o vnculo matrimonia l, dispensando assim os cnjuges dos deveres do casamento de coabitao e fidelidade A rt 1.566, I e II : Art. 1.566. So deveres de ambos os cnjuges: I - Fidelidade recproca II - Vida em comum, no domiclio conjugal; Inicialmente, possvel pensar que a separao judicial s produziria efeitos benficos, po is com o cessamento da sociedade conjugal, os cnjuges podem repensar, calmamente, antes de dissolver o vnculo matrimonial. Cabe ressaltar que, a separao judicial in cmoda, e tambm muito onerosa, para o casal e tambm para o Judicirio. Carlos Roberto Gonalves, conceitua as duas espcies de separao judicial. A primeira r equerida pelos cnjuges ou por mtuo consentimento chamada de amigvel ou consensual ( art 1574, CC). A separao a pedido de um dos cnjuges est prevista no artigo 1.572. O aludido autor a conceitua como separao-sano, que pode ser requerida a qualquer tempo .Na separao-sano, busca-se a tutela jurisdicional inferindo ao outro cnjuge a responsa bilidade pela separao, por ter violado um dos deveres matrimoniais. Nesta modalida de, a constatao de culpa produz consequncias tais como: perda do direito a alimento s, exceto os indispensveis sobrevivncia ( CC,arts. 1.694, 2, e 1.704, pargrafo nico) e perda do direito de conservar o sobrenome do outro ( art. 1.578). A converso da separao judicial em divrcio, ocorre quando decorrido um ano do trnsito em julgado da sentena que decretou a separao judicial ou ainda da deciso concessiva da medida cautelar de separao de corpos. A converso em divrcio pode ser deferida, desde que se comprove a separao, sendo irre levante se a mesma fora consensual ou litigiosa.DIVRCIO O divrcio foi introduzido pela Emenda constitucional n 9 juntamente com a lei 6.51 5, ambas de 1977. O conceito de divrcio e o de separao judicial so muito semelhantes, entretanto se di ferenciam quando analisamos detidamente. Enquanto neste, embora separados de cor pos ainda subsiste o vnculo matrimonial, aquele promove a cessao definitiva do casa mento, e assim pe termo aos deveres de inerentes ao instituto. necessrio dizer que o status civil divorciado somente poder ser desconstitudo se ho uver novo casamento, sendo assim o divrcio irreversvel. O divrcio direto poderia ser requerido, desde que comprovada a separao de fato por mais de dois anos. No era exigido a demonstrao do motivo da separao ou eventual culpa de um dos cnjuges. A lei no mais obriga que os dois anos de separao de fato sejam c onsecutivos. Encontros sazonais do marido e da mulher, sem objetivo de reconcili ao, no interromper o prazo da separao de fato. A SEPARAO JUDICIAL E O DIVRCIO NA CF/88 E NO CDIGO CIVIL DE 2002. O artigo 1571[4] do cdigo civil de 2002 estabelece as formas de dissoluo da socieda de conjugal: A sociedade conjugal termina: I II III IV pela morte de um dos cnjuges pela nulidade ou anulao do casamento pela separao judicial pelo divrcioPargrafo 1 - O casamento vlido dissolve pela morte de um dos cnjuges ou pelo divorci o, aplicando-se a presuno estabelecida neste cdigo quanto ao ausente. Conforme Carlos Roberto Gonalves, a denominao "desquite" foi acrescentada ao ordena mento civil, quando vigorava o cdigo de 1916, entretanto a lei do divrcio substitu iu "desquite" por "separao judicial". O termo "desquite" era utilizado para diferenciar a separao judicial de corpos e d e bens do divrcio com dissoluo do lao conjugal. Tal possibilidade era consagrada em outros pases, exceto no Brasil. Aps algumas atualizaes no nosso ordenamento jurdico, a legislao brasileira autorizou o divrcio e o termo "desquite" ficou restrito apenas aos casos de separao judicial. A primeira iniciativa veio com a emenda constitucional n 9 e ratificada pelo impl emento da lei 6515 /77 que regulamentou o divrcio. Desta forma, a lei autorizou a dissoluo do casamento de duas formas. A primeira se dava atravs da separao judicial que poderia ser convolada em divrcio, observando os requisitos legais. A segunda forma se promoveria atravs do divrcio, comprovando-s e a separao judicial h mais de cinco anos. Com o advento da carta magna de 1988 tivemos significativo avano no campo das rel aes afetivas. A lei maior ampliou a possibilidade de encerramento do vnculo conjuga l ao diminuir os prazos para converso da separao judicial, assim como, nos casos de divrcio direto (reduo de cinco para dois anos).A separao judicial significa apenas a separao de corpos e de bens, entretanto no mate rializava o trmino do vinculo conjugal e tambm no permitia aos cnjuges se casarem no vamente. Segundo Silvio Rodrigues, ano social, haja vista o possibilitou a dissoluo dade aos cidados que no o advento do divrcio no pas representou significativo av aumento das relaes concubinrias. De tal forma o legislador do vnculo conjugal, e, por conseguinte, proporcionou felici desejavam a mantena da sociedade conjugal.Com o novo Cdigo Civil, em 2002, tivemos mudanas nas disposies atinentes dissoluo do asamento, tais como, a razo pela qual os cnjuges querem findar o matrimnio. Podemos citar, como exemplo, a separao-remdio e a separao-sano. A primeira acontece quando as partes decidem se separar consensualmente, conhecida tambm como separao por mtuo con sentimento. Esta a modalidade mais usual. A segunda se d quando um dos cnjuges des cumpre um dever conjugal, terminando assim o casamento, e culminando na separao ju dicial.RESUMO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO1. Direito Internacional privado parte geral: representado por normas que define m qual o direito a ser aplicado a uma relao jurdica com conexo internacional, indica ndo o direito aplicvel . Como fundamentos podem ser destacados: conflito de leis; intercmbio universal ou comrcio internacional; extraterritorialidade das leis. im portante observar que sob tica das ordens jurdicas elas podem ser de dois modos: u ma s ordem (quando para soluo de um problema independe de outro ordenamento jurdico seno o prprio do pas); duas ou mais ordens jurdicas (quando para soluo de um problema preciso se levar em conta o ordenamento jurdico de um outro pas).- Conceito: em linhas gerais, como exposto anteriormente, o direito internaciona l privado seria um conjunto de princpios e regras sobre qual legislao aplicvel soluo e relaes jurdicas privadas quando envolvidos nas relaes mais de um pas, ou seja, a nve internacional.- Objeto: o direito internacional privado resolve conflitos de leis no espao refe rentes ao direito privado; indica qual direito, dentre aqueles que tenham conexo com a lide sub judice, dever ser aplicado. O objeto da disciplina internacional, sempre se refere s relaes jurdicas com conexo que transcende as fronteiras nacionais. Desta forma, alguns pontos so analisados pelo direito internacional privado, que so a questo da uniformizao das leis, a nacionalidade, a condio jurdica do estrangeiro o conflito de leis como j citado e o reconhecimento internacional dos direitos a dquiridos pelos pases.- Objetivo: o direito internacional privado visa realizao da justia material merame nte de forma indireta, e isso, mediante elementos de conexo alternativos favorece ndo a validade jurdica de um negcio jurdico. Outro objetivo do direito internaciona l privado importante de ser lembrado a harmonizao das decises judiciais proferidas pela justia domstica com o direito dos pases com os quais a relao jurdica tem conexo i ternacional .- Normas jusprivatistas internacionais: a norma do direito internacional privado delimita a eficcia das normas de ordem interna e indica a lei estrangeira que de ve reger uma determinao relao jurdica internacional. Pode se dizer que trata de queste s contaminadas por, pelo menos, um elemento estrangeiro (casamento, nacionalidade, local da morte, local dos bens etc). Esse elemento estrangeiro fundamental; ele que diferencia o direito internacional privado do direito privado comum. As nor mas podem se classificar quanto a fonte, quanto a natureza e quanto a estrutura. a) Quanto a fonte: pode ser legislativa, doutrinria e jurisprudencial, pode ainda ser interna ou internacional (tratados e convenes). b) Quanto a natureza: geralmente conflitual, indireta ou seja, no solucionam a qu esto em si mais indicam qual direito deve ser aplicado. Art. 263 do Cdigo de Busta mente; artigo 7 da LICC direta quando dotam regras materiais uniformes, que do sol uo a questo. H ainda as normas qualificadoras, que no so conflituais, nem substanciais , mas conceituais. c) Quanto a estrutura: so unilaterais, bilaterais ou justapostas. Unilaterais ou incompletas so aquelas que se preocupam apenas com a aplicao da regra do direito in ternacional privado aos nacionais, ou seja, a regra de direito interno, independ entemente do direito estrangeiro. O caput diz a lei do domiclio da pessoa natural , ou seja, se aplica tanto a brasileiros como a estrangeiros. Essas normas se di recionam ou aos seus nacionais ou exclui os nacionais e afeta s os estrangeiros. As bilaterais ou completas, so as que se destinam a todos os nacionais, tem um as pecto universal, multilateral, ocupando-se de todo o mundo.- Elementos de conexo: o problema fundamental do direito internacional privado a determinao e utilizao das regras solucionadoras de conflitos interespaciais, isto , a utilizao dos elementos de conexo. As regras jurdicas em geral possuem a estrutura d e uma hiptese e um dispositivo que regulamenta esse fato. Por exemplo, fato: a pe ssoa quando alcana 18 anos. Fato alcanar 18 anos.Conseqncia - tornar-se capaz. Os elementos de conexo, como a prpria expresso dispe, na da mais so do que vnculos que relacionam um fato qualquer a um sistema jurdico. Seg undo Dolinger, sua enumerao leva em conta o sujeito (sua capacidade) determinando o local onde est situado ali tambm ser a sede da relao jurdica, o objeto (imvel ou mv ato jurdico (considerando a localizao do ato). Existem vrias regras de conexo, e apenas para citar como exemplos: lex patriae (le i da nacionalidade da pessoa fsica), lex domicilli (lei do domiclio), lex loci act us (lei do local do ato jurdico), entre outras. No sistema brasileiro de direito internacional privado os principais elementos de conexo que podem ser analisados, apenas a ttulo de exemplificao: art. 7, caput, da Lei de Introduo do Cdigo Civil que rata do domiclio; art. 7, 1 da mesma Lei que trata das formalidades do casamento, et c. Qualificao: Qualificar classificar, definir, para alguns. Se tivermos uma questo de direito internacional privado, preciso determinar a forma pela qual ela se enqua dra no sistema jurdico de determinado pas. [...] se resume em identificar como a q uesto que se pe ao julgador, ao doutrinador, conceituada no sistema jurdico aliengen a . Existem diferentes mtodos de se classificar a qualificao, por exemplo: 1 Lex fori: a maioria dos internacionalistas indicam que para melhor soluo deve-se aplicar a lei do fori. Aqui no Brasil quase sempre se opta pela Lex fori, com d uas excees a do artigo 8 e 9 da LICC.2 Lex Cusae: a lei do ordenamento jurdico que potencialmente seria aplicado a cau sa. 3 Conceitos autnomos e universais: para saber como se classifica um determinado f ato, eu vou investigar todos os sistemas jurdicos e vou ver qual a maioria seguid a em relao aquele fato, da sigo aquele ordenamento.- Aplicao do direito estrangeiro: no se faz por ato arbitrrio do juiz, mas em decorrn cia de mandamento legal da legislao interna. Reputa-se a norma estrangeira com fora coativa igual brasileira. As partes, em princpio, no podem renunciar ao seu imprio . Sua obrigatoriedade de tal natureza que o julgador tem o dever de aplic-la mesm o quando no invocada pelas partes. Embora se diga, em meio a divergncias doutrinria s, que o direito estrangeiro competente se integra na ordem brasileira, no decorr e da afirmativa a concluso de que se aplica o princpio jura novit curia. O juiz po de dispensar a prova do direito estrangeiro, se o conhecer, embora da possa decor rer o inconveniente de, no julgamento coletivo, haver necessidade de se provar s ua existncia. Os tratados e convenes internacionais celebrados pelo Brasil se equip aram ao direito federal, dispensada a parte do nus da prova do texto e da vigncia. Aquele que alegar direito estrangeiro dever provar-lhe o teor e a vigncia, salvo se o juiz dispensar a prova. O meio mais prprio de prova o da certido passada pela autoridade consular estrangeira, contendo o texto legal e sua vigncia, ou uma ce rtido de autoridade estrangeira autenticada pelo cnsul.Para certos autores, no caso de dificuldades decorrentes da ausncia de relaes diplo mticas, lcito recorrer a pareceres de doutos e doutrina. O nus da prova do direito estrangeiro cabe a quem o alega. Se nenhuma das partes postular a aplicao de norma que possa resultar em soluo segundo o direito aliengena, ao autor compete o nus da prova. Algumas regras para a aplicao do direito estrangeiro so a recepo formal (posso fazer uma recepo meramente formal), a recepo material e a aplicao sem incorporao (ap ao da norma jurdica no possui qualquer incorporao ou integrao com regime jurdico do . Assim como existem regras para aplicao em tela, tambm existem limites, que devem ser observados como o princpio de ordem pblica (princpios estruturantes do direito privado; esto na Constituio Federal, logo, todos eles so princpios de ordem pblica. En to, direito estrangeiro que fere a ordem pblica pode at ser vlido, mas ineficaz no B rasil - LICC art. 17. Por exemplo: Divrcio islmico - D-se pela repudia. O STF no hom ologa esse tipo de sentena, pois fere a ordem pblica; Casamento poligmico - Vale o primeiro casamento, e os demais so ineficazes para o ordenamento jurdico brasileir o, etc.). Outra limitao diz respeito fraude Lei: por exemplo, troca de domiclio (pa ra fugir da aplicao da lei tributria), alterao de nacionalidade. A fraude lei implica em ineficcia do ato. Observar os recursos cabveis por fora do art. 105, III, a e c da Constituio Federal.2. Direito Internacional Privado Parte Especial Nacionalidade e Naturalizao: nacio nalidade um vinculo jurdico poltico estabelecido entre um Estado e uma pessoa. Exi ste uma diferena entre nacionalidade e cidadania, na cidadania existe um plus que so os direitos polticos, tais como os de votar. A cidadania pressupe sempre a aqui sio de nacionalidade. Cidado aquele que exerce seus direitos polticos. Artigo 12 da CF trata da aquisio e perda da nacionalidade. pressuposto para o exerccio da cidada nia, que a pessoa seja brasileira, mais no necessariamente nato. So brasileiros na tos aqueles nascidos no Brasil. Se uma embaixadora estiver aqui no Brasil fazend o algum servio e estiver grvida e o filho nascer aqui, esse filho no vai ser brasil eiro. Se porventura a Diretora presidente da Embraer for para uma feira na Alema nha e estiver grvida, esse filho no vai ser brasileiro, porque ela no est exercendo funo de Estado. Aqueles que exercem funo do Estado se tiverem seus filhos fora do Br asil sero brasileiros. Aquisio de nacionalidade no Brasil: Ius solis, Ius sanguines. Regra geral s se tem uma e apenas nacionalidade. Aquisio de nacionalidade originri o e secundaria art. 12 da CF II. Naturalizao: a naturalizao um meio derivado de aqui sio de nacionalidade e consiste na equiparao do estrangeiro, no que se refere aos di reitos e deveres. Naturalizao para portugueses ou originrios de pases de lngua portug uesa, os requisitos so residncia por um ano e idoneidade moral.A regra geral de concesso de naturalizao originria o ius sanguines. As condies essenc ais para que um estrangeiro se naturalize brasileiro so: 1. prova de que possui capacidade civil, segundo a lei brasileira; 2. residncia continua no territrio nacional, pelo prazo mnimo de cinco anos; 3. saber ler e escrever a lngua portuguesa; 4. exerccio de profisso ou posse de bens suficientes manuteno prpria e da famlia; 5. bom procedimento; 6. ausncia de pronuncia ou condenao no Brasil; prova de sanidade fsica. A naturalizao requerida ao Presidente da Republica, com declarao, por extenso, do no me do naturalizando, sua nacionalidade, naturalidade, filiao, estado civil, data d o nascimento, profisso, lugares onde residiu antes, devendo ser por ele assinada. So exigidos como complemento petio: carteira de identidade para estrangeiro, atest ado policial de residncia contnua no Brasil, atestado policial de bons antecedente s e folha corrida, passados pelos servios competentes dos lugares do Brasil onde o naturalizante tiver residido, carteira profissional, diplomas, atestados de as sociaes, sindicatos ou empresas empregadoras; atestado de sanidade fsica e mental, certides ou atestados que provem as condies j citadas anteriormente como essenciais naturalizao. O requerimento e os documentos que o completam so apresentados ao orag o competente do Ministrio da Justia, no Distrito Federal, ou Prefeitura Municipal da localidade em que residir o requerente. Aps o exame da documentao, realizam-se s indicncias sobre a vida pregressa do naturalizando, devendo o processo ultimar-se em cento e vinte dias, contados a partir do protocolo do requerimento.- Condio jurdica do estrangeiro: o Estado que acolhe estrangeiros em seu territrio d eve reconhecer-lhes certos direitos e deve exigir deles certas obrigaes. Exemplo d e direito do Estado: o de vigilncia e policia sobre o estrangeiro, embora se deva conduzir tal pratica com a brandura possvel. O Estado deve regular a condio do est rangeiro, protegendo suas pessoas e seus bens, e reconhecer a todos o menino de direitos admitidos pelo direito internacional. Os direitos que devem ser reconhe cidos aos estrangeiros so: 1) o direito liberdade individual e a inviolabilidade da pessoa humana, liberdad e de conscincia, de culto, inviolabilidade de domicilio, direito de propriedade; 2) direitos civis e de famlia. Os direitos e liberdades supracitados no so absoluto s, pois no impedem que os estrangeiros sejam presos ou punidos com a pena ultima. tambm licito e recomendvel que se recuse ao estrangeiro a faculdade de exercer, p as de residncia, os direitos polticos que tenham no pas de origem. importante coment ar, sobretudo que traz a Lei de Introduo ao CC os limites aplicao do direito estrang eiro, enunciando que as leis, os atos e as sentenas de outro pas, bem como quaisqu er declaraes de vontade, no tero eficcia no Brasil quando ofenderem a soberania nacio nal, a ordem pblica e os bons costumes. Esses limites so chamados de salvaguarda i munolgica. A ordem pblica o princpio mais usado para limitar a aplicao da lei estrang eira. Ordem pblica a soma dos valores morais e polticos de um povo. V-se que se tra ta de um conceito fluido, varivel no tempo e no espao. Um exemplo de aplicao da ordem pblica como fator de limitao aplicao da legislao estrangeira: uma sentena argelin denou uma mulher ao divrcio e perda da guarda do filho por no querer acompanhar o marido para fora do pas, o que foi tido, na Frana, como ofensivo ordem pblica; uma lei tunisina no admite fixao de filiao no decorrente de casamento (filho natural no po e nem mesmo pedir alimentos); mas o mais marcante exemplo temos nos casamentos p olgamos dos rabes. Acima de tudo, muito importante lembrar que de acordo com a CF, no art. 95, o estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhe cidos aos brasileiros, nos termos da Constituio e das leis.INSTITUTO DA COLAOQuando o descendente recebe do as cendente uma doao, surge a obrigao desse herdeiro de fazer a colao no processo de inve ntrio do valor referente ao bem recebido, tendo em vista que o sistema de colao in pecnia e no in natura. Deve assim proceder para igualar o recebimento da legtima. Conforme, parecer da doutrinadora Maria Helena Diniz, vejamos: "O pai poder fazer doao a seus filh os, que importar em adiantamento de legtima, devendo ser por isso conferida no inv entrio do doador, por meio de colao". A forma como o herdeiro necessrio devolve herana os bens que recebeu em vida do de cujus denomina de colao. Primeiramente deve-se conhecer o sistema da colao de bens, devemos saber o que parte legitima e a parte disponivel. Se o casamento for no regime da c omunho de bens, primeiro exclui-se o valor da meao do cnjuge. O de cujus ter sua herana na metade r emanescente. O patrimonio da herana ser, ento dividido em duas cotas de igual valor . A legtima, que compe a metade indis ponvel, ser partilhada aos herdeiros necessrios, compreendendo os descendentes, os ascendentes e o cnjuge. A cota disponvel, existente na out ra metade, de livre disposio e vontade do titular pode ser feita por doao feita em v ida, ou disposio testamentria. A norma exclarece que a colao dos b ens doados pelos ascendentes aos descendentes, deve ser feita pelo valor total d os bens doados. Conforme o ilustre jurista Prof. CARLOS ROBERTO GONALVES, colao o ato pelo qual os herdeiros descendentes que concorrem sucesso do ascendente comum declaram no inventrio as do aes que dele em vida receberam, sob pena de sonegados, para que sejam conferidas e igualadas as respectivas legitimas .Salienta-se que exceo a dispensa de colao, mas existe considerando a natureza dos bens doados ou quando existe vontad e expressa do de cujus excluindo o bem da parte disponivel do doador ou do testado r. A lei deve ser aplicada no ato da abertura da sucesso, quando da entrada nos autos dos bens que compe o referido es plio deve-se se possivel j declarar os bens que foram doados e seus respecitivos v alores para que a partilha seja executada de forma legal aos herdeitos da mesma classe. O herdeiro que recebeu um bem por liberalidade do autor da herana em vida tem o dever de trazer colao o que recebeu in pecnia no inventrio. Se trouxesse in natura, ou seja, levar o prprio bem recebido, seria uma anulao da doao, o que no ocorre. O que deve ocorrer colacionar o v alor ganhado para dividir com os herdeiros. No deve ser feito o deposito judic ial, mas sim deduzir o valor da doao do que o herdeiro ter direito na partilha gera l dos bens, pois nosso ordenamento no afastou, com a edio do Cdigo Civil de 2002, o princpio da igualdade dos quinhes hereditrios o qual vem expresso atravs do artigo 1 846: Art. 1846. Pertence aos herdeiros necessrios, de pleno direito, a metade dos bens da herana, constituindo a legtima. Conforme ensina Maria Beatriz Per ez Cmara: Neste sentido, presume-se que as doaes e vantagens feitas em vida pelo ascendente aos seus herdeiros necessrios so an tecipaes das respectivas quotas hereditrias, ou seja, adiantamento das legtimas, que devem reverter ao acervo . A colao uma obrigao legal entre os h erdeiros necessrios. A devoluo, pelos herdeiros necessrio s, ao acervo hereditrio dos bens recebidos do de cujus por doao, em vida, deve ser in cluda na partilha, pois a finalidade da colao obter a igualdade das legtimas, em fac e do sistema jurdico sucessrio protegendo essa parte da herana que direito dos herd eiros necessrios. A doao feita por ascendentes a desc endentes, ou de um cnjuge ao outro, pode ser compreendida como adiantamento do qu e lhes cabe na herana, conforme dispe o Artigo 544 do Cdigo Civil: Art. 544. A doao de ascendentes a descen dentes, ou de um cnjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herana.A proteo da legitima, acentua-se no artigo 549 do Cdio Civil dispondo da nulidade da doao relativa parte que exceder q ue o doador poderia dispor no momento da liberalidade.Art. 549. Nula tambm a doao quanto parte que exceder de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. O instituto da colao abrange tambm o cnjuge quando este se apresenta na qualidade de concorrente, considera como adia ntamento de herana alm das doaes de ascendentes para descendentes, ainda, as doaes de um cnjuge ao outro. Sendo o cnjuge herdeiro necessrio e tenha recebido doao em vida, concorrendo com outros herdeiros necessrios dever cola cionar. O valor das doaes o objeto da colao q ue o herdeiro necessrio tenha recebido, em vida, do autor da herana. Art. 2.004. O valor de colao dos bens doados ser aquele, certo ou estimativo, que l hes atribuir o ato de liberalidade. 1o Se do ato de doao no constar valor certo , nem houver estimao feita naquela poca, os bens sero conferidos na partilha pelo qu e ento se calcular valesse ao tempo da liberalidade. 2o S o valor dos bens doados entrar em colao; no assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencero ao herdeiro donatrio, correndo tambm conta deste os rendimento s ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem.No nosso ordenamento so colacionvei s doaes feitas aos herdeiros necessrios incluindo cnjuge, as dvidas pagas pelo autor da herana, as doaes indiretas ou simuladas. As quantias adiantadas para que o descendente adquira coisas, devendo ser colacionado o valor, os rendimentos de bens do pai desfrutados pelo filho; somas no mdicas, dadas de presente; perdas e d anos pagos pelo pai como responsvel pelos atos do menor, ou quaisquer indenizaes ou multas; dinheiro posto a juros pelo pai em nome dos filhos; pagamento conscient e de uma soma no devida ao herdeiro; pagamento de dbitos ou fianas ou avais do filh o; quitao ou entrega de ttulo de dvida contrada pelo filho para com o pai; remisso de dvida. de difcil comprovao por parte herdei ro que pretenda exigir a colao de doaes "indiretas". Em sendo nula a doao, mas estando o bem, dela objeto, na posse do donatrio, entender-se- no excluda a colao, com a peculi aridade de que, uma vez desconstituda judicialmente a liberalidade, todo o seu ob jeto volta ao patrimnio sucessvel. A dispensa jamais poder ser presum ida, devendo em cada caso restar expressa atravs ou da escritura de doao ou por tes tamento. A lei prev que restaro dispensados da colao os bens que o testador determine saiam de sua metade disponvel. No podero, c ontudo, exced-la, computado o seu valor ao tempo da doao. Nestes casos, nada poder s er alegado pelos herdeiros concorrentes. O que pode legalmente ser excludoda colao esta previsto no artigo 2.010 Cdigo Civil que afasta a obrigatoriedade qua nto aos gastos ordinrios dos descendentes com o ascendente, enquanto menor, na su a educao, estudos, sustento, vesturio, tratamento nas enfermidades, enxoval e despe sas de casamento e livramento em processo-crime, de que tenha sido absolvido o m enor. Art. 2.010. No viro colao os gastos ordinrios do ascendente com o descendente, enquan to menor, na sua educao, estudos, sustento, vesturio, tratamento nas enfermidades, enxoval, assim como as despesas de casamento, ou as feitas no interesse de sua d efesa em processo-crime.Art. 2.011. As doaes remuneratrias de servios feitos ao ascendente tambm no esto sujei as a colao. Estes gastos so entendidos como in erentes ao pleno exerccio do poder familiar, no sendo considerados como antecipao de herana. afastado pela lei as doaes remunera trias em troca de servios prestados. Os frutos no podero ser objetos da colao sob pena de enriquecimento por parte daqueles que no contriburam para que tais frutos fossem gerados. Ademais, as legitimas somente se atualizam com a morte do de cujus .Peclios ou seguros de vida no podero ser includos no objeto da colao, pois no se trata de herana e, portanto, no so regula os pelas normas de direito sucessrio. Se houver o perecimento do bem, l ogicamente sem culpa do donatrio, caso em que a conferncia ainda se faria obrigatri a, certo que a obrigao no persiste porque para o dono tambm a coisa pereceu. A colao ser realizada no inventrio e reduzida a termo nos autos, assinada pelo juiz. Segundo o Cdigo de Processo Civil: Art. 1.014 - No prazo estabelecido no Artigo 1.000, o herdeiro obrigado colao confe rir por termo nos autos os bens que recebeu ou, se j os no possuir, trar-lhes- o valor. . A colao uma obrigao legal daquele que foi beneficiado com a doao, dever faz-lo, espontaneamente, sob pena de ser compelid o atravs da competente ao de sonegados. O Cdigo Civil esclarece: Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herana, no os descrevendo no inventrio qua ndo estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os om itir na colao, a que os deva levar, ou que deixar de restitu-los, perder o direito q ue sobre eles lhe cabia. . Isto dever ocorrer no primeiro mom ento em que se lhe tornar possvel manifestao sobre as primeiras declaraes. Silenciando o donatrio, qualquer herdeiro necessrio conc orrente poder interpel-lo a fazer.No pargrafo nico do artigo 1014 do Cdigo de Processo Civil determina que o clculo se faa pelo valor que tiverem os ben s ao tempo da abertura da sucesso. O valor da colao no aumentar a meao dis ponvel, sendo que a finalidade principal desse instituto igualar a legtima, que se determinam em relao aos bens em poder do inventariado, acrescidos das liberalidad es colacionadas. Neste ponto devemos analisar o ar tigo 2002 do Cdigo Civil, abaixo transcrito, em harmonia com os demais artigos: Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem sucesso do ascendente comum so obrigado s, para igualar as legtimas, a conferir o valor das doaes que dele em vida recebera m, sob pena de sonegao. O instituto da colao busca igualar os herdeiros necessrios de forma a no permitir privilgio de um herdeiro em detrimen to de outro, sem que isso tenha sido vontade expressa do de cujus . Se o de cujus doou em vida um bem a um de seus ascendentes, sem dizer se o bem doado fazia parte de seus bens dispo nveis, este bem deve voltar universalidade de bens do falecido. Os herdeiros sero tratados de mane ira igual, podendo ser dividida a legtima de acordo com a lei. Se existir na vontade do falecido privilegiar algum dos herdeiros, ele o dever fazer atravs da sua parte disponvel, tendo em vista que a legtima deve ser dividida conforme dispe a lei. S podem exigir a colao aqueles que d ela se beneficiarem, isto , aqueles que possam sofrer um decrscimo em sua legitima em face um concorrente seu ter recebido a mais quando ainda em vida do autor da herana. Os netos, em regra, no esto obrigad os a colacionar. Presume-se que a doao saiu da parte disponvel do doador, no da legtima. Art. 2.009. Quando os netos, representando os seus pais, sucederem aos avs, sero o brigados a trazer colao, ainda que no o hajam herdado o que os pais teriam de confe rir. Os netos esto sujeitos colao quando representarem seus pais na herana do av em relao ao que os pais teriam que conferir. Caso contrrio, os netos acabariam por ser beneficiados desproporcionalmente, recebendo mais do que receberia o des cendente do autor da herana. No esto sujeitas colao as liberalidad es feitas a descendente que no era herdeiro necessrio, na data em que foram feitas . O cnjuge, herdeiro necessrio, quand o concorrente, tanto poder ser compelido a colacionar, bem como poder exigir a colao. O instituto da colao ter aplicabilid ade na sucesso legtima, na testamentria no se poder buscar igualdade, eis que essa mo dalidade atende vontade do autor da herana. Art. 2.003. A colao tem por fim igualar, na proporo estabelecida neste Cdigo, as legti mas dos descendentes e do cnjuge sobrevivente, obrigando tambm os donatrios que, ao tempo do falecimento do doador, j no possurem os bens doados. Pargrafo nico. Se, computados os valores das doaes feitas em adiantamento de legtima, no houver no acervo bens suficientes para igualar as legtimas dos descendentes e do cnjuge, os bens assim doados sero conferidos em espcie, ou, quando deles j no disp onha o donatrio, pelo seu valor ao tempo da liberalidade. CONCLUSO O instituto da colao tem o objetivo de atingir a igualdade da legtima dos herdeiros necessrios mesmo que retroagindo e buscando nos atos praticados ainda em vida pelo de cujus . Todas as liberalidades com que a pessoa, de cuja sucesso se trata, tenha direta ou indiretamente gratificado o her deiro ou aquele a quem o herdeiro representa dever colacionar. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS: http://jus.com.br/revista/texto/6642. Acesso em: 17 maio 2011. Direito De Sucesses- Doutrina Juridica colao www.artigonal.com Direito 16 dez. 2008... As disposies legais sobreCDIGO CIVIL Formato do arquivo: PDF/Adobe Acrobat As disposies dos artigos 157. a 194. do novo Cdigo Civil no prejudicam as...... ARTI GO 1846. . (Legitimidade passiva). 1. Na ao de impugnao www.culturabrasil.pro.br/codigocivil.htm http://www.webartigos.com/articles/54665/1/BREVES-COMENTARIOS-ACERCA-DO-INSTITUT O-DA-COLACAO-NO-CODIGO-CIVIL-DE-2002/pagina1.html#ixzz1NC0cMFRT GONALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume IV. 1 ed. So Paulo: Sara iva 2005.