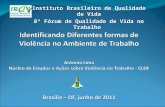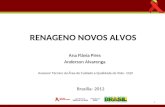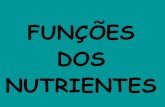Qualidade de Vida Na Área Da Saúde
-
Upload
gabrielsteffen -
Category
Documents
-
view
224 -
download
4
description
Transcript of Qualidade de Vida Na Área Da Saúde
-
P A R T E IO conceito de qualidade de vida
e o Projeto WHOQOL
-
1Problemas conceituais em qualidade de vida
Marcelo Pio de Almeida Fleck
O progresso da medicina trouxe, entre outras conseqncias, um marcadoprolongamento na expectativa de vida durante o ltimo sculo. Assim, algumasdoenas que eram letais (p. ex., infeces) passaram a ser curveis.
No entanto, para a maioria das doenas, a medicina moderna dispe de tra-tamentos que no curam, mas permitem um controle de seus sintomas ou umretardo de seu curso natural. Com isso, h um prolongamento da vida custa deum convvio com uma forma abrandada ou assintomtica das doenas. Passou,ento, a ser de grande importncia dispor de maneiras de mensurar a forma comoas pessoas vivem esses anos a mais. A introduo do conceito de qualidade de vidacomo medida de desfecho em sade surgiu nesse contexto, a partir da dcada de1970. Podemos citar pelo menos seis grandes vertentes que convergiram para odesenvolvimento do conceito:
Estudos de base epidemiolgica sobre a felicidade e o bem-estar. Nos pasesdesenvolvidos, a eliminao da misria passou a ser um objetivo insuficiente dian-te das demandas de sociedades cada vez mais ricas e com objetivos mais amplos.A criao de oportunidades em vrios nveis passou a ser tambm uma exignciade cidados cada vez mais conscientes de seus direitos e deveres. Gurin e colabo-radores (1960) realizaram uma enquete para avaliar a sade mental nos EstadosUnidos, cujo objetivo era pesquisar como [as pessoas] se sentiam com elas mes-mas, seus medos e ansiedades, seus pontos fortes e seus recursos, os problemasque enfrentam e as formas que tm para lidar com esses problemas. Na dcadade 1970, Campbell e colaboradores (1976) propuseram-se a realizar um estudopara monitorar a qualidade da vida dos norte-americanos e fizeram um amploestudo das condies objetivas e subjetivas da populao americana. Eles consta-taram, entre outros tantos achados, que essa relao est longe de ser linear.
Busca de indicadores sociais. A partir do incio do sculo XX, houve uma cres-cente busca de indicadores de riqueza e de desenvolvimento, como o ProdutoInterno Bruto, a renda per capita e o ndice de Mortalidade Infantil. Mais recen-temente, medidas de alta complexidade, como o ndice de Desenvolvimento Hu-mano (IDH), elaborado pelo Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento,
-
20 Marcelo Pio de Almeida Fleck & cols.
procuram incluir aspectos de natureza social e cultural (como indicadores de sa-de e educao) s tradicionais medidas econmicas.
Insuficincia das medidas objetivas de desfecho em sade. As medidas tradicio-nais de desfecho em sade baseadas em exames laboratoriais e na avaliao clni-ca so de inegvel importncia. No entanto, avaliam muito mais a doena do queo doente e so particularmente insuficientes para a avaliao do desfecho emdoenas crnicas, em que o objetivo do tratamento no a cura, mas sim a redu-o do impacto da doena nas diferentes reas da vida do paciente. Alm disso, j bem sabido que a utilizao de servios de sade est mais associada a como aspessoas percebem seu estado de sade do que a seu estado de sade objetivo.Medidas de desfecho baseadas na percepo do doente (PRO; patient report outco-mes) incluem no s a qualidade de vida, mas tambm a disfuno, a interao eo apoio social, bem como o bem-estar psicolgico, entre outros indicadores.
Psicologia positiva. Nas ltimas dcadas, tem havido uma tendncia para o de-senvolvimento da pesquisa dos aspectos positivos da experincia humana. O focoexclusivo na doena, que sempre dominou a pesquisa na rea da sade, vem ce-dendo espao ao estudo das caractersticas adaptativas, como resilincia, espe-rana, sabedoria, criatividade, coragem e espiritualidade. A pesquisa em qualida-de de vida est em sintonia com o interesse em estudar variveis positivas da vidahumana (Seligman; Csikszentmihalyi, 2000).
Satisfao do cliente. A preocupao com o grau de satisfao do usurio com osservios oferecidos uma tendncia que cresceu muito no final do sculo XX emtodas as esferas. As empresas desenvolveram servios de atendimento ao consu-midor, e pesquisas de grau de satisfao com os produtos tornaram-se fundamen-tais no planejamento estratgico de vrias empresas. Esse movimento estendeu-se rea da sade, e preocupar-se com a qualidade de vida dos usurios passou aser um objetivo central dos muitos servios que tm uma viso integrada de aten-dimento.
Movimento de humanizao da medicina. Um importante contraponto ao mo-vimento de crescente sofisticao tecnolgica da medicina foi a constatao danecessidade de reumanizao do atendimento. A preocupao em recolocar a re-lao mdico-paciente como a grande responsvel pelo sucesso das intervenesna rea da sade criou a necessidade de desenvolver parmetros de avaliao quelevem em conta esse fenmeno.
A ltima dcada presenciou o crescimento exponencial da produo cientfi-ca sobre qualidade de vida. Mesmo que questes conceituais e psicomtricas im-portantes ainda no tenham sido resolvidas, esse crescimento demonstra o inte-resse e a pujana da pesquisa na rea.
O objetivo deste captulo o de revisar alguns dos principais problemasconceituais em qualidade de vida.
-
A avaliao de qualidade de vida 21
CONCEITOS AFINS
A introduo do conceito de qualidade de vida na rea da sade encontrououtros construtos presentes afins, os quais tiveram um desenvolvimento indepen-dente e cujos limites no so claros, apresentando vrias interseces. Alguns sodistorcidos por uma viso eminentemente biolgica e funcional, como status desade, status funcional e incapacidade/deficincia; outros so eminentemente so-ciais e psicolgicos, como bem-estar, satisfao e felicidade. Um terceiro grupo deorigem econmica, baseando-se na teoria da preferncia (utility). A qualidadede vida apresenta interseces com vrios desses conceitos, mas seu aspecto maisgenrico (a sade apenas um de seus domnios) tem sido apontado como o seugrande diferencial e sua particular importncia.
O status de sade pode ser definido como o nvel de sade de um indivduo,grupo ou populao avaliado de forma subjetiva pelo indivduo ou atravs de medidasmais objetivas (Medical Subject Headings PUBMED, 2005). Ao utilizarmos conceitosamplos de sade, como o da OMS, em que sade um status de completo bem-estar fsico, mental e social e no apenas a ausncia de doena ou enfermidade(OMS, 1946), as medidas de status de sade passam a ter muitos pontos deinterseco com as de qualidade de vida. Gill e Feinstein (1994) diferenciam quali-dade de vida de status de sade ao afirmarem que qualidade de vida, ao invs deser uma descrio do status de sade, um reflexo da maneira como o pacientepercebe e reage ao seu status de sade e a outros aspectos no mdicos de sua vida.
O status funcional pode ser definido como o grau em que um indivduo capaz de desempenhar seus papis sociais livre de limitaes fsicas ou mentais(Bowling, 1997). A Organizao Mundial da Sade, por meio da InternationalClassification of Impairments, Disabilities and Handicaps, traduzida para o portu-gus como Classificao Internacional das Deficincias, Incapacidades e Desvanta-gens (Farias; Buchalla, 2005), definiu os termos deficincia (impairment), incapa-cidade (disability) e desvantagem (handicap) de forma a uni-los conceitualmente.Deficincia refere-se a perda ou anormalidade psicolgica, fisiolgica ou anatmicade uma estrutura ou funo; incapacidade qualquer restrio ou dificuldade dedesempenhar uma funo decorrente de uma deficincia, e desvantagem uma me-dida da conseqncia social da deficincia ou da incapacidade. Assim, uma pessoacom cegueira tem uma deficincia no sentido da viso, tem como incapacidade adificuldade de enxergar e como desvantagem uma dificuldade de orientao espa-cial (entre outras). Uma crtica a esse modelo foi a falta de relao entre as dimen-ses que o compe e a falta de abordagem de aspectos sociais e ambientais, entreoutras (Farias; Buchalla, 2005). A partir de 2001, uma nova verso dessa classifi-cao foi oficializada pela OMS: a Classificao Internacional de Funcionalidade,Incapacidade e Sade, em que aspectos positivos (funcionalidade) e negativos(incapacidade) so considerados em relao a trs dimenses diferentes:
1. Uma dimenso biolgica (integridade funcional e estrutural), com impli-caes na atividade versus limitao da atividade.
-
22 Marcelo Pio de Almeida Fleck & cols.
2. Uma dimenso social (participao), com implicaes na capacidade departicipao versus restrio da participao.
3. Uma dimenso contextual ambiental, que inclui a presena e a disponibi-lidade de elementos facilitadores versus barreiras.
Embora o status funcional tenha um impacto na qualidade de vida, os con-ceitos no so sinnimos: um mesmo nvel de incapacidade ou de status funcio-nal pode coexistir com vrios status existenciais, do desespero tranqilidade(Hunt, 1997).
O termo qualidade de vida relacionada sade (Health Related Quality ofLife HRQOL) tem sido utilizado como um conceito guarda-chuva que abrigaum conjunto de instrumentos desenvolvidos a partir de uma perspectiva funcio-nalista. Patrick e colaboradores (1973) definiram HRQOL como a capacidade deum indivduo de desempenhar as atividades da vida diria, considerando sua ida-de e papel social. O desvio dessa normalidade resultaria em menor qualidade devida. Posteriormente, Patrick e Erikson (1993) revisaram sua definio, conside-rando HRQOL como o valor atribudo durao da vida modificado por leses,estados funcionais, percepes e oportunidades sociais que so influenciadas peladoena, dano, tratamento ou pblicas. Kaplan e colaboradores (1989) definemHRQOL como o impacto do tratamento e da doena na incapacitao e no funcio-namento dirio.
Felicidade outro conceito prximo qualidade de vida e tambm de difcildefinio. Na definio clssica de Bradburn (citado por Campbell et al., 1976), o produto entre a presena de sentimentos positivos e a ausncia de sentimentosnegativos. J a satisfao tem tido uma considervel base terica. O nvel de satis-fao definido pela discrepncia percebida entre as aspiraes e as conquistas,variando desde a percepo de preenchimento at a de privao (Campbell et al.,1976). Dessa forma, a satisfao implica um julgamento e uma experinciacognitiva, enquanto a felicidade uma experincia fundamentalmente afetiva. Parailustrar a diferena, Campbell e colaboradores (1976) lembram que o contrriode felicidade tristeza e o de satisfao frustrao.
Bem-estar subjetivo uma medida que combina a presena de emoes posi-tivas e a ausncia de emoes negativas com um senso geral de satisfao com avida (Diener, 1984). Sua proximidade com o conceito de qualidade de vida evidente. Kanheman, Diener e Schwartz (1999) sugerem que, diferentemente dobem-estar subjetivo, a avaliao de qualidade de vida deve estar, necessariamen-te, imersa no contexto social e cultural tanto do sujeito como do avaliador, nopodendo ser reduzida a um equilbiro entre prazer e dor.
Os conceitos acima descritos so usados muitas vezes na literatura de formaimplcita ou explcita como sinnimos. Segundo Patrick (2003):
qualidade de vida mais abrangente que status de sade e inclui aspectos do meioambiente que podem ou no ser afetados pela sade. Status funcional refere-se,habitualmente, limitao no desempenho de papis sociais ou em atividades.
-
A avaliao de qualidade de vida 23
As medidas de bem-estar referem-se a percepes subjetivas, incluindo relatosde sensaes prazerosas ou desprazerosas e avaliaes globais de sade ou deestado subjetivo.
Outro conceito afim, derivado dos modelos de preferncia (utility) da reada economia de sade, o de QALY (quality-adjusted life years). O QALY umatentativa de combinar uma estimativa de durao com qualidade de vida. Duasestratgias so clssicas nas medidas de preferncia: a escolha pela probabilidade(standard gamble) e a escolha pelo tempo (time trade off). No primeiro caso, oindivduo perguntado sobre o quanto ele estaria disposto a se arriscar para sever livre da doena, sabendo que o procedimento em questo levaria a dois desfe-chos extremos possveis: morte ou cura. No segundo caso, o indivduo solicitadoa escolher o quanto de tempo ele abriria mo de vida para poder viver os anos sema doena. Enquanto a maioria das medidas de qualidade de vida avaliam estadosde sade, as medidas de preferncia avaliam o valor que os indivduos do aosdiferentes estados (Wilson; Cleary, 1995).
MODELOS TERICOS DE QUALIDADE DE VIDA
Existem vrios modelos tericos subjacentes ao conceito de qualidade devida, e alguns autores listaram esses modelos. Hunt (1997), por exemplo, cita osseguintes:
1. resposta emocional s circunstncias;2. impacto da doena nos domnios emocional, ocupacional e familiar;3. bem-estar pessoal;4. habilidade de uma pessoa em realizar suas necessidades;5. modelo cognitivo individual.
A mesma autora destaca que apenas os ltimos dois (satisfao das necessi-dades e cognitivo individual), a partir de uma reflexo terica e emprica, vm aser instrumentos consistentes. J McKenna e Whalley (1998) identificam duasabordagens para medir a qualidade de vida:
1. a funcionalista2. a baseada nas necessidades (needs-based)
Reunindo as idias desses autores, possvel agrupar os modelos tericos dequalidade de vida em dois grandes grupos:
1. o modelo da satisfao2. o modelo funcionalista
-
24 Marcelo Pio de Almeida Fleck & cols.
O modelo da satisfao
O modelo da satisfao foi desenvolvido a partir de abordagens sociolgicase psicolgicas de felicidade e bem-estar (Diener, 1984). Com base nele, a qua-lidade de vida est diretamente relacionada satisfao com os vrios domniosda vida definidos como importantes pelo prprio indivduo. O senso de satisfao uma experincia muito subjetiva (Campbell et al., 1976) e est bastante associa-do ao nvel de expectativa. Assim, um indivduo pode estar satisfeito com nveisdiferentes de aquisies. Calman (1984) sintetizou esses aspectos ao definir aqualidade de vida como o hiato entre expectativas e realizaes. Uma decorrnciadessa relao que o indivduo pode atingir um bom nvel de qualidade de vidabuscando um aumento de suas realizaes ou uma diminuio de suas expectativas.Aquele que se volta para a busca da realizao sente a satisfao com o sucesso. Deforma alternativa, o que reduziu suas expectativas experimenta a satisfao daresignao. Ambos esto satisfeitos, embora, qualitativamente, as experincias dosucesso e da resignao sejam afetivamente bastante diferentes (Cambpell et al.,1976). Alm disso, existem circunstncias para as quais a nica estratgia poss-vel a ser satisfeita , de fato, a resignao. Provavelmente, tambm a estrutura depersonalidade e a cultura em que o indivduo est imerso sejam determinantesimportantes na deciso de aumentar as realizaes ou diminuir as expectativas.
Duas contribuies importantes ao modelo terico da satisfao podem serobservadas na literatura e dizem respeito aos aspectos com os quais o indivduodeveria estar satisfeito para ter uma boa qualidade de vida. A primeira contribuioadvm originalmente das idias de Thomas More (1994) e de Maslow (1954)sobre a presena de necessidades bsicas do ser humano que precisam ser preen-chidas para que este possa se sentir bem. Essas necessidades incluiriam, por exem-plo, sade, mobilidade, nutrio e abrigo. O modelo, ao considerar que existemnecessidades bsicas universais, respalda a idia de que possvel desenvolverum instrumento de qualidade de vida com uma perspectiva transcultural.
Uma segunda contribuio, chamada abordagem cognitiva individual, consi-dera que a qualidade de vida uma percepo idiossincrtica e que, portanto, spode ser medida individualmente. Serve como base terica dos instrumentos SEIQOL(Self Evaluation Instrument for Quality of Life) e pondera o escore marcado nodomnio com a importncia atribuda a este mesmo domnio pelo respondente.
O modelo funcionalista
Este modelo considera que, para ter uma boa qualidade de vida, o indivduoprecisa estar funcionando bem, isto , desempenhando de forma satisfatria seupapel social e as funes que valoriza. Assim, a doena torna-se um problema namedida em que interfere no desempenho desses papis e, implicitamente, a sade considerada o maior valor da existncia (McKenna; Whalley, 1998). O termoqualidade de vida relacionada sade (health-related quality of life) serviu paraagrupar vrios instrumentos de base terica funcionalista.
-
A avaliao de qualidade de vida 25
Existem crticas ao modelo funcionalista, e questionvel se o modelo fun-cionalista , de fato, adequado para avaliar a qualidade de vida. Por exemplo,Albrecht e Devlieger (1999) chamam a ateno para o paradoxo da deficincia.Utilizando a metodologia qualitativa, os autores demonstraram que indivduoscom deficincias graves e persistentes podem relatar boa ou excelente qualidadede vida, mesmo quando a maioria dos observadores externos qualificaria sua exis-tncia como indesejvel. Para alguns indivduos, a deficincia parece ter servidopara reorientar a vida. Nessa situao, a percepo de uma boa qualidade de vidaadviria do fato de esses indivduos estarem convivendo de forma satisfatria comas limitaes impostas pela deficincia.
O CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA
Apesar de haver um consenso sobre a importncia de avaliar a qualidade devida, seu conceito ainda um campo de debate. Alguns autores reconhecem acomplexidade e a impossibilidade de conceituar de forma adequada a qualidadede vida, tratando-a como uma varivel emergente (Gladis et al., 1999), da mes-ma forma que construtos como traos de personalidade ou emoes. Para essetipo de construto, os psiclogos preferem atribuir caractersticas ou indicadoresque no merecem o status de definio. Dessa forma, a existncia de diferentesdefinies decorreria, na verdade, justamente do peso dado a cada uma dessascaractersticas ou indicadores.
A ausncia de consenso a respeito de um conceito em um campo novo deconhecimento algo comum e perfeitamente compreensvel, embora crie proble-mas por vezes insolveis. O que nico nessa rea de pesquisa que os instru-mentos que se propem a avaliar a qualidade de vida se multiplicam exponen-cialmente, trazendo uma avalanche de dados e, por vezes, influenciando polticasde sade, sem, no entanto, saber-se ao certo o que, de fato, esto medindo. Semuma base conceitual clara no h como correlacionar o que est sendo medidocom o que deveria estar sendo medido (Hunt, 1997).
Nesse sentido, a definio proposta pelo Organizao Mundial da Sade aque melhor traduz a abrangncia do construto qualidade de vida. O Grupo WHOQOLdefiniu qualidade de vida como a percepo do indivduo de sua posio na vida,no contexto de sua cultura e no sistema de valores em que vive e em relao a suasexpectativas, seus padres e suas preocupaes. Ele considera o conceito de qua-lidade de vida como um conceito bastante amplo, que incorpora, de forma com-plexa, a sade fsica, o estado psicolgico, o nvel de independncia, as relaessociais, as crenas pessoais e a relao com aspectos significativos do meio ambi-ente (The WHOQOL Group, 1995). Trs aspectos fundamentais sobre o construtoqualidade de vida esto implcitos nesse conceito do Grupo WHOQOL:
1. Subjetividade, isto , a perspectiva do indivduo o que est em ques-to. A realidade objetiva s conta na medida em que percebida peloindivduo.
-
26 Marcelo Pio de Almeida Fleck & cols.
2. Multidimensionalidade, isto , a qualidade de vida composta por vriasdimenses. Este aspecto tem uma conseqncia mtrica importante, a deque no desejvel que um instrumento que mensure a qualidade devida venha a ter um nico escore, mas sim que a sua medida seja feita pormeio de escores em vrios domnios (p. ex., fsico, mental, social, etc.).
3. Presena de dimenses positivas e negativas. Assim, para uma boa qua-lidade de vida, necessrio que alguns elementos estejam presentes (p.ex., mobilidade) e outros ausentes (p. ex., dor) (Fleck et al., 1999).
Calman (1987) fez contribuies importantes para tornar o conceito de qua-lidade de vida mais claro. Ele considera que uma boa qualidade de vida estpresente quando as esperanas e as expectativas de um indivduo so satisfeitaspela experincia. Essas expectativas so modificadas pela idade e pela experin-cia. Para esse autor, a definio de qualidade de vida tem algumas implicaes:
1. S pode ser descrita pelo prprio indivduo.2. Precisa levar em conta vrios aspectos da vida.3. Est relacionada aos objetivos e s metas de cada indivduo.4. A melhora est relacionada capacidade de identificar e de atingir esses
objetivos.5. A doena e seu respectivo tratamento podem modificar esses objetivos.6. Os objetivos necessariamente precisam ser realistas, j que o indivduo
precisa manter a esperana de poder atingi-los.7. A ao necessria para diminuir o hiato entre a realizao dos objetivos
e as expectativas, quer pela realizao dos objetivos, quer pela reduodas expectativas. Essa ao pode se dar atravs do crescimento pessoalou da ajuda dos outros.
8. O hiato entre as expectativas e a realidade pode ser, justamente, a foramotora de alguns indivduos.
CONSIDERAES FINAIS
A introduo do conceito de qualidade de vida foi uma importante contribui-o para as medidas de desfecho em sade. Por sua natureza abrangente e porestar estreitamente ligado quilo que o prprio indivduo sente e percebe, tem umvalor intrnseco e intuitivo. Est intimamente relacionado a um dos anseios bsi-cos do ser humano, que o de viver bem e de sentir-se bem.
Definir a qualidade de vida ou seus conceitos mais prximos (felicidade ebem-estar) uma preocupao antiga (Aristteles, 2003). No entanto, a busca daoperacionalizao desse construto e do desenvolvimento de instrumentos capazesde medi-lo vem exigindo empenho considervel em vrios nveis: conceitual, me-todolgico, psicomtrico e estatstico. Assim, um efeito secundrio mas no menosimportante advm dessa busca: um importante avano em novas tecnologias dedesenvolvimento de instrumentos, aprimoramento dos modelos tericos para con-
-
A avaliao de qualidade de vida 27
templar a complexidade desse construto, alm da conscincia de que os aspectossociais e transculturais so extremamentes relevantes e precisam ser incorpora-dos. Frente a esses desafios, talvez como em poucos campos do conhecimento, asmetodologias qualitativa e quantitativa tm sido aliadas importantes para medir oque Fallowfield (1990) definiu como a medida que faltava na rea da sade.
REFERNCIAS
ALBRECHT, G. L.; DEVLIEGER, P. J. The disability paradox: high quality of life against allodds. Social Science and Medicine, v.48, n.8, p. 977-88, 1999.
ARISTTELES. A tica. So Paulo: Edipro, 2003.
BOWLING, A. Measuring health. Filadlfia: Open University Press, 1997.
CALMAN, K. C. Definitions and dimensions of qualiy of life. In: AARONSON, N. K.,BECKMANN, J. The quality of life of cancer patients. Nova York: Raven Press, 1987.
CALMAN, K. C. Quality of life in cancer patients: an hypothesis. Journal of Medical Ethics,v. 10, n.3, p. 124-177, 1984.
CAMPBELL, A.; CONVERSE, P. E; RODGERS W. L. The quality of american life: perceptions,evaluations and satisfactions. Nova York: Russel Sage Foundation, 1976.
DIENER, E. Subjective well-being. Pyschological Bulletin, v. 95, n. 3, p. 542-575, 1984.
FALLOWFIELD, L. Quality of life: the missing measure in health care. Nova York: SouvenirPress, 1990.
FARIAS, N.; BUCHALLA, C. M. A classificao internacional de funcionalidade, incapaci-dade e sade da organizao mundial da sade: conceitos, usos e perspectivas. Revista.Brasileira de Epidemiologia, v. 8, n. 2, p. 187-193, 2005.
FLECK, M. P.; LEAL, O. F.; LOUZADA, S.; et al. Development of the Portuguese version ofthe OMS evaluation instrument of quality of life. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 21, n.1, p. 19-28, 1999.
GILL, T. M.; FEINSTEIN, A. R. A critical appraisal of the quality of quality-of-life measu-rements. JAMA, v. 272, n. 8, p. 619-26, 1994.
GLADIS, M. M.; GOSCH, E. A.; DISHUK, N. M.; et al. Quality of life: expanding the scopeof clinical significance. Journal of Consultant and Clinical Psychology, v. 67, n. 3, p. 320-331, 1999.
GURIN, G.; VEROFF, J.; FELD, S. Americans view their mental health. Nova York: BasicBooks, 1960.
HUNT S. M. The problem of quality of life. Quality of Life Research, v. 6, n. 3, p. 205-212, 1997.
KANHEMAN, D.; DIENER, E.; SCHWARZ, N. Preface. In: KANHEMAN, D.; DIENER, E.;SCHWARZ, N. Well-being: the foundations of the hedonic psychology. Nova York: The RusselSage Foundation, 1999.
KAPLAN R, M.; ANDERSON, J. P.; WU, A. W.; et al. The Quality of Well-being Scale. Applicationsin AIDS, cystic fibrosis, and arthritis. Medical Care, v. 27, n. 3, p. S27-43, 1989.
MASLOW, A. H. Motivatyion and Personality. Nova York: Harper & Row, 1954.
McKENNA, S. P.; WHALLEY, D. Can quality of life scales tell us when patients begin to feelbenefits of antidepressants? European Psychiatry, v. 13, n. 146-153, 1998.
-
28 Marcelo Pio de Almeida Fleck & cols.
MEDICAL SUBJECT HEADINGS. Site. Disponvel em: . Acesso em: 11 out. 2005.
MORE, T. A utopia. So Paulo: Edipro, 1994.
ORGANIZAO MUNDIAL DA SADE. Constituio. Nova York: OMS, 1946.
PATRICK D. Patient report Outcomes (PROs): an organizing tool for concepts, measuresand applications. Mapi Research Institute Newsletter, v. 31, p. 1-5, 2003.
PATRICK, D. L; ERIKSON, P. Health status and health policy. Oxford: Oxford UniversityPress; 1993.
PATRICK, D. L.; BUSH, J. W.; CHEN, M. M. Methods for measuring levels of well-being fora health status index. Health Service Research, v. 8, n. 3, p. 228-245, 1973.
SELIGMAN M, E.; CSIKSZENTMIHALYI, M. Positive psychology: an introduction. AmericanPsychologist, v. 55, n. 1 p. 5-14, 2000.
THE WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL):position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, v. 41, n. 10, p.1403-1409, 1995.
WILSON, I. B.; CLEARY, P. D. Linking clinical variables with health-related quality of life. Aconceptual model of patient outcomes. JAMA. v. 4, n. 273, p. 59-65, 1995.