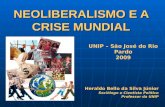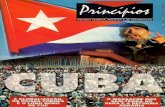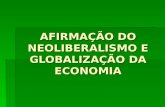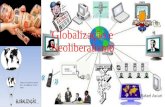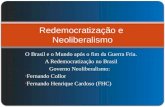Rosana Soares Campos - Escolhas Políticas, Decisões Econômicas, Consequências Sociais...
-
Upload
paulopedrozo -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of Rosana Soares Campos - Escolhas Políticas, Decisões Econômicas, Consequências Sociais...
-
ROSANA SOARES CAMPOS
ESCOLHAS POLTICAS, DECISES ECONMICAS, CONSEQUNCIAS SOCIAIS
Um estudo sobre os impactos da democracia procedimental e do neoliberalismo na Amrica Latina e no Brasil
Porto Alegre, RS
Janeiro de 2010
-
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PS GRADUAAO EM CINCIA POLITICA
ESCOLHAS POLTICAS, DECISES ECONMICAS, CONSEQUNCIAS SOCIAIS
Um estudo sobre os impactos da democracia procedimental e do neoliberalismo na
Amrica Latina e no Brasil
Tese de doutorado apresentada por Rosana Soares Campos sob a
orientao do professor doutor Cesar Marcello Baquero Jacome
Porto Alegre, janeiro de 2010
-
Dedicatria
A mame
Diante da mquina de costura, j passando da meia noite, ela fazia planos para um futuro melhor s filhas. Por isso, de dia trabalhava numa dura jornada de trabalho assalariado e precrio, e noite cosia para complementar a renda. Mulher, viva, pobre, quatro filhas, chefe de famlia, escolaridade mediana e exercendo atividades mal remuneradas, ela ultrapassou obstculos, venceu batalhas e nos ensinou que a pobreza no uma condio natural para a humanidade. fruto de uma relao desigual, produzida e reproduzida por relaes humanas, que podem e devem ser mudadas. Sua trajetria de vida um exemplo de luta e superao dessa condio de pobreza humana.
3
-
Agradecimentos
Ao Programa de Ps Graduao em Cincia Poltica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul pela possibilidade de desenvolver esta pesquisa atravs do apoio
financeiro, via bolsa Capes.
Ao meu orientador, professor doutor Marcelo Baquero, pelas contribuies terica
e prtica, pela compreenso e pelo grande incentivo para que eu pudesse finalizar esta
tese.
A Christiane Campos, irm e amiga de todas as horas, pelas valiosas contribuies
durante a elaborao da tese; inclusive nas infindveis noites que passamos discutindo,
debatendo e escrevendo este trabalho.
A Vagner Anabor, marido e companheiro, pelo incentivo e colaborao na
finalizao emprica da tese.
A Rosngela Campos, irm querida, pelo incentivo e colaborao na
operacionalizao deste trabalho.
A amiga Patrcia Cunha pela fora, incentivo e apoio para que eu pudesse
terminar a tese, mesmo diante dos dos obstculos impostos pela vida.
Aos amigos Gissel Briceo, Norma Leitte, Cristiano Silva, Marcelo Heleno,
Leandro Resende, Eleyda Moreira, Karine Bertani, Joana Tereza, Lorena Madruga,
Adriana Seixas e Miriam Lemos por me incentivarem nesta longa caminhada.
Ao programa CLACO-CROP Estudios de Pobreza por me dar a oportunidade de
conhecer outros modos de compreender e analisar os fenmenos sociais atravs de uma
bolsa de pesquisa e dos cursos promovidos pelo Campus Virtual.
A professora Snia Leguizamn, que me fez compreender que a pobreza um
fenmeno social produzido e constantemente reproduzido pela ao humana.
4
-
Resumo
O objetivo desta tese mostrar como a democracia de procedimentos foi
funcional para a implementao e a consolidao de polticas econmicas neoliberais
que, por sua vez, acarretaram aumento do desemprego, expanso do mercado de trabalho
informal e da pobreza na Amrica Latina, de um modo geral, e do Brasil,
particularmente. Para cumprir o objetivo, analisou-se inicialmente a democracia sob a
perspectiva liberal, com a pretenso de evidenciar o discurso e a prtica democrtica
procedimental implementada na Amrica Latina, durante o processo de redemocratizao
da regio, nos quais a democracia resumiu-se apenas a um mtodo poltico,
negligenciando os aspectos sociais e econmicos do regime. Posteriormente, o
neoliberalismo foi analisado como uma ideologia poltico-econmica cujo principal
objetivo a expanso da acumulao capitalista. Em seguida, as conseqncias sociais da
implementao do neoliberalismo na regio foram analisadas sob a perspectiva do mundo
do trabalho e da pobreza, de forma a testar a hiptese de relao entre reformas
econmicas neoliberais e desemprego e pobreza, a qual foi confirmada. Para finalizar, a
tese foram apresentados os impactos dessas polticas econmicas no Brasil e mais
detalhadamente nos trabalhadores do mercado de trabalho informal, utilizando como
estudo de caso trabalhadoras do comrcio de rua (camels) de Porto Alegre/RS. Desse
modo, a pretenso evidenciar que escolhas polticas, em particular a democracia
procedimental, favoreceram determinadas decises econmicas, o neoliberalismo, que,
por sua vez, acarretaram conseqncias sociais como o aumento do desemprego e da
pobreza na regio latina.
Palavras-chave: democracia procedimental, neoliberalismo, trabalho, pobreza, Amrica
Latina e Brasil.
5
-
Abstract
This research shows as the procedural democracy was important to
implementation of neoliberal economic politics, which caused more unemployment,
underemployment and poverty in the Latin America and Brazil. Firstly, it analyses the
democracy in the liberal perspective to show the procedural democratic speech and
practice implemented in the Latin America during the democratization process. This kind
of democracy is only a political method which carelessness economic and social aspects.
Secondly, the neoliberal model is studied as a economic political ideology, whose main
objective is the capitalism expansion. Thirdly, the social consequences of neoliberal
economic policies in the region were analyzed through of the labor and poverty, to verify
if there is a relationship between economic reforms, work and poverty. Finally, this thesis
presented the impacts of these economic policies in Brazil. To exemplify, it was showed
a case study about these impacts in workers of the informal labor market. In this way, this
thesis intends to confirm that political chooses, like the procedural democracy, benefit
certain economic decisions, as the neoliberalism, that caused drastic social consequences
to the population; as more unemployment and poverty.
Key words: procedural democracy, neoliberalism, labor, poverty, Latin America and
Brazil.
6
-
Resumen
El objetivo de esta tese es evidenciar como la democracia de procedimientos fue
funcional para la implementacin y consolidacin de las polticas econmicas
neoliberais, que provocaron mas de desempleo, expansin de lo mercado de trabajo
informal y de la pobreza en la Amrica Latina, en general, y en lo Brasil, en particular.
Para cumplir lo objetivo, se analiz, inicialmente, la democracia bajo la perspectiva
liberal, con la pretensin de evidenciar lo discurso e la practica democrtica de
procedimientos, implementados en la Amrica Latina durante lo proceso de
redemocratizacin en la regin, en los cuales la democracia se resumi en un mtodo
poltico, con negligencia a los aspectos econmicos e sociales de lo regime.
Posteriormente, el neoliberalismo fue analizado como una ideologa poltico econmica
con el objetivo de expandir la acumulacin capitalista en la regin. Enseguida, las
consecuencias sociales de la implementacin de estas polticas fueron analizadas bajo la
perspectiva de lo mundo del trabajo e da pobreza, para testar la hiptese de que ha una
relacin entre reformas econmicas, desempleo e pobreza; que fue confirmada. Para
finalizar, la tese present los impactos de estas polticas en el Brasil e con ms detalles en
los trabajadores de el mercado de trabajo informal, utilizando como estudio de caso
trabajadoras ambulantes de Porto Alegre/RS. De este modo, la pretensin es evidenciar
que escojas polticas, el tipo de democracia de procedimientos, fueron funcionales para
determinadas decisiones econmicas, la poltica neoliberal, que, por su vez, provocaron
ms desempleo e ms pobreza en la regin.
Palabras claves: democracia de procedimientos, neoliberalismo, trabajo, pobreza, Amrica Latina y Brasil
7
-
Sumrio
Introduo 12
Captulo I escolhas polticas 221.1 Compreendendo a democracia liberal 241.1.1 Abordagens e tipos de democracia 281.1.2 Conceituando a democracia sob a tica procedimental 331.1.2.1 Definindo democracia para alm das eleies, mas apenas um regime poltico
41
1.1.3 As pessoas na democracia um prottipo das democracias industriais?
46
1.1.4 O conceito de democracia predominante na Amrica Latina 551.2 As compatibilidades entre democracia e capitalismo 621.2.1 Institucionalizao democrtica e estabilidade econmica 671.3. Algumas consideraes 73
Captulo II Decises econmicas: implementao de polticas econmicas neoliberais
77
2.1- Compreendendo o neoliberalismo 792.2 O modelo de desenvolvimento dependente 932.3 O contexto latinoamericano: as dcadas que antecederam o decnio neoliberal
99
2.4 O Consenso de Washington 1082.5 Os governos democrticos e a dcada neoliberal na Amrica Latina 1102.5.1 O contexto neoliberal dos anos 1990 1152.6 Algumas consideraes 127
Captulo III Consequncias sociais: desemprego/subemprego e pobreza
130
3.1 Trabalho: suas transformaes no perodo neoliberal 1313.2 Pobreza como uma produo social 1373.3 Comportamento do trabalho 1493.3.1 Trabalho: consequncias neoliberais na dcada de 1990 1563.4 Pobreza em nmeros 1663.5 A empiria confirmando as hipteses 172
Captulo IV Governos democrticos e consequncias sociais do neoliberalismo no Brasil
180
4.1 O discricionarismo de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso na implementao de polticas econmicas de cunho neoliberal
184
4.2 Desemprego/subemprego e pobreza no Brasil dos anos 1990 1934.3 Mulheres camels: o retrato da pobreza e da precarizao do trabalho no Brasil
208
4.3.1 Os camels no contexto local 214
8
-
4.3.2 Quem so 2154.3.3 Trabalho e precarizao 2174.3.4 Habitao e Bens 2204.3.5 As subcategorias 2214.4 Democracia formal e desigualdade social: algumas consideraes 225
Concluso 229
Bibliografia238
9
-
Lista de Grficos
Grfico 1 - Porcentagem do crescimento dos PIBs regional e per capita 1980-88 na Amrica latina
103
Grfico 2 Evoluo em porcentagem do crescimento de setores econmicos na Amrica Latina
104
Grfico 3 Taxa de desemprego urbano na Amrica Latina 1980-88 106Grfico 4 Dvida externa latinoamericana 1970-1998 (em milhes de dlares) 116Grfico 5 Valor das privatizaes na Amrica Latina dcada de 1990 119Grfico 6 PIB da Amrica Latina 1991-1999 (regional e per capita) 120Grfico 7 Evoluo em porcentagem do crescimento de setores econmicos na Amrica Latina 1993/1996/1998
121
Grfico 8 Porcentagem da distribuio de renda na Amrica Latina 1990-1999
124
Grfico 9 Gasto pblico social por habitante na Amrica Latina 1990-91 e 1998-99 (em dlar)
126
Grfico 10 Comportamento do desemprego na Amrica Latina 1975-1999 151Grfico 11 Porcentagem dos trabalhadores empregados no mercado de trabalho informal na Amrica Latina 1980/1985/1990/1995/1999
152
Grfico 12 Estrutura do emprego por setor da economia na Amrica Latina 153Grfico 13 Remunerao mdia na Amrica Latina/valor de referncia $ 100,00 155Grfico 14 Taxa de desemprego aberto na Amrica Latina/ dcada de 1990 157Grfico 15 Taxa de desemprego por quintil de renda na Amrica Latina 1990-1999 158Grfico 16 Taxa de participao x taxa de ocupao da PEA Amrica Latina 1990 e 1999
159
Grfico 17 Salrio mnimo na Amrica Latina / dcada de 1990 valor referncia $ 100,00
162
Grfico 18 Evoluo da pobreza e da indigncia na Amrica Latina 1980/1986/1990/1994/1997/1999
167
Grfico 19 Coeficiente da brecha entre renda dos pobres e linha de pobreza na Amrica Latina 1990-1999
168
Grfico 20 Porcentagem de lares em situao de pobreza e indigncia na Amrica Latina 1980/1990/1994/1997/1999 169Grfico 21 ndice de reforma econmica na Amrica Latina dcada de 1990 173Grfico 22 Dvida externa brasileira: dcada de 1990 (em dlar) 189Grfico 23 PIB brasileiro dcada de 1990 194Grfico 24 Taxa de desemprego no Brasil dcada de 1990 196Grfico 25 Porcentagem de ocupados por setor da economia: agricultura/indstria/servios 1990/1995/1999 198Grfico 26 Porcentagem de pobres e indigentes no Brasil 1990/1996/1999 203Grfico 27 Subcategorias x faturamento x renda das mulheres camels em Porto Alegre 223
10
-
Lista de tabelas
Tabela 1 Pobreza e extrema pobreza na Amrica Latina em nmeros absolutos e relativos 1986e 1989 mdia dos pases
107
Tabela 2 ndice de Gini da Amrica Latina 1990-1999 123Tabela 3 Reformas e realidades na Amrica Latina 128Tabela 4 Estrutura do emprego urbano latinoamericano 1990/1995/1999 160Tabela 5 Porcentagem de trabalhadores ocupados em estratos produtivos
por anos de estudos na Amrica Latina / 1990 e 1999163
Tabela 6 Estrato produtivo por horas de trabalho semanal na Amrica Latina / 1990 e 1999
164
Tabela 7 Estrato produtivo por cobertura da previdncia social na Amrica Latina / 1990 - 1999
165
Tabela 8 Incidncia da pobreza em algumas categorias profissionais na Amrica Latina 1990/1994/1997/1999
170
Tabela 9 Evoluo das reformas econmicas, desemprego e pobreza na Amrica Latina
173
Tabela 10 Estrutura do emprego urbano no Brasil 1990/1995/1999 199Tabela 11 - Distribuio de renda por estrato econmico 1990/1996/1999 204Tabela 12 Incidncia da pobreza em algumas categorias profissionais no
Brasil 1990/1991/1997/1999 (zonas urbanas)207
Tabela 13 Porcentagem de mulheres e homens por categoria de ocupao dcada de 1990
210
Lista de quadros
Quadro 1 Definies de democracia com base em pesquisas sobre democratizao na terceira onda democrtica
30
Quadro 2 Resultado do teste estatstico entre as variveis reforma econmica e desemprego
174
Quadro 3 Coeficiente do aumento do desemprego a cada unidade de r. e. 175Quadro 4 Resultado do teste estatstico entre as variveis reforma econmica e pobreza 176Quadro 5 Coeficiente do aumento da pobreza a cada unidade de r. e. 176
Lista de figuras
Figura 1 Diagrama de disperso das variveis reforma econmica e desemprego
175
Figura 2 Diagrama de disperso das variveis reforma econmica e pobreza
177
Figura 3 Proporo da renda apropriada conforme estratos da sociedade 204Figura 4 Porcentagem de carga tributria, segundo dcimos de renda 1999 205
11
-
Introduo
Se Tocqueville observasse a Amrica Latina nos anos 1990 surpreender-se-ia com
a desigualdade de condies. Um cenrio bem diferente do que ele encontrou na Amrica
do fim do sculo XVIII. Nada me surpreendeu com mais fora do que a igualdade geral
de condies do povo. (Tocqueville, 1987:33). Para ele, essa igualdade era a ferramenta
bsica na construo da democracia, e, sem ela, o regime se mostrava insuficiente para
superar as poderosas tendncias de desigualdade inerentes ao desenvolvimento do
capitalismo. Conforme Tocqueville, a igualdade material levava a uma igualdade de
sentimentos que, por sua vez, formava a base para o princpio da cidadania. O alicerce
dessa igualdade material, de acordo com o autor, era a estrutura da propriedade uma
excepcional estrutura econmica e social igualitria baseada em pequenos proprietrios
de terra.
Na Amrica Latina, pelo menos desde a sua colonizao, a igualdade de
condies nunca foi um princpio. E orientando-nos pelas constataes de Tocqueville,
acerca da relao entre igualdade e democracia, talvez possamos entender as fragilidades
da democracia na Amrica Latina e sua incapacidade de possibilitar melhores condies
de vida populao.
A partir das constataes de Tocqueville, Terry Lynn Karl (2000) analisou as
desigualdades na Amrica Latina, desde sua colonizao at os anos 1990, e observou
que a estrutura da propriedade, ou o que ele chamou de padres de posse, produziu um
ciclo vicioso de desigualdade e fracasso democrtico. Conforme o autor, a produo
voltada para a exportao e sujeita a uma alta volatilidade do ambiente macroeconmico,
reduo da taxa de crescimento no longo prazo, uma piora na distribuio de renda,
concentrao de poder e riqueza contriburam para as enormes desigualdades, que
forneceram a base social para regimes autoritrios excluidores, os quais adotaram
modelos econmicos que desproporcionalmente beneficiaram os mais ricos e poderosos.
(Karl, 2000: 153).
A redemocratizao na Amrica Latina no final dos anos 1970, embora
apregoasse a esperana de melhores condies de vida para a populao, trouxe em seu
bojo uma concepo bem diferente do regime, construdo a partir de uma transio
12
-
pactuada que contemplava os interesses das elites polticas. A democracia, por esse
motivo, constituiu-se enquanto um regime eminentemente poltico, sem nenhuma
preocupao com aspectos econmicos e sociais, com forte teor liberal, baseada em
procedimentos e normas na qual a igualdade poltica se resumiu esfera eleitoral,
cabendo ao povo apenas escolher quem determinaria os rumos polticos dos pases. Uma
dimenso restrita de democracia que impediu a participao da sociedade na tomada de
decises e foi extremamente funcional para a implementao de polticas de cunho
neoliberal, favorecendo uma minoria em detrimento de uma maioria excluda do poder.
Os novos padres da democracia latino-americana foram traados conforme os
preceitos do mercado. O Consenso de Washington foi o marco econmico desse novo
padro de democracia latino-americano, impondo aos pases regras que desmantelaram
suas bases produtivas com as privatizaes, desregulaes financeiras e aberturas
comerciais, deixando, desse modo, merc da inseguridade social milhes de pessoas
que necessitavam dos servios pblicos e causando o empobrecimento de suas
populaes. A justificativa usada pelos governos foi a de que as reformas econmicas
eram a nica alternativa para sair da crise que assolava toda a regio no comeo dos anos
1980. Nesse sentido, medida que as elites polticas democrticas ocupavam o poder, as
polticas econmicas neoliberais ganhavam espaos e a igualdade por sua vez, ferramenta
bsica para a construo democrtica, tornava-se apenas uma ornamentao do discurso
democrtico-liberal.
Para Karl, a situao de tamanha desigualdade em fins do sculo XX deveu-se
forma como os pases da Amrica Latina foram governados. O autor chamou a ateno
para esse enorme crescimento na distncia entre ricos e pobres durante as duas ltimas
dcadas do sculo XX, que foi, segundo ele, provocado por polticas econmicas
neoliberais; evidenciando uma poderosa tendncia do ciclo vicioso de
desenvolvimento. Conforme ele, a distribuio de renda, que se tornou mais igual
durante os anos 1970, na Amrica Latina, piorou consideravelmente na dcada de 1980 e
permaneceu estagnada nos anos 1990.
Governos eleitos democraticamente legitimaram polticas econmicas que
causaram desemprego em massa, expanso do mercado de trabalho informal,
precarizao do trabalho, alm de provocar extenso e intensidade da pobreza na regio.
13
-
Isso s foi possvel porque o tipo de democracia implementado na regio teve como
objetivo apenas proporcionar populao, por via do voto direto, a escolha do seu
governante, sem questionar aspectos sociais e econmicos. E as reformas nos pases
latinos pretendiam abrir espaos aos investimentos externos e expandir os investimentos
internos privados, sem se preocupar com as consequncias sociais.
Foi levando em conta este contexto de democracia procedimental, polticas
econmicas de cunho neoliberal, de desemprego, pobreza e demais desigualdades sociais
que propomos a tese de que a democracia de procedimentos foi funcional para a
implementao e consolidao de polticas econmicas neoliberais na Amrica Latina
devido:
Hiptese 1: implementao, por parte dos governos eleitos democraticamente, da
maioria das recomendaes do Consenso de Washington; e com essa tomada de deciso
acreditamos que:
Hiptese 2: a democracia procedimental colaborou com o aumento do desemprego e da
pobreza na regio.
A partir dessas hipteses pretende-se mostrar que escolhas polticas, em particular
a democracia procedimental, favoreceram determinadas decises econmicas, o
neoliberalismo, que, por sua vez, acarretaram consequncias sociais como o aumento do
desemprego e da pobreza na regio latina.
Esta tese tem como objeto de estudo os impactos da democracia procedimental e
do neoliberalismo na Amrica Latina e no Brasil, visto que este tipo de democracia foi
funcional para a implementao de polticas de cunho neoliberal na regio. Escolhemos
dois dos mais graves impactos: desemprego/subemprego e pobreza, porque neste
continente, de um modo geral, e no Brasil, mais especificamente, estas duas
consequncias sociais se visibilizaram pela extenso e intensidade.
O mercado de trabalho foi o locus mais afetado pelas polticas econmicas
neoliberais causando desemprego em massa e expanso do mercado de trabalho informal,
desestruturando ou piorando ainda mais a situao de uma grande parcela da populao
com o aumento e intensidade da pobreza, contrariando as promessas das reformas
neoliberais de melhorias nos indicadores scio-econmicos da regio (Casanova, 2002;
Estenssoro, 2003). A quantidade de pobres na Amrica Latina reflete bem o que na
14
-
verdade as polticas neoliberais representaram para a maioria da populao latina. Em
1980 a pobreza incidia sobre 135 milhes de pessoas e ao final da dcada de 1990 j
eram 211 milhes de pessoas vivendo em situao de pobreza.
A dcada de 1990 o perodo de anlise desta tese porque foi o espao temporal
de consolidao da democracia de procedimentos, de auge e declnio das polticas
econmicas neoliberais nos pases da Amrica Latina e de acirramento das suas
consequncias sociais. A consolidao da democracia de procedimentos, na dcada de
1990, foi proposta no texto The decline of illiberal democracy, de Adrian Nycky
(1999), no qual o autor descreve atravs do survey da Freedom House, de 1998, a
emergncia e o fortalecimento da democracia eleitoral como uma das formas
predominantes de governo no mundo, citando, inclusive, os pases da Amrica Latina.
Para o autor, coordenador do survey, a emergncia de democracias eleitorais era o melhor
indicador do progresso poltico na regio.
Por sua vez, o texto As metamorfoses do Estado brasileiro no final do sculo
XX, de Braslio Salum Jr (2003), descreve a dcada de 1990 como o perodo de
implementao de polticas neoliberais, o qual pode ser inferido para a Amrica Latina,
devido ao avano do liberalismo econmico, em contrapartida s instabilidades polticas
e econmicas. O autor caracterizou o Estado neste perodo como liberal devido s
orientaes econmicas voltadas ao mercado como desregulamentao de atividades
econmicas e a privatizao das companhias estatais que no estivessem protegidas pela
lei, aumento da competitividade industrial, reduo das barreiras comerciais, privilgio
da esfera financeira sobre a produo, flexibilizao das leis trabalhistas, reduo do
controle do Estado sobre a economia, etc.
Conforme o autor, no incio do sculo XXI a implementao de uma vertente
liberal desenvolvimentista representou um recuo do governo frente s polticas
econmicas liberalizantes e ajustes fiscais recomendados pelo FMI. A desvalorizao da
moeda, a reduo do crescimento do PIB, o aumento do desemprego so alguns dos
fatores que motivaram mudanas nas relaes do Estado com o setor econmico, que
resultaram em um controle maior do governo sobre a economia e mais incentivo
governamental para as atividades produtivas. Em funo dessa mudana no papel do
Estado, tanto no Brasil quanto em outros pases da regio nos ltimos anos, que se
15
-
decidiu analisar somente a dcada de 1990 quando o neoliberalismo dominou a poltica
econmica, ainda que se mantenham muitas recomendaes do consenso de Washington.
Com relao s consequncias sociais, os dados da Comisso Econmica para
Amrica Latina e Caribe (CEPAL/2000) apontam o aumento do desemprego e da pobreza
na dcada de 1990 na Amrica Latina e o aumento do desemprego e a permanncia da
pobreza em patamares elevados no Brasil, onde cerca de 35% da populao vivia nesta
situao no pas.
O mtodo utilizado como base lgica da investigao foi o hipottico-dedutivo,
definido por Karl Popper (1975) como um mtodo que procura uma soluo atravs de
tentativas e eliminao de erros. Popper prope trs etapas na aplicao deste mtodo que
podem ser visualizadas neste trabalho:
o problema - A democracia procedimental foi funcional para a implementao de
polticas neoliberais e, por conseguinte, acarretou o aumento do desemprego e da pobreza
na dcada de 1990 na Amrica Latina, em geral, e no Brasil, em particular?;
a soluo (que o autor denominou de deduo das consequncias na esfera das
proposies) o aumento do desemprego e a expanso e intensidade da pobreza na
Amrica Latina;
teste de falseamento (descrito por Popper como a tentativa de refutao ou aceitao da
hiptese) confirmao da hiptese de que a democracia procedimental foi funcional
para o neoliberalismo, e de que este acarretou mais desemprego e pobreza na Amrica
Latina e no Brasil provocou aumento do desemprego e a manuteno da pobreza em um
patamar elevado, 35% da populao.
Com relao aos mtodos que indicam os meios tcnicos da investigao foram
utilizados o mtodo estatstico, anlise de dados secundrios e o mtodo monogrfico,
que parte do princpio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado
representativo de muitos outros. Foram analisados dados secundrios de organismos
internacionais como a CEPAL, OIT (Organizao Internacional do Trabalho), PNUD
(Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento) e de organismos nacionais como
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) e o IPEA (Instituto de Pesquisas
Econmicas e Aplicadas). No mtodo estatstico foram utilizados testes de correlao e
regresso com dados secundrios da CEPAL. No mtodo monogrfico foi utilizada uma
16
-
pesquisa emprica desenvolvida por esta pesquisadora para descrever como as polticas
neoliberais impactaram na vida dos trabalhadores no Brasil, a partir de um survey
realizado com cem mulheres camels em Porto Alegre.
A tese se fundamenta em quatro categorias de anlise: democracia,
neoliberalismo, o mundo do trabalho (emprego/desemprego/subemprego) e pobreza. A
democracia discutida sob o ponto de vista liberal, no perodo de redemocratizao na
Amrica Latina, o qual Samuel Huntington1 (1991) caracterizou como terceira onda
democrtica. O neoliberalismo analisado como uma ideologia poltico-econmica que
prega o livre mercado e a liberdade individual. O mundo do trabalho visto sob as
perspectivas do emprego, desemprego, subemprego, mercado de trabalho, informalidade
e precarizao do trabalho. E, por fim, a pobreza analisada como um fenmeno social
produzido e reproduzido atravs de relaes entre pessoas em lugares e espaos
definidos.
Este trabalho se justifica na medida em que busca suprir uma lacuna existente nos
estudos e pesquisas sobre democracia e economia de mercado, mais especificamente o
neoliberalismo, com o objetivo de agrupar em um s trabalho pesquisa normativa e
emprica. Do ponto de vista poltico, h muitos estudos sobre a relao entre democracia
e economia de mercado/capitalismo/neoliberalismo. Porm estes estudos, quase na sua
totalidade, se mostram normativos e formais.
Na Amrica Latina, Atlio Born (1995, 2004) uma das referncias em
pesquisas sobre o tema, porm numa perspectiva apenas normativa. O autor argumenta
que o capitalismo na periferia da economia mundial no reproduziu instituies polticas
democrticas, como nos pases em que se desenvolveu originalmente. E no v aliana
nenhuma entre mercado e democracia. Ao contrrio, diz ele: En realidad el
neoliberalismo remonta en un dilema mucho ms grave y, tal vez por eso, mucho menos
explicitado: mercado o democracia. La democracia es el verdadero enemigo, aquello que
est en el fondo de la crtica antiestatalista del neoliberalismo. No es al Estado a quien se
combate, seno al Estado democrtico. (Born, 2004:100).
1 Para Huntington (1991), houve trs ondas de democratizao na histria do mundo moderno. Primeira onda: 1820 a 1926 com 29 democracias. Segunda onda:depois da II Guerra Mundial, com o auge em 1962 com 36 pases governados democraticamente. Terceira onda: 1974 a 1990.
17
-
Para Born, essa coincidncia entre democracia e capitalismo uma novidade de
nosso sculo, que s foi possvel porque a primeira foi rebaixada a apenas regras
procedimentais, coexistindo assim sem muitos conflitos ou represses. E mesmo os
avanos democrticos, conforme o autor, no foram obras da burguesia no Estado. Foi
resultado de mobilizao poltica das classes subalternas, que com protestos e
reivindicaes, partidos e sindicatos foraram a democratizao do estado liberal. O que
as revolues burguesas criaram, segundo o autor, foi um Estado liberal, fundado em uma
base eleitoral estreita que as lutas populares obrigaram a expandir. Um Estado que
assegura o predomnio das classes dominantes de dois modos: atravs do aparato estatal e
de recrutamento de quadros dirigentes, e de mecanismos que possibilitem a produo,
distribuio e o consumo estarem nas mos da burguesia. Born lana hipteses,
proposies e expe problemas que ele tenta resolver do ponto de vista formal, sem a
preocupao de test-los.
A americana Ellen Wood (2003) tambm examina esta temtica no livro
Democracia contra capitalismo a renovao do materialismo histrico, argumentando
e propondo atravs da normatividade os prejuzos do capitalismo democracia. Segundo
ela, o capitalismo estritamente antittico democracia no somente pela razo bvia de
que nunca houve uma sociedade capitalista em que a riqueza no tivesse acesso
privilegiado ao poder, mas tambm, e, principalmente, porque a condio insupervel de
existncia do capitalismo o fato de a mais bsica das condies de vida, as exigncias
bsicas de reproduo social, terem de se submeter aos ditames da acumulao do capital
e s leis do mercado (Wood, 2003:08).
Em mbito nacional Renato Boschi (2004) esboa a relao entre democracia e as
reformas econmicas neoliberais e seus consequentes impactos na populao brasileira.
O autor afirma que as reformas institucionais realizadas pelo Estado a partir da
redemocratizao intensificaram o convvio da democracia representativa com altos
graus de excluso social. Porm, como os demais autores j citados, aborda o assunto sob
a perspectiva normativa, sem o intuito de testar hipteses lanadas.
A produo de teses e dissertaes no Brasil sobre esta temtica ou do nfase
democracia ou economia de mercado. No h teses que evidenciem a funcionalidade da
democracia procedimental para a implementao de polticas neoliberais que, por sua
18
-
vez, acarretaram desemprego e pobreza. Um trabalho mais prximo desta temtica,
porm sem abordar o tema democracia, a pesquisa de Luiz Estenssoro (2003),
Capitalismo, Desigualdade e Pobreza na Amrica Latina, na qual o autor defende a tese
de que a pobreza e a desigualdade, no sendo exclusivas do capitalismo, persistem e
crescem neste modo de produo devido a dois processos: crescimento econmico
capitalista e superexplorao dos trabalhadores.
Muitos poderiam citar o estudo de Adam Przeworski (1989) Capitalismo e
social-democracia como exemplo dessa temtica. verdade, Przeworski analisa a
democracia como um regime funcional ao capitalismo. Porm numa perspectiva
institucionalista e normativa.
Do ponto de vista econmico grande o volume de pesquisas que mostram as
consequncias neoliberais na regio latina e tambm no Brasil sob a perspectiva emprica
(Toni, 2004; Cacciamalli, 2003; Pochmann, 2001; Pamplona, 2001, anurios da
CEPAL,1999,2000,2001) Mas o tipo de democracia implementado na regio no um
tema vinculado s polticas neoliberais e seus desajustes sociais. Portanto, esta tese a
tentativa de suprir a lacuna entre as dimenses politica e econmica, normativa e
emprica, sob a anlise da funcionalidade da democracia de procedimentos para a
implementao de polticas econmicas neoliberais, que, por sua vez, acarretaram
drsticas consequncias sociais para a populao em geral.
Esta tese est dividida em quatro captulos. No primeiro captulo, diferentemente
de grande parte dos trabalhos sobre democracia, apresentamos este conceito sob o ponto
de vista apenas liberal e suas inclinaes. O objetivo apresentar os discursos sobre
democracia que influenciaram a concepo desse regime na Amrica Latina. E o discurso
predominante na academia a partir do incio desta terceira onda democrtica o de uma
democracia eminentemente voltada a um sentido poltico, formal, com suas atenes
concentradas na elite poltica, suas decises e estratgias. So inmeras as tentativas de
conceituar, classificar e institucionaliz-la, objetivando separar a democracia poltica de
sua face econmica e social. Neste sentido, analisa-se o conceito de democracia liberal
para compreender o conceito de democracia predominante na terceira onda democrtica.
A seguir, enfocam-se tipos de conceitos de democracia mais utilizados nos estudos da
onda democrtica. Seguindo esta linha, abordamos algumas das principais teorizaes
19
-
que convergem para uma democracia formal na Amrica Latina sob esta perspectiva, e,
por fim, so observadas as anlises de alguns autores sobre as compatibilidades entre
democracia e capitalismo. Busca-se, portanto, examinar a formao do discurso sobre
democracia nesta perspectiva procedimental, implementado na Amrica Latina, apesar de
existirem controvrsias e outras alternativas que atendiam mais s demandas populares.
No segundo captulo o objetivo compreender o neoliberalismo enquanto um
processo, analisando o surgimento deste como ideologia e depois como uma prtica
poltico-econmica, evidenciando o contexto latino-americano que favoreceu estas
polticas de cunho neoliberal. O intuito mostrar como e porqu a Amrica Latina foi se
tornando uma regio neoliberal. Este captulo apresenta as consequncias neoliberais de
uma forma geral, comparando o comportamento econmico e social da Amrica Latina
nos anos 1980 e 1990.
J no terceiro captulo, o cerne desta pesquisa j que nele que confirmamos
nossa hiptese, evidenciamos a aguda realidade produzida e reproduzida pelas polticas
neoliberais a partir de duas de suas mais graves consequncias: o
desemprego/subemprego e a pobreza. Enfocamos a questo do trabalho e da pobreza sob
uma perspectiva terica e, posteriormente, demonstramos atravs de dados secundrios o
quo intensas foram essas consequncias para a populao latina. Para finalizar o captulo
verifica-se a hiptese de que as reformas econmicas neoliberais tm forte relao
estatstica com o aumento do desemprego e da pobreza na Amrica Latina.
Por fim, no quarto captulo discute-se a funcionalidade da democracia
procedimental estabelecida no Brasil para a implementao das polticas neoliberais,
atravs dos governos Collor e FHC. Objetivamos mostrar como essa teoria materializou-
se em prticas que fortaleceram o modelo scio-econmico neoliberal no Brasil.
Posteriormente, evidenciamos as duas principais consequncias dessas polticas, no
entender da pesquisadora, o aumento do desemprego/subemprego e a constante pobreza,
que na dcada de 1990 se manteve no patamar dos 35% no pas, considerado, na poca, a
oitava economia mundial. Para concluir este captulo, apresentamos um estudo de caso
sobre mulheres trabalhadoras do mercado de trabalho informal, com o propsito de
avaliar como as polticas neoliberais atingiram a classe trabalhadora no pas,
particularmente a parcela da populao que mais empobrecida; como o caso das
20
-
mulheres. Este estudo de caso foi realizado em 2007 com cem mulheres camels em
Porto Alegre a partir de um survey, cujo objetivo era verificar o impacto das polticas
neoliberais na trabalhadora informal.
Desse modo, observamos que se a igualdade a base da democracia, como
afirmou Tocqueville, o contexto neoliberal na Amrica Latina foi o cenrio menos
propcio para uma construo democrtica, uma vez que as polticas neoliberais foram
geradoras de enormes desigualdades sociais. Nesse sentido, a relao harmnica entre
democracia e neoliberalismo, na dcada de 1990, s foi possvel graas ao rebaixamento
da democracia a meros procedimentos, como sugeriu Atlio Born (2004).
Portanto, a anlise desse perodo histrico na Amrica Latina, em geral, e no
Brasil, em particular, revela que as escolhas polticas, ou seja, a democracia
procedimental, esto relacionadas com decises econmicas, neste caso a implementao
de polticas de cunho neoliberal que, por sua vez, produziram graves consequncias no
campo social.
Desse modo, acreditamos que a contribuio desse estudo para a Cincia Poltica
consiste na proposio de ampliar a viso da democracia para alm de normas e
procedimentos, resgatando a estreita relao entre a poltica e as dimenses econmica e
social, que caracterizam a obra de importantes autores da Cincia Poltica, como
Tocqueville. E, nesse sentido, podemos dizer que a contribuio desta tese, para o debate
contemporneo sobre o tema, est em trazer discusso a concepo de que no a
democracia por si mesma que pode gerar desenvolvimento, reduzir a desigualdade,
produzir igualdade de oportunidades e condies s pessoas. Estes fatores dependem
muito do tipo de democracia implementado e esta, por sua vez, para sua consolidao, do
modelo econmico estabelecido.
21
-
Captulo I
1.- Escolhas Polticas
O conflito histrico entre poltica e economia ainda gera muitas polmicas sobre o
poder e a importncia de ambos na estrutura da sociedade. Nesta tese objetiva-se
sobrepor as tomadas de decises polticas sobre as econmicas, na medida em que
escolhas polticas levam implementao de determinadas polticas econmicas. Na
Amrica Latina, de uma forma geral, e no Brasil, mais particularmente, o tipo de
democracia implementada, no que Samuel Huntington2 (1991) chamou de terceira onda
democrtica, propiciou espaos amplos para a implantao de polticas econmicas de
cunho liberal.
A democracia na Amrica Latina foi se constituindo enquanto regime
eminentemente poltico, sob uma forte base terica liberal, que dominou os debates e
tornou-se hegemnica na formulao do pensamento democrtico latino. O discurso
pautou-se na separao da esfera poltica dos problemas econmico e social. A poltica
tornou-se o campo de uma democracia esvaziada de contexto, e vista apenas como um
mtodo, procedimento de deciso no espao de poder. A igualdade poltica se resumiu
esfera eleitoral, onde o povo escolhia quem iria determinar os rumos polticos dos pases.
Desse modo, muitas transies foram pactuadas, permanecendo a elite na esfera das
decises, onde definitivamente era o espao do poder, e o povo apenas no espao
eleitoral. Esse arranjo poltico permitiu a implementao de polticas econmicas que
favoreceram uma minoria em detrimento de uma maioria excluda da tomada de deciso.
Neste contexto, os novos padres da democracia latino-americana foram traados
segundo os preceitos do mercado. O Consenso de Washington3 foi o marco econmico 2 Para Huntington (1991), houve trs ondas de democratizao na histria do mundo moderno. Primeira onda: 1820 a 1926 com 29 democracias. Segunda onda:depois da II Guerra Mundial, com o auge em 1962 com 36 pases governados democraticamente. Terceira onda: 1974 a 1990. 3 O Consenso de Washington uma expresso utilizada para se referir a uma srie de orientaes de poltica econmica e social destinadas a reformas institucionais a serem implementadas na Amrica Latina. Essas orientaes foram elaboradas em meados dos anos 80, no Institute for Intenational Economics, de Washington, visando um novo crescimento econmico para a regio, com base em 10 pontos. 1) incremento da poupana mediante uma forte disciplina fiscal; 2) reorientao do gasto pblico para programas sociais bem elaborados (focalizao); 3)reforma do sistema tributrio para ampliar a base impositiva; 4) consolidao da superviso do Banco Central; 5) manuteno de tipo de cmbio competitivo; 6) liberalizao do comrcio intra-regional; 7) criao de uma economia de mercado altamente competitiva
22
-
desse novo padro de democracia latino-americano, impondo aos pases regras que
desmantelaram suas bases produtivas com as privatizaes, desregulaes financeiras e
aberturas comerciais, deixaram merc milhes de pessoas que necessitavam dos
servios pblicos e causaram o empobrecimento de suas populaes. Nesse novo cenrio,
a democracia, enquanto regime de governo, adquiriu uma concepo minimalista,
baseada em regras e procedimentos.
A dcada de 1990, perodo de anlise da pesquisa, foi simultaneamente o espao
temporal de auge e declnio deste tipo de democracia com base em procedimentos. A
fora do discurso democrtico-neoliberal do comeo da dcada, como o nico e
inevitvel caminho para as democracias (re)nascentes da Amrica Latina, tornou-se um
pesado fardo para a maior parte da populao da regio no fim dos anos 1990.
Desemprego, pobreza, trabalho informal, fome, descontentamento da populao foram
algumas das consequncias desse regime poltico-econmico.
Com base nessas observaes, este captulo apresenta os discursos sobre
democracia que influenciaram a concepo desse regime na Amrica Latina. E o discurso
predominante na academia a partir do incio desta terceira onda democrtica o de uma
democracia eminentemente voltada a um sentido poltico, formal, com suas atenes
concentradas na elite poltica, suas decises e estratgias. So inmeras as tentativas de
conceituar, classificar e institucionaliz-la, objetivando separar a democracia poltica de
sua face econmica e social. Neste sentido, inicialmente se examina o conceito de
democracia liberal para compreender o conceito de democracia predominante na terceira
onda democrtica. Aps essa explanao, vamos enfocar os tipos de conceitos de
democracia mais utilizados nos estudos desta onda democrtica. Seguindo esta linha, so
analisadas algumas das principais teorizaes que convergem para uma democracia de
procedimentos, em seguida, analisa-se o conceito de democracia na Amrica Latina sob
esta perspectiva, e, por fim, as anlises de alguns autores sobre as compatibilidades e/ou
incompatibilidades entre democracia e capitalismo. Busca-se, assim, avaliar a formao
do discurso sobre democracia nesta perspectiva procedimental/formal, implementado na
mediante privatizao e liberalizao de todos os mercados de bens e servios, com especial nfase na desregulao do mercado de trabalho; 8) garantia ao conjunto da sociedade os direitos de propriedade; 9) criao de um banco central autnomo, poder judicirio independente e incorruptvel, e entidades que promovam a produtividade; 10) incremento do gasto pblico educativo no ensino primrio e secundrio.
23
-
Amrica Latina, apesar de existirem controvrsias e outras alternativas que atendiam
mais s demandas populares.
muito importante essa passagem pela teoria para que possamos entender que s
foi possvel a implementao de polticas neoliberais de forma legitimada e to ampla
devido ao tipo de democracia implementado na regio. Uma democracia de
procedimentos, na qual a grande preocupao era garantir direitos polticos e civis
populao. Porm, sem a garantia de condies de acesso e oportunidades a todos, do
ponto de vista econmico e social. Ou seja, a preocupao por condies econmicas e
sociais foi deixada de lado no processo de redemocratizao, atendendo a um jogo de
interesses organizado pela elite poltica que ocupava o poder e procurava garantir a
participao popular na poltica atravs do voto sem mudar as estruturas econmicas e
sociais at ento vigentes.
nesse sentido que esta tese pretende demonstrar que a democracia de
procedimentos foi funcional para a consolidao de polticas econmicas neoliberais. A
implementao dessas polticas por parte dos governos eleitos democraticamente sugere
que este tipo de regime negligenciou o bem-estar da populao, e, por isso mesmo, tomou
decises que colaboraram com o aumento do desemprego e da pobreza na regio.
1.1 - Compreendendo a democracia liberal
Nosso foco de estudo a democracia na Amrica Latina no contexto da terceira
onda democrtica. A anlise do tema democracia, portanto, muda o seu foco, pois j no
h o debate polarizado entre democratas e no democratas. As preocupaes giram em
torno das complexidades do prprio regime e suas adaptaes nos diversos contextos em
que est sendo implementado. Porm, apesar da mudana na direo dos estudos e
anlises, a maioria das pesquisas e caracterizaes da democracia nesta terceira onda tem
em sua essncia os elementos da democracia liberal, surgida no sculo XIX como um
modelo de governo baseado em liberdades individuais e pouca ou nenhuma interveno
do Estado na esfera econmica. Entretanto, o modelo apresenta perspectivas de anlise
diferentes. Nesse sentido, faz-se necessrio conhecer que abordagens da democracia
liberal e autores, mais especificamente, influenciaram o modelo de democracia
24
-
predominante. Examina-se para este propsito o estudo de C. B. Macpherson sobre a
democracia liberal e suas vertentes.
Em seu clssico estudo A democracia liberal origens e evoluo, Macpherson
(1978) analisa a democracia liberal como um conceito matriz, e no como um conceito
rival-concorrente, dentro do qual se inserem diferentes modelos como democracia
protetora, democracia desenvolvimentista, democracia de
equilbrio(elitista/pluralista/eleitoral) e democracia participativa. E esse conceito-matriz
carrega em si um paradoxo, significando, por um lado, a democracia de uma sociedade de
mercado e, por outro, a democracia de uma sociedade empenhada em garantir que todos
os seus membros sejam igualmente livres para concretizar suas capacidades.
Conforme Macpherson (1978:10), essas duas noes de democracia liberal
estiveram desde ento incomodamente interligadas, cada qual com seus altos e baixos.
Porm, de acordo com ele, a perspectiva de mercado tem prevalecido. Mas ele acredita
que a continuidade da democracia liberal depende de uma diminuio gradual dos
pressupostos do mercado e uma ascenso gradual do direito igual de desenvolvimento do
indivduo.
At o sculo XIX, conforme Macpherson (1978), a democracia, enquanto teoria,
era pensada dentro de uma sociedade sem classes ou de classe nica, com base na posse
da propriedade. Seus defensores (Rousseau, More, Thomas Jepherson) acreditavam que
s se poderia viver democraticamente se todos os homens fossem iguais, com suas
propriedades ou totalmente sem. Mas era uma democracia limitada a quem fosse cidado.
Mulheres, por exemplo, estavam excludas. A partir do sculo XIX, com a presena da
burguesia no poder poltico e a fora do capitalismo, enquanto modo de produo e de
relaes sociais, criaram as condies para que a democracia fosse pensada dentro de
uma sociedade de classes, com interesses antagnicos.
No sistema capitalista, a democracia foi sendo pensada como uma forma de
governar, dentro dos parmetros do mercado. O liberalismo, enquanto ideologia, foi o
alicerce desse tipo de sistema democrtico, em que as leis eram as da oferta e procura, em
que o mercado reinava supremo, sem a interferncia do Estado, e o homem deveria ser
livre para tomar todas as suas decises, independentemente se essas afetariam
negativamente outros seres humanos. Assim nasceu a democracia liberal. A concepo
25
-
predominante da democracia liberal tinha em vista um homem maximizador de utilidades
e uma sociedade como o conjunto de indivduos com interesses conflitantes.
Macpherson observou dentro da teoria democrtica liberal quatro modelos, que
ora se superavam, ora se interpunham, mas tinham um veio em comum: a predominncia
da classe mais abastada no poder.
O primeiro modelo, a democracia protetora, teve como principais representantes
Jeremias Bentham e James Mill. Este modelo partia do pressuposto dos interesses
burgueses, onde a segurana dos proprietrios deveria estar acima da igualdade de todos.
Os autores defendiam a importncia da produtividade do sistema, da apropriao
ilimitada e o desejo ilimitado. A democracia deveria proteger os que estavam no poder.
No havia nenhuma noo de que ela pudesse ser uma fora transformadora do ponto de
vista moral, ela nada mais era do que uma exigncia lgica para o governo de indivduos,
inerentemente conflitando nos prprios interesses. A defesa dessa democracia repousa
na proposta de que o homem um consumidor ao infinito, que sua motivao
preponderante a maximizao de suas satisfaes ou utilidades, obtendo-as da
sociedade para si mesmo, na qual essa sociedade nacional nada mais do que um
conjunto desses indivduos4.
Nessa linha de anlise, Bentham (apud Macpherson) via com naturalidade e
inevitabilidade a massa de indigentes numa sociedade economicamente avanada. Da
mesma maneira, para James Mill, o governo era assunto de ricos, obtido por meios
condenveis ou bons. Ambos autores defendiam que para cada homem um voto, com
objetivo de apaziguar uma classe trabalhadora que mostrava indcios de tornar-se
articulada politicamente. Desse modo, o regime democrtico era um tipo de proteo aos
burgueses, no qual as razes em favor da democracia eram de natureza puramente
protetora aos seus interesses.
O segundo modelo, o desenvolvimentista, divergia um pouco do modelo protetor
em relao ao conceito do homem no apenas como um consumidor/ um utilitarista, mas
de valor moral, com possibilidade de autodesenvolvimento do indivduo. Seu maior
defensor foi John Stuart Mill, que tinha em mente, segundo Macpherson, um modelo de
democracia com uma viso moral e de uma sociedade livre e igual, ainda inatingvel.
4 Macpherson, C.B. Democracia Liberal origens e evolues. Rio de Janeiro: Zahar Editores, p.47.
26
-
Para Mill, a democracia era um meio necessrio para a possibilidade de aperfeioamento
humano, embora o autor aceitasse as leis do mercado, e acreditasse que a injusta
distribuio do produto do trabalho fosse acaso histrico e no um princpio capitalista. O
voto, para ele, deveria ser plural, ou seja, as classes sociais com menor nmero de
representantes deveriam ter mais votos, para impedir uma legislao classista. Alm
disso, pobres e analfabetos estavam excludos do direito ao voto. Em suma, este modelo,
de acordo com Macpherson, consistia em relaes capitalistas de mercado com a
possibilidade de igualdade de autodesenvolvimento individual e o afastamento da
imagem do homem como consumidor maximizante.
J no terceiro modelo, o de equilbrio, ou elitista pluralista, a democracia era vista
como um simples mecanismo para escolher e autorizar governos, e no uma sociedade
com fins morais. O mecanismo desse modelo de democracia liberal consistia em uma
competio entre dois ou mais grupos escolhidos de polticos ou agrupados em partidos.
Era um modelo que esvaziava o contedo moral da democracia proposto no modelo
desenvolvimentista. Seu precursor, Joseph Schumpeter (1984), caracterizava a
democracia apenas como um mtodo poltico e via neste cenrio uma compatibilidade
com a economia, onde os votantes eram os consumidores e os polticos, os empresrios.
A participao deveria ser algo limitado, pois poderia por em risco a estabilidade do
sistema. Essa afirmao motivou Macpherson a questionar as contradies deste modelo
baseado na extrema desigualdade.
Antony Downs (1999), adepto a esse modelo, em Teoria Econmica da
Democracia, apresenta um modelo de racionalidade poltica da democracia sob um
ponto de vista econmico, onde h consumidores e fornecedores. Para Downs, numa
sociedade democrtica, o principal objetivo do governo a reeleio e, portanto, a funo
poltica das eleies numa democracia selecionar um governo. Nesse sentido que
Downs entende racionalidade por uma ao que eficientemente planejada para
alcanar os fins econmicos ou polticos conscientemente selecionados do ator. Nessa
concepo, tudo se move pelo interesse pessoal/ individual. Conforme Downs (1999:63),
os homens racionais no esto interessados nas polticas per se, mas em suas prprias
rendas de utilidade. Se suas rendas de utilidades presentes so muito baixas a seus
prprios olhos, eles podem acreditar que quase qualquer mudana a ser feita aumentar
27
-
suas rendas. A racionalidade poltica de Downs a racionalidade econmica do mercado
e seu mais fiel arcabouo terico da democracia liberal.
O ltimo modelo, o participativo, consiste em dois fundamentos incompatveis
com o capitalismo, modo de produo em que se alicera esta democracia: 1)uma grande
mudana da conscincia do povo e 2)uma significativa diminuio da desigualdade. um
modelo que mescla a democracia direta na base com a representativa no topo.
Macpherson justifica classificar a democracia participativa como democracia liberal ao
retomar os pressupostos do modelo desenvolvimentista, com senso de valor do princpio
tico, ou seja, direitos iguais ao pleno desenvolvimento e ao emprego de suas
capacidades.
Com a apresentao desses quatro modelos de democracia liberal, descritos por
Macpherson, pode-se distinguir e compreender a origem do tipo de democracia
implementado na Amrica Latina, com o processo de redemocratizao, a partir de 1979.
A democracia de equilbrio foi o cerne do tipo do regime democrtico da Amrica Latina
no seu processo de redemocratizao, traduzindo-se num tipo de regime em que a
participao poltica nas decises governamentais se resumia ao voto e os direitos da
populao se centravam em direitos polticos e civis (muitos somente na Constituio),
ignorando as condies de desigualdades sociais e econmicas da populao. A
democracia, pois, deveria se focar na esfera poltica e assim se constituir enquanto um
regime de apoio e suporte ao mercado. A subseo seguinte permite a clara identificao
desse tipo de regime democrtico na Amrica Latina que ficou conhecido por democracia
de procedimentos.
1.1.1 Abordagens e tipos de democracia
Neste novo foco de estudo a democracia ganha caractersticas peculiares. A
anlise j no parte mais da dicotomia pases democratizados e no democratizados. A
inovao est agora em saber o que e como diferenciam pases democratizados entre si.
Com base no estudo de David Collier e Steven Levitsky (1996) observa-se que
um novo tipo de discurso democrtico se constituiu e predominou nas pesquisas sobre
democracia. E a anlise do contexto evidenciou que a esfera poltica dessas democracias
28
-
nascentes produziu, reproduziu e tambm incorporou o conceito de democracia como um
mtodo.
Collier e Levitsky analisaram centenas de estudos com o objetivo de saber como a
democracia foi observada, conceituada e caracterizada nesta nova fase, principalmente na
Amrica Latina. Os autores descobriram mais de 550 exemplos de democracia com
adjetivos. Segundo eles, h um esforo de padronizar a terminologia mais notadamente
via definies procedimentais, na tradio de Schumpeter e Dahl. A preocupao gira em
torno do tipo de sistema de governo, do sistema eleitoral e partidrio, de uma forma geral,
e colocando os fatores histrico-estruturais em segundo plano.
De acordo com Collier e Levitsky, as abordagens sobre democracia partem de
duas metas que parecem contraditrias: 1) procurar aumentar a diferena conceitual para
capturar as diversas formas que a democracia tm emergido e 2) procurar evitar o
alargamento conceitual para que no se aplique o conceito quando a realidade no
corresponde. Os autores observaram que h uma tendncia inicial de uma abordagem
geral do conceito que se concentra em cinco dimenses: 1)definio
eleitoral/eleitoralismo; 2) mnimo procedimental; 3) mnimo procedimental expandido; 4)
definio prottipo das democracias industriais avanadas e 5) concepo maximalista.
Segundo os autores, as trs primeiras so as abordagens mais empregadas na literatura
sobre democracia. Abaixo as caractersticas que definem cada uma dessas abordagens,
conforme esses autores. Quadro 1.
29
-
Quadro 1: Definies de democracia com base em pesquisas sobre democratizao
na terceira onda democrtica
Termos usados para designar conceitos de democracia
(1) (2) (3) (4) (5)
Significados Associados
Eleitoral Mnimo
procedimental
Mnimo
procedimental
expandido
Prottipo de
democracias
industriais
Maximalista
Eleies razoavelmente
competitivas, sem fraude
massiva e amplo sufrgio
X X X X
Frequente no
incluso
Liberdades civis bsicas,
liberdade de expresso,
assembleia e associao.
X X X
Frequente no
incluso
Governos eleitos tm
poder efetivo para
governar.
X X
Frequente no
incluso
Caractersticas polticas,
econmicas e sociais
adicionais associadas
democracia industrial.
X
Frequente no
incluso
Igualdade socioeconmica
e/ou altos nveis de
participao popular nas
instituies econmicas,
sociais e polticas.
X
Fonte: Collier e Levitsky (1996)
O quadro 1 permite observar a predominncia de elementos mnimos para definir
a democracia, sem qualquer preocupao com aspectos econmicos e sociais. Na
definio eleitoral prima-se somente o aspecto do voto, minimizando o processo
democrtico no ato de votar e ser votado. A democracia, nessa abordagem, um mtodo
poltico, em que a populao escolhe, via eleies, quem decide as polticas que
orientaro os rumos do pas. A nica participao popular, nesta perspectiva, o ato de
30
-
votar. Conforme Collier e Levitsky, uma abordagem que tem sido usada por muitos
pesquisadores.
Porm, conforme estes autores, so as abordagens mnimo procedimental e
mnimo procedimental expandido que obtm um consenso substancial na definio de
democracia. Esta ltima, principalmente, teve uma boa aceitao na literatura latina sobre
o tema. Nestas perspectivas, a democracia vista como um conjunto de procedimentos e
regras polticas como votar, ter direitos civis respeitados e os governos eleitos
conseguirem governar. Ou seja, focam sobre definies mnimas, com um menor nmero
possvel de atributos; que so observados como produzindo uma definio vivel de
democracia.
A definio prottipo das democracias industriais conceitua essa nova concepo
de democracia a partir de caractersticas polticas, econmicas e sociais das democracias
avanadas. Ou seja, apenas eleies e direitos civis bsicos no so elementos definidores
de democracias.
Por fim, a definio maximalista analisa a democracia como um regime que prima
pela igualdade de relaes sociais e econmicas e ampla participao na tomada de
deciso em todos os nveis. Conforme Collier e Levitsky, os autores dessa abordagem
rejeitam a ideia procedimental, no incluindo garantias procedimentais em suas
definies. Essa abordagem tem sido deliberadamente evitada nesta recente onda de
democratizao, apesar de ter sido um campo comum nos estudos de democracia nos
anos 1960 e 1970, principalmente na Amrica Latina.
Os autores tambm verificaram que os estudiosos da democracia nesta terceira
onda democrtica, alm de analisarem o tema sob diferentes abordagens discutidas
acima, estudam a democracia de uma forma mais especfica sob estratgias de inovao
conceitual, como: 1) preciso; 2) mudana na abrangncia a partir de diferentes contextos
observando se uma situao democrtica, um momento democrtico, um governo
democrtico, um regime democrtico ou um estado democrtico, e 3) criao de subtipos.
Conforme os autores, o subtipo um conceito derivativo formado com referncia
modificao de algum outro conceito. O significado mais comum a adio de algum
adjetivo ao nome democracia como, por exemplo, democracia competitiva e democracia
eleitoral, entre outros. Os autores identificaram a utilizao de subtipos clssicos como
31
-
democracia federal, democracia partidria. Porm so os subtipos reduzidos que tm um
papel central nesta literatura de democratizao. Estes subtipos, em contraste com os
clssicos, no representam exemplos completos do conceito, ou seja, so vistos como
exemplos incompletos de democracia.
Os subtipos reduzidos, apresentados abaixo, so observados e caracterizados a
partir de suas referncias ou derivaes.
1) Democracias parciais: derivadas das dimenses do mnimo procedimental e mnimo
procedimental expandido. Os pesquisadores que usam estes subtipos esto classificando-
os a partir dos seguintes critrios: eleies livres, sufrgio universal e proteo das
liberdades civis bsicas como caractersticas essenciais da democracia. So empregados
geralmente para analisar processos democrticos em transio ou em pases em que o
regime somente parcialmente democratizado. Na maioria dos casos, conforme Collier e
Levitsky, so usados adjetivos que se referem a certos atributos fracos ou inexistentes. E
desse modo, a democracia, no pas analisado, no completa, ou seja, parcial.
2) Democracias problemticas: derivadas da dimenso prottipo de democracias
industriais avanadas. Os pases so democrticos, mas apresentam problemas nos
aspectos polticos, econmicos e sociais j superados pelas democracias industriais. Na
maioria dos casos considerados como democracias problemticas no h presena, ou
fraca, de um ou mais atributos presentes nas democracias avanadas como por exemplo:
accountability horizontal, consolidao do regime, participao efetiva dos cidados e
compromisso para sustentar as polticas de bem-estar social. E desse modo, onde a
consolidao democrtica fraca os regimes so chamados de democracia frgil. Ou
ainda, onde a accountability horizontal incompleta, o regime recebe o adjetivo de
democracia delegativa (Guilhermo ODonnell, 1994) ou caudilhista.
Os autores observaram, a partir dessas derivaes, que a democracia nesta terceira
onda vista como um regime gradativo, analisada a partir de definies abrangentes
(abordagens) e identificadas por subtipos do regime, com uma predominncia dos
elementos procedimentais. Essas mesmas caractersticas predominantes no mbito
acadmico foram visualizadas no contexto democrtico de muitos pases latinos, nesta
terceira onda. A democracia implementada foi de fato a democracia no parmetro
procedimental, fosse expandida ou no. As questes para alm das regras e
32
-
procedimentos foram ignoradas. Os novos governantes democrticos garantiram eleies
regulares e razoavelmente competitivas, e direitos civis bsicos, porm deixaram de lado
necessidades sociais e econmicas primrias da sociedade. A abordagem democrtica
implementada propiciou a implantao de polticas econmicas neoliberais, nas quais o
compromisso para com as polticas de bem-estar foi fraco ou mesmo ausente. A prxima
subseo examina esse tipo de democracia implementado na Amrica Latina, de modo
que se possa entender que a democracia na regio no se constituiu como um suporte
para a melhoria das condies de vida da populao. Ela veio para atender a outros
interesses.
1.1.2 -Conceituando democracia sob a tica procedimental
A democracia na Amrica Latina se fundamenta nesse modelo de procedimentos,
ou, como Macpherson denomina, de equilbrio. Desse modo, a concepo de democracia
se restringe a regras que regulam a disputa eleitoral entre grupos polticos. E a
participao fica restrita ao ato de votar do eleitor, aceitando um dos grupos que
pretendem exercer o poder. A democratizao na regio, portanto, finca pilares em um
conceito e discurso calcados numa concepo de democracia em sentido restrito esfera
poltica, diluindo qualquer possibilidade de se pressup-la enquanto a representao de
uma sociedade integrada e organizada, capaz de promover uma distribuio de renda e de
poder entre os cidados (Welfort, 1984).
Giovanni Sartori (1994), Joseph Schumpeter (1984) e Robert Dahl (1971) figuram
entre os principais defensores deste tipo de democracia. Suas concepes sobre o regime
limitam a participao popular e minimizam o processo democrtico ao ato de votar. A
democracia, para eles, se estabelece num espao estritamente poltico, em que o poder
exercido por poucos. Ao povo cabe apenas escolher quem deter esse poder.
Em sua Teoria da Democracia Revisitada, Sartori (1994) chama a ateno para
o fato de que a democracia j no apenas mais um conceito poltico, como a
denominaram os antigos. O conceito ganhou outros significados e sentidos, como, por
exemplo, democracia social, econmica e industrial. Conforme o autor, so sentidos
legtimos, mas tambm responsveis por essa situao de democracia confusa. Para ele, a
33
-
democracia , antes de tudo, um conceito poltico. a poltica que est na origem da
palavra democracia.
Ningum nega a importncia da democracia social enquanto base vital de uma sociedade poltica democrtica, nem que uma democracia primria, bsica, pode ter mais valor que qualquer outro aspecto da democracia. Da mesma forma, a equalizao econmica e a democracia industrial podem ter mais importncia para ns que qualquer outra coisa. Permanece o fato de que a democracia poltica a condio indispensvel, o instrumento indispensvel de qualquer democracia ou meta democrtica que acalentemos. Se o sistema principal, o sistema poltico global, no um sistema democrtico, ento a democracia social tem pouco valor, a democracia industrial tem pouca autenticidade, e a igualdade econmica pode no diferir da igualdade entre os escravos. Essa a razo pela qual democracia sem adjetivos significa democracia poltica, a razo pela qual democracia antes de tudo um conceito poltico. (Sartori, 1994:29)
Portanto, de acordo com ele, democracia no sentido poltico uma
macrodemocracia, a democracia soberana, supra-ordenada. E nesse sentido, a
democracia poltica um mtodo, um procedimento, uma maquinaria que produz bens,
ou seja, produz outros tipos de democracia. Desse modo, a democracia poltica deve
preceder qualquer grande realizao que se possa exigir de uma democracia.
Sartori faz um esforo intelectual para contribuir com o rompimento da
indefinio que paira sobre a democracia, buscando defini-la nos sentidos descritivo () e
prescritivo (deve ser). Porm, a minimiza quando compreende democracia apenas como
um processo que de fato sintetizado em eleies.
Para o autor, a democracia, enquanto governo do povo, tomada apenas na
acepo etimolgica, sem que da se retire um valor em si. A interpretao do termo povo
compreendida como uma maioria limitada por uma minoria. E democracia, portanto,
conforme Sartori, um sistema de governo de maioria limitado pelos direitos das
minorias (Sartori, 1994:45). No qual, as maiorias e minorias so alternveis.
Ao contrrio de muitos autores que sustentam e defendem a maioria como pilar da
democracia, Sartori acredita que o respeito e a salvaguarda da minoria que sustentam a
dinmica e a mecnica da democracia. ...os direitos da minoria so uma condio
necessria ao processo democrtico. Se estamos comprometidos com esse processo, ento
34
-
tambm devemos estar com um poder de maioria restringido e limitado pelos direitos da
minoria (Sartori, 1994:56).
Na teoria de Sartori o povo tem o direito de escolher seus representantes, ou seja,
decidir o titular do poder, mas o exerccio real do poder no est em suas mos. nesse
sentido que Sartori afirma que as democracias modernas dependem de: a) poder limitado
da maioria; b) procedimentos eleitorais e c) transmisso do poder dos representantes. Isso
implica, conforme o autor, que no seio do povo como um todo, uma parcela do povo
conta mais, outra parcela conta menos; que mesmo o povo que constitui a maioria
eleitoral vitoriosa no exerce realmente o poder; e que muito do que chamado de
vontade do povo soa mais como um consenso do povo (Sartori, 1994:52). Sartori se
empenha em defender uma democracia na qual, para ele, apesar do povo transferir o
poder para o representante, aquele no perde sua liberdade no momento em que vota;
porque pode decidir transferir sua adeso do grupo majoritrio para o minoritrio, por
exemplo.
O autor argumenta que o povo tambm tem seu momento de governar. Para ele,
este momento o das eleies. No pouca coisa, pois o processo democrtico de fato
sintetizado em eleies e eleger5. Ou seja, o ato de governar do povo se resume no
processo eleitoral. Conforme Sartori, isso muito, porque as eleies verificam o
consenso, porque as eleies registram as decises do eleitor, porque computam opinies.
E a opinio pblica, de acordo com ele, autnoma. O teste democrtico, de acordo com
o autor, o teste eleitoral, porque s as eleies manifestam um consenso geral. Porm,
o autor deixa muito claro que as eleies no decidem sobre polticas concretas;
estabelecem, ao invs, quem vai decidir sobre elas. As eleies no resolvem problemas;
decidem, antes, quem vai resolver os problemas (Sartori, 1994:152). E se, de fato, as
eleies decidem sobre quem vai decidir, o nus da racionalidade, conforme o autor, no
pesa nos ombros dos eleitores. Ele transferido para seus representantes.
Essa representao, segundo Sartori, hoje o caminho mais vivel da
governabilidade do regime democrtico. Para o autor, a democracia participativa s
significativa, autntica e real em pequenos grupos, porque o tomar parte pessoalmente e
deliberar polticas diminui medida que a populao cresce. Nem mesmo o referendo
5 Sartori, 1994:123
35
-
instrumento da democracia direta no participativo, conforme o autor, porque ele no
permite a discusso, o debate, a participao. Ali, a opinio individual do cidado
diante de uma questo determinada por uma agenda poltica.
Sartori v a democracia como um processo decisrio, calcado na representao.
Uma deciso que se encontra fora da competncia dos eleitores e tomada por algum
para que outrem cumpra o que ele chama de deciso coletivizada. E toda coletividade
organizada se submete s decises coletivizadas, embora essa prtica tenha variaes nas
sociedades contemporneas. Porm, a deciso coletivizada pode no implicar a deciso
de todos, mesmo que recaia sobre todos. Essa coletivizao da deciso a essncia da
democracia representativa, que carrega em si dois elementos que podem favorecer ou
prejudicar a coletividade: custos internos e riscos externos. Os custos internos significam
que toda deciso de grupo tem custos para os prprios tomadores de decises; os riscos
externos so riscos para os destinatrios. Quanto maior o nmero de pessoas no rgo
responsvel pelas decises, maior os custos internos ou custos decisrios. Inversamente,
os riscos externos diminuem medida que o rgo decisrio aumenta o nmero de
indivduos. Os dois instrumentos analticos esto inversamente relacionados, pois o
desempenho positivo de um est ligado ao prejuzo do outro.
O ponto de equilbrio dos dois elementos se baseia em trs variveis mencionadas
por Sartori para tentar uma soluo vivel: nmero de pessoas que tomam decises,
forma de selecionar os indivduos e as regras da tomada de decises. O problema
passvel de soluo porque os riscos externos esto em funo bem mais do mtodo de
formao do grupo decisrio do que do nmero de participantes desse rgo. O mtodo
representativo aparece ento como a nica possibilidade para lidar com os riscos
externos, pois encher o grupo decisrio de pessoas inviabiliza a tomada de decises.
Apenas a reduo drstica do universo dos representados para um pequeno grupo de
representantes permite uma reduo importante dos riscos externos sem agravar os custos
internos (Sartori, 1994:294-297).
A viso da democracia elaborada por Sartori tem como foco vrias unidades
formadoras da teia de processos de tomada de deciso: os comits, que so os grupos de
pessoas que realmente tomam as decises. E, para Sartori, somente nestes comits h a
possibilidade de participao, enquanto um tomar parte de forma significativa com debate
36
-
e discusses. So nesses comits, segundo o autor, que a representao desempenhada.
Eles constituem, na viso do autor, a unidade por excelncia de formao das decises.
Schumpeter (1984) mostra-se ainda mais radical que Sartori ao definir a
democracia como um sistema institucional para a tomada de decises polticas, no qual o
indivduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do
eleitor. Portanto, para ele, a democracia um mtodo poltico e no um rol de ideais, ou
seja, um arranjo institucional que regula a disputa entre grupos polticos pelo poder.
Esta concepo evidencia a viso minimalista e procedimental que o autor tem da
democracia.
Por mtodo poltico Schumpeter (1984:304) entende ser este um certo tipo de
arranjo institucional para se alcanarem decises polticas. E nesse sentido, portanto, a
democracia no deve ser compreendida como um fim em si mesmo. O autor aprimora a
definio de mtodo poltico ou democrtico acrescentando o seguinte ponto: neste
mtodo os indivduos adquirem o poder de deciso atravs de uma luta competitiva pelos
votos livres da populao (Schumpeter, 1984:336). Isto consiste mais ou menos na
chamada competio pela liderana, que o critrio usado para distinguir os governos
democrticos. O mtodo eleitoral tomado enquanto critrio porque se mostra o nico
disponvel a comunidades de qualquer tamanho na conduo da competio dentro dos
regimes democrticos. Conforme Schumpeter, o papel do eleitorado nestes regimes
produzir um governo e desaposs-lo. Ou seja, produzir um governo significa a aceitao
de um lder ou grupo de lderes, enquanto a funo de desapossar a retirada da aceitao
nas urnas.
Para Schumpeter, nas modernas sociedades o povo no participa diretamente das
decises. representado por membros da elite, numa acepo ideia de um modelo
elitista de busca ao poder, no qual a elite compete pela adeso e conduo ao poder,
atravs das massas. Conforme o autor, as elites so as portadoras de racionalidade
poltica e, portanto, capazes de tomar as decises, cabendo ao povo sua participao
atravs do voto.
O autor um crtico da teoria tradicional de democracia, ancorada na noo de
soberania popular do governo do povo, cuja concepo se articula em torno do seu
37
-
protagonismo. Schumpeter coloca em dvida a capacidade efetiva do povo de produzir
uma vontade autnoma, racional e que traduza um bem que, de fato, seja comum a todos.
Conforme Schumpeter, impossvel que indivduos diferentes, sujeitos a
estmulos diversos e com interesses distintos cheguem a um consenso acerca de um bem
comum. E se isso acontecesse, de acordo com o autor, estes indivduos se desentenderiam
com relao aos meios necessrios para alcanar o objetivo proposto. Para Schumpeter,
as pessoas reunidas em grande nmero tendem a reduzir sua atividade mental para
padres no-lgicos e no-racionais. De acordo com o autor, muitos fatores atrapalham o
desempenho dos indivduos comuns na esfera poltica, como o desconhecimento das
regras do jogo, a falta de controle do resultado das eleies, a incompreenso do processo
eleitoral, alm da influncia dos lderes e suscetibilidade ao de propagandas.
E desse modo, nenhuma situao poltica criada pelo povo. Todo o regime
poltico moldado por elites polticas. O cidado no tem capacidade de decidir ou
escolher uma poltica. Esta o resultado da disputa de elites. A democracia apenas um
conjunto de procedimentos e regras que facilita essa competio. E, portanto, a principal
instituio poltica desse modelo a eleio. por meio dela que o povo escolhe que
grupos da elite detero o poder. Para o autor, atravs das eleies que os eleitores
decidem se aceitam ou no a dominao de uma liderana. Mas essa escolha no feita
de forma autnoma. Como dito antes, os eleitores so persuadidos, seja pelas lideranas
ou pela mdia.
Robert Dahl tambm analisa a democracia como um procedimento, um mtodo.
Porm vai alm de Schumpeter, considerando democracia como o governo que se
configura pela concertao de muitos interesses e preferncias. Nesse sentido, o poder
estaria dividido entre grupos governamentais e externos, e estes fariam presses sobre o
governo. Dessa forma, o poder seria plural, porm essa pluralidade no exercida por
todos.
Para Robert Dahl (1971), uma caracterstica chave dessa democracia a
responsividade contnua do governo s preferncias de seus cidados, considerados iguais
politicamente. Nesses termos, a democracia, conforme Dahl, seria um tipo ideal. Ele
chamou de poliarquia os regimes efetivamente existentes, resultantes da democracia
enquanto sistema ideal.
38
-
O autor compreende a democracia estritamente como um regime poltico de
regras e procedimentos. Como institucionalista, no sentido de acreditar que as instituies
fixam uma estrutura de incentivos para a concertao de preferncias e esforos, Robert
Dahl deposita nas instituies a importncia de fornecer sociedade ao menos oito
garantias que possibilitam as condies necessrias democracia. 1) liberdade para
formar e participar de associaes; 2) liberdade de expresso; 3) direito a voto; 4)
elegibilidade a cargo pblico; 5) direito de lderes polticos de competir; 6) alternativas
de fontes de informao; 7) eleies livres e justas e 8) instituies nas quais as polticas
de governo dependem de votos e de outras expresses de preferncias.
Para o autor, estas oito garantias institucionais forneceriam uma escala terica, na
qual seria possvel ordenar diferentes tipos de sistemas polticos, de democrticos a no-
democrticos a partir de duas dimenses: contestao pblica e inclusividade. Mas
importante observar que quando Dahl fala em contestao pblica refere-se a um sistema
institucionalizado e pacfico de competio pblica, e inclusividade, para o autor, a
incluso da populao adulta via incorporao eleitoral ao processo poltico. Conforme
Dahl, a participao popular no poder deve ser por meio de eleies representativas pelo
voto, com ampla organizao popular. Mas se limita a uma participao eleitoral,
deixando aos grupos de interesse organizado a representao das preferncias populares,
por possurem, de acordo com ele, um ndice maior de atividade poltica e menor
propenso ao autoritarismo.
O grau de institucionalizao dessas duas dimenses, contestao pblica e
inclusividade, pode ser observado em quatro tipologias de regimes: 1)hegemonia fechada,
sem qualquer tipo de participao e contestao pblica; 2) oligarquia competitiva, com
plena contestao e nenhuma participao; 3)hegemonia inclusiva, sem nenhuma
contestao e plena participao e 4) poliarquia, plenas contestao e participao.
Conforme Dahl, quando regimes hegemnicos de precria contestao e inclusividade
caminham em direo a uma poliarquia um indicativo de que aumentaram as
possibilidades de efetiva contestao e incluso. nesse sentido que ele afirma que
poliarquias so regimes que tm sido substancialmente popularizados e liberalizados,
isto , altamente inclusivos e extensivamente abertos contestao pblica. (Dahl,
1971:8).
39
-
Na poliarquia, conforme o autor, h um maior nmero de indivduos, interesses e
grupos cujas preferncias devem ser levadas em considerao nas decises polticas. No
apenas um grupo de interesse que est no poder, h uma concertao. Mas h conflito
tambm fora do governo, da esfera de poder. Uma oposio que quer fazer com que seus
interesses sejam atendidos e um governo que tenta barrar os objetivos da oposio. A
tolerncia, pois, o ponto de equilbrio desse conflito, a partir de dois elementos: custos
de tolerncia e custos de represso. A probabilidade de um governo tolerar uma oposio
aumenta com a diminuio dos custos de tolerncia e com o crescimento dos custos de
represso. A segurana mtua desses dois atores polticos governo e oposio
aumenta as possibilidades de contestao pblica e poliarquia, segundo o autor.
Dahl deixa bem evidenciado que a transio poliarquia no um processo natural.
Ela depende de sete conjuntos de condies:
1) acontecimentos histricos, nos quais a competio pblica precede a
participao;
2) ordem socioeconmica, onde a violncia e as sanes socioeconmicas so
dispersadas ou neutralizadas;
3) nvel de desenvolvimento socioeconmico representado por um PIB per capita
entre $700 e $800;
4) igualdades e desigualdades, onde a desigualdade baixa e dispersa e a privao
baixa ou diminui cada vez mais;
5) pluralismo subcultural, em que no h uma maioria, no regional e onde no se
tem garantias mtuas;
6) dominao do poder estrangeiro fraca ou temporria;
7) crenas dos ativistas polticos tais como: instituies da poliarquia so legtimas,
a poliarquia efetiva em resolver grandes problemas, h confiana nos outros, a
relao poltica cooperativa e competitiva, ou seja, h compromissos.
Portanto, na teoria dahlsiana a chance de um pas ser governado em nvel
nacional por um considervel perodo de tempo por um regime, no qual oportunidades
para a contestao pblica esto disponveis a uma grande parte da populao (isto , a
poliarquia), depende ao menos desses sete conjuntos de complexas condies. (Dahl,
40
-
1971:202). Em suma, a teoria dahlsiana se baseia tambm em procedimentos. Estes, uma
vez cumpridos, o pas torna-se polirquico. O voto o principal instrumento de
participao e o poder no est mais concentrado nas mos