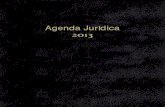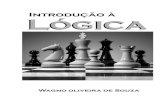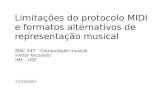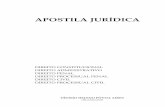UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ HEITOR DE SOUSA...
-
Upload
phungkhanh -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ HEITOR DE SOUSA...
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
HEITOR DE SOUSA GONÇALVES
A NATUREZA JURÍDICA DO FURTO FAMÉLICO
CURITIBA
2014
HEITOR DE SOUSA GONÇALVES
A NATUREZA JURÍDICA DO FURTO FAMÉLICO
Monografia apresentada ao curso de direito da faculdade de ciências jurídicas da universidade Tuiuti do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em direito. Orientador: Prof. Luiz Renato Skroch Andretta
CURITIBA
2014
TERMO DE APROVAÇÃO
HEITOR DE SOUSA GONÇALVES
Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do titulo de Bacharel no curso de Direito da
Universidade Tuiuti do Paraná.
Curitiba, ________ de ___________________ de 2014.
________________________________________
Bacharel em Direito
Universidade Tuiuti do Paraná
______________________________________
Orientador: Prof. Luiz Renato Skroch Andretta
_______________________________________
Prof.
________________________________________
Prof.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, venho agradecer a minha mãe Deise Cordeiro Ribas Ferreira,
meus avós João Batista de Sousa e Carmelita Cordeiro de Sousa, que sempre
acreditaram em mim, e estiveram ao meu lado, em todos os momentos. Sem os
quais não seria o que hoje eu sou.
A minha namorada Vanessa Stubinski pelo amor, carinho e dedicação.
Obrigado, Professor Luiz Renato Skroch Andretta, por aceitar ser meu
orientador. A sua pré-disposição, seu apoio e sua maneira objetiva de trabalhar
foram essenciais para a conclusão deste trabalho.
Aos professores que passaram pela minha vida acadêmica, o meu muito
obrigado.
Agradeço aos meus amigos e familiares, que de alguma forma, muitas vezes
até sem saber, me deram ânimo para continuar a minha caminhada.
A Deus, por tudo!
RESUMO
Alimentação é um dos requesitos fundamentais para o ser humano viver com
dignidade, pois devem ser garantidos direitos básicos. E o furto considerado como
crime de natureza patrimonial, tem ligação direta com o esse problema, mais
precisamente com o furto famélico, ou seja, é praticado por quem encontra-se em
extrema necessidade de se alimentar em decorrência do estado de penúria. Não
sendo cabível ao indivíduo ser apenado por seu ato praticado em razão da
circunstância, embora a realise uma figura típica. A problemática que se apresenta é
a divergência em ser excluído o crime, sendo que a questão é saber se justifica ou
não a punição do furto famélico, ocorrendo assim de três formas: estado de
necessidade, inexigibilidade de conduta diversa supralegal e insignificância.
Palavras chaves: Dignidade humana. Teoria do crime. Estado de Necessidade.
Furto. Furto famélico. Inexigibilidade de conduta diversa supralegal. Insignificância.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7
1. TEORIA DO CRIME ................................................ ...........................................8
1.1 CONDUTA ......................................................................................................... 8
1.2 TIPICIDADE ...................................................................................................... 9
1.2.1 Requisitos da tipicidade.................................................................................... 9
1.2.2 Funções do tipo penal .................................................................................... 11
1.3 ANTIJURIDICIDADE ..................................................................................... 11
1.3.1 Estado de necessidade .................................................................................. 12
1.3.1.1 Requesitos do estado de necessidade .......................................................... 13
1.3.2 Legitima defesa ............................................................................................. 14
1.3.3 Estrito cumprimento do dever legal ............................................................... 14
1.3.4 Exercício regular de direito ............................................................................ 14
1.4 CULPABILIDADE .......................................................................................... 15
1.4.1 Excludentes de culpabilidade ........................................................................ 15
1.4.1.1 Inexibilidade de conduta diversa supra legal ................................................. 15
1.4.1.2 Inimputabilidade ............................................................................................ 15
1.4.1.3 Coação moral irresistível e obediência hierárquica ....................................... 16
1.4.1.4 A embriaguez e substancias de efeitos análogicos ....................................... 17
1.4.1.5 Erro de Proibição ........................................................................................... 17
1.4.1.6 Descriminantes putativas .............................................................................. 17
2. FURTO .......................................................................................................... 18
2.1 CONCEITO E CARACTERISTICAS.............................................................. 18
2.2 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA .................................................................... 19
2.3 MODALIDADES DO FURTO ......................................................................... 19
2.3.1 Furto Simples ................................................................................................ 19
2.3.2 Furto Notruno ................................................................................................ 20
2.3.3 Furto Privilegiado .......................................................................................... 21
2.3.4 Furto de Energia Eletrica ............................................................................... 21
2.3.5 Furto Qualificado ........................................................................................... 22
2.3.5.1 Com destruição ou rompimento de obstaculo ............................................... 22
2.3.5.2 Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza .......... 22
2.3.5.3 Com emprego de chave falsa ........................................................................ 24
2.3.5.4 Mediante concurso de duas ou mais pessoas ............................................... 24
3. FURTO FAMÉLICO ...................................................................................... 25
3.1 CONCEITO E CARACTERISTICAS.............................................................. 25
3.1.1 O furto famélico e o estado de necessidade ................................................. 26
3.1.2 O furto famélico e a Inexigibilidade da conduta diversa da supralegal .......... 27
3.1.3 O furto famélico e o principio da insignificância ............................................. 27
3.1.4 Jurisprudência ............................................................................................... 28
3.2 PRINCIPIOS DO FURTO FAMÉLICO ........................................................... 30
3.2.1 Principio da dignidade da pessoa .................................................................. 30
3.2.2 Principio da adquação social ......................................................................... 30
3.2.3 Principio da insignificância ............................................................................ 31
3.2.4 Principio da intervenção mínima ................................................................... 31
3.2.5 Principio da Ofensividade .............................................................................. 32
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 33
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 35
7
INTRODUÇÃO
O Direito Penal surgiu com a função de regular a conduta humana mais grave
e prejudicial a sociedade, que coloca em risco os valores fundamentais da vida dos
indivíduos, descritos como infrações penais, e como consequência a sanção.
Estabelecendo regras mais adequadas a sua aplicação em conjunto com os
princípios constitucionais, como o da dignidade humana.
O princípio da dignidade da pessoa é fundamental em um Estado democrático
de direito, que está elencado no rol de direitos fundamentais da nossa atual Carta
Magna. Esse princípio abrange uma diversidade de valores existentes na sociedade,
dentre eles a garantia e a possibilidade de subsistência alimentar, o que é um
requisito mínimo na dignidade humana.
Ocorre que nem sempre é possível prever todas as condutas, pois não há um
tratamento individualizado, com isso trata de forma genérica e nele se enquadram
várias espécies de furto, como descrito nesse trabalho o furto famélico.
O furto famélico consiste na subtração de coisa alheia móvel para suprir a
necessidade básica e imediata de sobrevivência, por aquele que se encontra em
estado de miséria extrema e busca saciar a fome própria ou de outrem.
Em decorrência dessa situação extrema existem excludentes da
criminalização do furto famélico, que são: o estado de necessidade, defendido por
boa parte da doutrina, a inexigibilidade de conduta adversa da supralegal, e a
aplicação do princípio da insignificância, fundamentação essa utilizada pela corte
superior como fundamentação da justificação, atrelando a figura do furto famélico ao
princípio da insignificância, por consequência não gerando crime por ausência de
tipicidade, uma vez que a conduta praticada não gera dano suficiente para ter
relevância penal.
A busca do presente trabalho é realizar o estudo sobre a figura do furto
famélico, abordando temas como a teoria do crime, a figura típica do furto e suas
diversas modalidades, analisando por fim o furto famélico em suas características e
as causas que justificam a não configuração como crime e os princípios que
norteiam essa figura.
8
1 TEORIA DO CRIME
A teoria do crime estuda todas as elementares e pressupostos para
determinada conduta configurar crime.
O conceito material de crime consiste na conduta humana descrita em Lei,
que viola um bem penalmente tutelado, no sentido social.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (2012, p.174): “é a concepção da
sociedade sobre o que pode e deve ser proibido, mediante a aplicação de sanção
penal. É, pois, a conduta que ofende um bem juridicamente tutelado, merecedora de
pena”.
Já o conceito formal de crime está ligado a conduta humana proibida pela Lei
sob a ameaça de pena, no sentido jurídico.
Conforme descreve também Nucci (2012, p.175): “é a concepção do direito
acerca do delito, constituindo a conduta proibida por lei, sob ameaça de aplicação de
pena, numa visão legislativa do fenômeno”.
E por fim o conceito analítico, que consiste na união dos dois conceitos
formando um novo conceito, que define crime como sendo uma conduta típica,
antijurídica e culpável.
É o que diz Guilherme de Souza Nucci1:
Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável, vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade), contraria ao direito (antijuridicidade) e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, dede que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito.
Determinado fato para configurar crime, deve ter presentes as Elementares
trazidas pelo conceito analítico de crime, sendo crime toda a conduta praticada pelo
agente, típica, antijurídica e culpável.
1.1 CONDUTA
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 8º Ed., Editora Revista dos Tribunais. 2012.
p.175.
9
Conduta é a ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma
determinada finalidade, evidenciada pela teoria da ação, aceita em nosso
ordenamento.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (2012, p.206): “[...] Conduta é a ação ou
omissão, voluntaria e consciente, implicando em um comando de movimentação ou
inércia do corpo humano, voltado a uma finalidade [...]”.
A conduta manifesta-se de duas formas, a forma comissiva e omissiva. Na
forma comissiva a conduta praticada pelo agente é percebível pelo mundo exterior,
já na forma omissiva, o direito penal espera conduta positiva do agente, a qual não
ocorre, gerando assim um crime omissivo.
E também deve ser voluntária, ou seja, a vontade de agir ou não deve partir
do agente, não ocorrendo força exterior que determine a ação ou omissão. A
atuação de força irresistível, reflexos ou extintos naturais, ausência de condição de
agir, estado de inconsciência e estado de hipnose, não configuram voluntariedade.
1.2 TIPICIDADE
É adequação de determinada conduta como crime, prevista em lei pelo tipo
penal, ou seja, a conduta praticada pelo agente amolda-se aos pressupostos do tipo
penal. O fato praticado provoca um resultado previsto como crime.
Conforme os ensinamentos de Bitencourt (2010, p.305): “tipicidade é uma
decorrência natural do princípio da reserva legal: nullum crimen nulla poena signe
praevia lege. Tipicidade é conformidade do fato praticado pelo agente com a
moldura abstrata descrita na lei penal”.
O tipo penal define de determinada conduta como crime, ou seja, é a
descrição legal do comportamento proibido. Sendo assim, quando uma conduta
amolda-se ao tipo penal podemos ter uma das elementares do crime preenchida.
1.2.1 Requisitos da tipicidade
a) Conduta penalmente relevante: a conduta praticada pelo agente deve ter
dois prismas indispensáveis, vontade e consciência.
10
A vontade é o desejo ativo do agente de praticar determinado ato livremente,
possibilitando que o mesmo esteja apto a realizar movimentos corpóreos para à
realização de seu propósito.
A consciência é a possibilidade que o agente possui de julgar as suas atitudes
e ter noção clara entre realidade e ficção.
Dolo: Caracteriza-se pela vontade livre e consciente do agente em praticar
determina conduta prevista como crime, ou quando o mesmo assume o risco de
produzi-lo. Segundo o Código Penal, no artigo 18 caput e inciso I, “Diz-se o crime: I -
doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”.
Dessa forma não existirá conduta dolosa, quando o agente praticar conduta
descrita no tipo sem ter a vontade ou consciência do que esta fazendo, pois ocorre o
erro de tipo, afastando o dolo e não configurando assim crime.
Culpa: Caracteriza-se quando o agente ao praticar determinada conduta
voluntária produz um resultado contrário a norma penal, porém, não desejado pelo
mesmo, mas previsível e evitável, se tomasse a devida atenção esperada. Desta
forma o agente dá causa ao resultado, por imprudência, negligência ou imperícia. É
o que nos diz o Código Penal, artigo 18, inciso II: “culposo, quando o agente deu
causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”.
b) Resultado: Consiste na lesão ou perigo ao bem penalmente tutelado, que
determinada conduta provocou. O resultado é analisado sob o prisma de dois
critérios, sendo eles naturalísticos e normativos.
O Resultado naturalístico é perceptível no mundo dos fatos, ocorrendo no
mundo físico e visível no mundo exterior. Conforme nos ensina Nucci (2012, p.210)
resultado naturalístico é: “a modificação sensível do mundo exterior. O evento está
situado no mundo físico, de modo que somente pode-se falar em resultado quando
existe alguma modificação passível de captação pelos sentidos”.
O resultado normativo gera modificação gera alteração jurídica na forma de
dano efetivo ou potencial, ferindo dessa forma interesse tutelado juridicamente.
c) Nexo de causalidade: é a ligação de determinada conduta praticada pelo
agente e o resultado gerado. Dessa forma se o resultado adveio da ação ou omissão
11
praticada pelo agente. Deve existir uma relação de causa e efeito para determinada
conduta configurar crime.
d) Adequação típica: Consiste na adequação do fato praticado pelo agente a
figura típica penal, ocorrendo de duas formas, imediata e mediata: adequação
imediata ocorre quando o fato adequa-se imediatamente no tipo penal, sem a
necessidade de outra norma penal, e adequação mediata que necessita de outra
norma ampliativa para adequar-se corretamente.
1.2.2 Funções do tipo penal
a) Função indiciária: O tipo descreve a conduta penalmente relevante e ilícita,
gerando assim indícios que a conduta praticada pelo agente poderá também ser
antijurídica.
Conforme Cezar Roberto Bitencourt2:
O tipo circunscreve e delimita a conduta penalmente ilícita. A circunstância de uma ação ser típica indica que, provavelmente será também antijurídica. A realização do tipo já antecipa que, provavelmente também há uma infringência do direito, embora esse indício não integre a proibição.
b) Função de garantia: Esta função decorre do princípio da reserva legal, uma
vez que o agente antes de realizar determinado fato, deve ter a possibilidade de
saber se a ação que cometerá é punível ou não.
c) Função diferenciadora do erro: O dolo do agente deve abranger todos os
elementos do tipo penal para se configurar. O eventual desconhecimento do um
elemento do tipo constitui erro, excluindo o dolo quando inevitável.
1.3 ANTIJURIDICIDADE
É a relação de contrariedade do fato com a norma jurídica, causando efetiva
lesão a um bem juridicamente tutelado.
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva. 2010. p.305.
12
Segundo os autores Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
(2010, p.490): “A antijuridicidade é, pois, o choque da conduta com a ordem jurídica,
entendida não só como uma ordem normativa (antinormatividade), mas como uma
ordem normativa e de preceitos permissivos”.
Existem causas que justificam conduta típica, que são: a lei, a necessidade e
a falta de interesse. São denominados de tipos permissivos, nos quais são
permitidos pela figura típica do artigo 23 do Código Penal, que traz a seguinte
redação:
Não há crime quando o agente pratica do fato: I – em estado de necessidade; II – em legítima defesa; III – em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito.
1.3.1 ESTADO DE NECESSIDADE
O estado de necessidade tem sua previsão legal no artigo 24 do Código
Penal, o qual traz a seguinte redação:
Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
Esse dispositivo tem caracterização na colisão de interesses protegidos
pelo ordenamento jurídico, em que para salvaguardar direito próprio ou alheio de
perigo atual e inevitável prevê o sacrifício do bem em beneficio do outro, em
decorrência das circunstâncias.
Segundo Heleno Claudio Fragoso (2003, p.231): “o que justifica a ação é a
necessidade que impõe o sacrifício de um bem em situação de conflito ou colisão,
diante da qual o ordenamento jurídico permite o sacrifício do bem de menor valor”.
Nucci (2012, p.262): “diz que o de estado de necessidade é o sacrifício de um
interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do
próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias
concretas, não fosse razoavelmente exigível”.
13
O estado de necessidade justificante: tem sua configuração quando o
sacrifício ocorrer no bem ou interesse de menor valor, sendo assim considerada
uma ação licita e justificada, desde que indispensável.
O estado de necessidade exculpante: tem sua configuração quando o
sacrifício ocorre com bem ou interesse de igual ou superior valor. O direito dessa
forma não aprova a conduta, tendo caráter ilícito, no entanto exclui a culpabilidade
do agente, ante a inexigibilidade de conduta diversa.
A teoria excludente é adotada pelo Código Penal pátrio, na qual não
estabelece ponderação de bens, juntando a teoria justificante com a exculpante,
formando assim a teoria unitária excludente. Porém a redação do dispositivo legal
não é satisfatória, sendo aceita por correntes doutrinárias a teoria diferenciadora.
1.3.1.1 Requisitos do estado de necessidade
a) Perigo atual ou inevitável: O perigo deve ser atual, ou seja, estar
acontecendo. A situação ocorre de maneira efetiva no presente, e não no passado
ou futuro.
b) Perigo involuntário: O perigo não deve ser provocado intencionalmente
pelo agente.
c) Perigo inevitável: As circunstancias fazem com que o agente não possa
evitar o perigo, devendo a ação lesiva ser imprescindível para afastar o perigo.
d) Inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado: Não é razoável exigir-se
o sacrifício do bem ameaçado.
e) Direito próprio ou alheio: O perigo pode existir tanto para bem próprio
ou alheio, sendo aceita a ação em ambos os casos.
f) Elemento subjetivo: a finalidade deve ser salvar o bem em perigo, essa
motivação deve configurar o momento da ação.
14
g) Ausência do dever legal de enfrentar o perigo: Certas profissões tem o
dever legal de enfrentar o perigo, o que anula a causa de justificação, porém, esse
requisito deve respeitar o principio da razoabilidade.
1.3.2 LEGÍTIMA DEFESA
A legítima defesa consiste na utilização moderadamente de meios
necessários para repelir de si ou de outrem injusta agressão atua e legítima.
A defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente,
contra direito próprio ou de terceiro, contra direito próprio ou de terceiro, usando,
para tanto, moderadamente, os meios necessários. (NUCCI, 2012, p.268)
Os elementos da legitima defesa são: a) agressão: injusta, atual ou iminente,
contra o direito próprio ou de terceiro; b) repulsa: utilização de meios adequados e
moderados. Todos esses meios são relacionados ao elemento subjetivo, que é a
vontade de se defender.
1.3.3 ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
É a ação praticada em cumprimento a um dever imposto por lei, o qual não é
considerado crime. A conduta praticada pelo agente, embora típica e que cause
lesão a um bem protegido juridicamente, não é ilícita, uma vez que a lei permite ao
agente tal atitude.
Conforme Guilherme de Souza Nucci (2012, p.287) descreve: “Trata-se da
ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal,
mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro”.
1.3.4 EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
É a conduta praticada pelo agente que é autorizada por lei, decorrente de
desempenho de atividade ou pratica, jamais poderá ser antijurídico.
Segundo os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt3:
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva. 2010. p.380.
15
O exercício de um direito, desde que regular, não pode ser, ao mesmo tempo, proibido pela ordem jurídica. Regular será o exercício que se contiver nos limites objetivos e subjetivos, formais e materiais impostos pelos próprios fins de direito. Fora desses limites, haverá o abuso de direito e estará, portanto, excluída essa causa de justificação.
1.4 CULPABILIDADE
A culpabilidade é a reprovabilidade do injusto penal cometido pelo agente, ou
seja, o juízo valorativo social censurável de determinado fato cometido pelo autor.
Conforme ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci4:
Trata-se de um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e a exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras do direito.
1.4.1 EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE
1.4.1.1 Inexigibilidade de outra conduta diversa supralegal.
A inexigibilidade da conduta diversa ocorre quando o agente mesmo com o
conhecimento da ilicitude, tome determinada decisão e atitude contraria ao
ordenamento jurídico, em decorrência das circunstâncias, não sendo exigível de tal
forma que o mesmo agisse de acordo com o ordenamento jurídico.
Conforme Fernando Capez5:
Em face do princípio do nulum crimen sine culpa, não há como compelir o juiz a condenar em hipóteses nas quais, embora tenha o legislador esquecido de prever, verificasse claramente a anormalidade de circunstancias concomitantes, que levaram o agente a agir de forma diversa da que faria em uma situação normal. Por essa razão, não devem existir limites legais à adoção de causas dirimentes.
1.4.1.2 Inimputabilidade
4 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 8º Ed., Editora Revista dos Tribunais. 2012.
p.206. 5 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte Especial, vol.2, 10ª Ed., São Paulo. Editora
Saraiva. 2010. p.357.
16
Na inimputabilidade a culpabilidade esta ligada ao estado ou condição do
agente de entender, querer e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Para uma
pessoa ser considerada imputável, o binômio sanidade mental e maturidade são
levados em consideração, sendo essa imputabilidade averiguada de três formas: a)
biológica: a qual leva em conta a saúde mental do agente; b) psicológica:
relacionada a capacidade que o agente possui para apreciar o caráter ilícito de
determinado fato ou de ter o comportamento esperado; c) biopsicológica: que une os
dois conceitos, a qual verifica se o agente tem capacidade mental e entende a
ilicitude do fato.
A imputabilidade penal é descrita no Código Penal nos artigos 26, caput, e 27,
os quais trazem a seguinte redação:
Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas mas estabelecidas a legislação especial.
1.4.1.3 Coação Moral Irresistível e Obediência Hierárquica
A coação moral irresistível é tudo o que pressiona mediante grave ameaça a
vontade do agente impondo determinada atitude, de forma que impossibilite o poder
de escolha. A vontade do agente é viciada, não sendo exigível que o agente se
oponha.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt (2010, p.420): “a coação irresistível é tudo
o que pressiona a vontade do agente impondo determinado comportamento,
eliminando ou reduzindo o poder de escolha, consequentemente trata-se de coação
moral”.
Na obediência hierárquica o agente supondo obedecer a uma ordem legitima
de seu superior, pratica o fato incriminador. O agente que pratica o fato não é
punido, porém, a ordem não pode ser manifestadamente ilegal.
Conforme disposto no artigo 22 do Código Penal: “Se o fato é cometido sob
coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestadamente ilegal,
de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem”.
17
1.4.1.4 A Embriaguez e Substâncias de Efeitos Análogos
A intoxicação do agente sem que o mesmo perceba ou não tenha como reagir
de tal ingestão, que retire a capacidade de entendimento impossibilitando assim sua
capacidade de compreensão da ilicitude é causa excludente de culpabilidade.
1.4.1.5 Erro de Proibição
No erro de proibição o agente faz um juízo equivocado, atuando sem a
consciência da ilicitude do ato, supondo que sua conduta é licita. Excluindo a
culpabilidade nos casos em que esse erro for inevitável.
Cezar Roberto Bitencourt diz que6:
Erro de proibição é o que incide sobre a ilicitude de um comportamento. O agente supõe, por erro, ser licita a sua conduta. I objeto do erro não é, pois, nem a lei, nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei. O agente supõe permitida uma conduta proibida. I agente faz um juízo equivocado daquilo que lhe é permitido fazer em sociedade.
1.4.1.6 Descriminantes Putativas
O agente erroneamente supõe agir licitamente, pois considera presente os
requisitos de uma das causas justificativas previstas em lei, a qual tornaria sua ação
legitima.
Bitencourt entende que7:
As denominadas descriminantes putativas existem somente na imaginação do agente que, erroneamente, supõe a ocorrência de uma excludente de criminalidade que, se existisse, tornaria legítima. Por isso, sua suposição errônea da ocorrência de uma causa de justificação, objetivamente inexistente, não tem condão de excluir a antijuridicidade.
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 8º Ed., Editora Saraiva. 2014. p.173.
7 Id. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva. 2010. p.434.
18
2 FURTO
2.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS
O caput do artigo 155 do Código Penal nos traz o conceito legal de
crime “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”, essa figura típica é um
crime contra o patrimônio, na qual inexiste violência à pessoa ou grave ameaça,
contra a vontade do proprietário ou possuidor.
Guilherme de Souza Nucci8 nos traz o seguinte conceito de furto:
Furtar significa apoderar-se ou assenhorear-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono daquilo que, juridicamente, não lhe pertence. O Nomen juris do crime, por si só, dá uma bem definida noção do que vem a ser a conduta descrita no tipo penal.
No furto o bem jurídico tutelado é o patrimônio de quem possui ou tem a
propriedade da coisa móvel, é o que nos ensina Cezar Roberto Bitencourt9:
Bens jurídicos protegidos diretamente são a posse e a propriedade de coisa móvel, como regra geral, e admitimos também a própria detenção do objeto da tutela penal, na medida em que usá-lo, portá-lo ou simplesmente retê-lo já representa um bem para o possuidor detentor da coisa.
O sujeito ativo desta figura típica pode ser qualquer pessoa, menos o
proprietário ou possuidor, pois a coisa deve ser alheia e não própria. O sujeito
passivo é o proprietário ou possuidor, desde que tenha interesse legitimo sob a
coisa subtraída.
O furto tem como tipo objetivo a ação de subtrair do proprietário ou possuidor,
coisa móvel contra a vontade do mesmo, sem a utilização de violência, com o intuito
de possuir definitivamente a coisa, para si ou para outrem, é o que diz Cezar
Roberto Bitencourt10:
Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Subtrair significa tirar, retirar, surrupiar, tirar às escondidas. Subtrair não é a simples retirada da coisa do lugar em que se encontrava; é necessário, a posteriori, sujeita-la ao poder de disposição do agente, a finalidade deste é dispor da coisa com animus definitivo, para si ou para outrem.
8 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª Ed., Revista; atual e ampliada – São
Paulo, editora revista dos tribunais. 2010. p.733. 9 BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal Comentado. 8ª Ed., Editora Saraiva. 2014. p.691.
10 Ibidem. 2014. p.692.
19
[...] A coisa objeto da subtração tem que ser móvel, sendo-lhe equiparada a energia elétrica.
O tipo subjetivo do furto consiste no dolo do agente de subtrair para si ou para
outrem coisa alheia móvel, a vontade é voluntaria e consciente.
2.2 A CONSUMAÇÃO E TENTATIVA DO FURTO
A consumação dá-se com a subtração da coisa da esfera de proteção e
disponibilidade da vítima, sendo transferida a posse de forma ilícita para o agente. É
o que diz Cezar Roberto Bitencourt11:
Consuma-se o crime de furto com a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, assegurando-se, em consequência, a posse tranquila, mesmo passageira, por parte do agente, em outros termos, consuma-se quando a coisa sai da posse da vítima, ingressando na do agente. A posse de quem detinha a coisa é substituída pela posse do agente, em verdadeira inversão ilícita.
O furto admite a figura tentada, nos casos em que o sujeito ativo não
conseguir retirar o objeto material da esfera de proteção e vigilância de seu
possuidor ou proprietário por causas estranhas a sua vontade, a atividade executória
é interrompida no curso da execução.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt12:
O furto, como crime material, admite com segurança a figura tentada. Sempre que a atividade executória seja interrompida, no curso da execução, por causas estranhas a vontade do agente, configura-se a tentativa. Em outros termos, quando o processo executório for impedido de prosseguir antes de o objeto da subtração ser deslocado da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima para a posse tranquila do agente, não se pode falar em crime consumado.
2.3 MODALIDADES DO FURTO
2.3.1 Furto Simples
11
BITENCOURT, Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 8ª Ed., Editora Saraiva. 2014. p.696. 12
Ibidem. 2014. p.696.
20
O Código Penal prevê no art. 155, caput, “subtrair, para si ou outrem, coisa
alheia móvel”, descreve como furto simples.
No entendimento de Bitencourt (2012, p.35, parte especial): “subtrair coisa
alheia móvel, para si ou para outrem, significa tirar, retirar, surrupiar às escondidas,
e não é a simples retirada da coisa do lugar em que se encontrava, é necessário
sujeitá-la ao poder de disposição do agente”.
Entretanto, a coisa deve ser móvel e alheia, ou seja, é todo e qualquer objeto
passível de deslocamento de um lugar para outro, e que pertence a alguém.
Sendo assim, será furto simples sempre quando não houver as circunstâncias
dos parágrafos primeiro e seguintes.
2.3.2 Furto Noturno
Furto noturno de acordo com o art. 155, §1º, “a pena aumenta de um terço se
o crime é praticado durante o repouso noturno. Observa-se que o furto praticado
durante o repouso noturno, embora não qualifique o crime, majora a pena aplicável”.
Segundo Damásio (2007, p.318, parte especial): “repouso noturno é o período
em que, à noite, as pessoas se recolhem para descansar, não há critério fixo para
conceituação dessa qualificadora. Depende do caso concreto, a ser decidido pelo
juiz”.
A qualificadora desse furto é quando o sujeito se aproveita da circunstância
da maior facilidade para a prática do furto, e não a simples menor vigilância
decorrente do ensejo escolhido para a prática do crime.
Segundo parte da jurisprudência, exigem-se dois requisitos do repouso
noturno; Primeiro, é que o fato seja praticado em casa habita, mas alguns
doutrinadores concordam com a inaplicabilidade da majorante do repouso noturno
quando se é praticado em lugar desabitado ou na ausência do sujeito passivo.
Conforme descreve Bitencourt (2012, p.48, parte especial): “em lugar
desabitado ou na ausência de moradores não pode cessar ou diminuir algo que nem
sequer existe”.
E o segundo requisito, é que seus moradores estejam repousando no
momento da subtração. Pois, nessas circunstâncias, o sujeito passivo encontra-se
em estado vulnerável, facilitando o êxito do empreendimento delituoso.
21
2.3.3 Furto Privilegiado
Nos termos do art. 155,§2º, do Código Penal, diz que “se o criminoso é
primário e de pequeno valor a coisa furtada, pode substituir a pena de reclusão pela
de detenção, ou seja, o juiz pode substituir a pena de um para dois terços, ou
somente aplicar a multa”. Sendo que essa redução não se aplica a multa, devendo
ser fixada conforme o art. 60 do CP.
No entanto, Bitencourt (2012, p.50, parte especial): discorda totalmente do
conceito de primário de Damásio, diz que “primário não é aquele sujeito que foi
condenado ou está sendo condenado pela primeira vez, como também aquele que
tem várias condenações, não sendo reincidente”.
Observa-se Bitencourt13:
[...] termo primariedade tem um conceito delimitado, pois eventuais condenações anteriores, não são causas impeditivas do reconhecimento da existência desse requisito à luz de nosso ordenamento jurídico em vigor. Tratando-se de norma criminal, não pode ter interpretação extensiva, para restringir a liberdade do cidadão.
O outro requisito legal é “coisa de pequeno valor”, mas tanto a doutrina
quanto a jurisprudência não tem a definição adequada, devendo se levar em
consideração as peculiaridades e circunstâncias do local do fato e pessoas.
Lembrava Magalhães Noronha (1979, p.243): "ao rico porque, talvez, nem
perceberá sua falta; ao pobre porque, na sua penúria, de pouco lhe valerá”.
2.3.4 Furto de Energia Elétrica
Segundo o art. 155,§ 3º. Código Penal, iguala-se à coisa móvel a energia
elétrica ou qualquer coisa que tenha valor econômico. Configura também o crime a
subtração de energia atômica, térmica, pois têm valor econômico, ou seja, pode
ocorrer por vários meios. Porém, a forma mais comum é aquela em que o sujeito
desvia clandestinamente energia elétrica de outrem, obtendo de forma gratuita e
13
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Vol.3. 8º Ed., Editora Saraiva. 2012. p.50.
22
gerando prejuízo, ou quando o sujeito subtrai antes mesmo de passar pelo medidor,
gerando prejuízo a companhia de eletricidade.
2.3.5 Furto Qualificado
Previsto no art. 155, § 4º e 5º do Código Penal:
Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. § 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) [...]
O entendimento de Bitencourt (2012, p.52 parte especial), “o crime de furto
pode apresentar particularidades que representem maior gravidade na violação do
patrimônio alheio, tornando o alarme social, com isso a conduta mais censurável e,
merecedora de maior punibilidade”.
Para a aplicação da pena descrita no §4º do CP, deve-se fazer uma análise
de elementos definidos como tipos penais.
2.3.5.1 Com destruição ou rompimento de obstáculo
Esta qualificadora encontra-se descrita no art. 155, §4º, I do Código Penal,
que apresenta duas hipóteses distintas, a de destruição que significa desfazer
completamente o obstáculo que protege o objeto, com o intuito de arrombar para a
subtração. Por sua vez, o rompimento, consiste no arrombamento, visando facilitar a
subtração da coisa alheia. Sendo assim, a destruição ou rompimento praticado para
a subtração, mesmo após a apreensão física da coisa, também qualifica o crime;
mas se for praticado após a consumação do furto constituirá crime autônomo.
(BITENCOURT, 2012, p.55, parte especial).
2.3.5.2 Com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza
23
O abuso de confiança descrita no art. 155, § 4º, II do Código Penal é quando
a vítima dispensa proteção à coisa, diante dessa confiança o agente pratica a
subtração, pois consiste em uma espécie de traição, razão pela qual, foi facilitado o
acesso à coisa a ser subtraída, essa qualificadora do furto não se deve confundir
com o crime de apropriação indébita, que é quando o sujeito exerce não tem a
posse da coisa, em razão da confiança por determinado fim. Ao contrário do furto
que o sujeito tem contato com a coisa, mas não tem a posse, com isso a coisa fica
aos cuidados do dono.
No entendimento de Bitencourt (2012, p.55, parte especial): “que descreve a
confiança como um sentimento interior de credibilidade, representando um vínculo
subjetivo de respeito e consideração entre agente e a vítima”.
Exemplo clássico é o empregado doméstico, mas não basta o vínculo
empregatício para esta qualificadora, mas sim o indispensável vínculo subjetivo
caracterizador de confiança possível de ser quebrado entre o sujeito ativo que se
aproveite dessa relação para praticar o crime, sendo a relação de causa e efeito.
É necessária que a confiança seja natural, conquistada normalmente, isto é,
sem ardil, caso contrário a qualificadora que se apresenta não é o abuso de
confiança, mas a fraude. (BITENCOURT, 2012, p.56, parte especial).
A fraude é a utilização de estratégia para desviar a atenção da vitima, com o
objetivo de induzir alguém ao erro, com a finalidade criminosa em atingir o objetivo.
No entendimento de Bitencourt14:
A qualificadora aperfeiçoa-se quer a fraude seja utilizada para apreensão da coisa, quer para seu assenhoreamento. Não há nenhuma restrição quanto à forma, meio o espécie de fraude, basta que seja idônea para desviar a atenção do dono, proprietário ou simples “vigilante” da disponibilidade e segurança da res. Assim, caracteriza meio fraudulento qualquer artimanha utilizada para provocar a desatenção ou distração da vigilância, para facilitar a subtração da coisa alheia.
Portanto, o furto na fraude visa desviar a atenção do dono da coisa, e assim
não percebe que esta sendo subtraído.
14
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Vol.3. 8º Ed., Editora
Saraiva. 2012. p.57.
24
Escalada no direito penal significa dizer, é quando o sujeito entra por via
anormal no lugar em que o objeto da subtração se encontra, ou seja, por entrada
que não é destinada para esse fim.
Já na destreza é a habilidade especial de subtrair o objeto sem que a vítima
perceba a subtração na sua presença.
Segundo Bitencourt (2012, p.59 parte especial): “destreza constitui a
habilidade física ou manual empregada pelo agente na subtração, fazendo que a
vítima não perceba o seu ato. É o meio empregado pelos batedores de carteira”.
2.3.5.3 Com emprego de chave falsa
O furto pelo emprego de chave falsa é qualquer instrumento de que se sirva o
agente para abrir fechaduras, tendo ou não formato de chave, facilitando, dessa
forma, o cometimento do ilícito penal. (BITENCOURT, 2012, p.60 parte especial).
2.3.5.4 Mediante concurso de duas ou mais pessoas
Esta qualificadora de concurso de duas ou mais pessoas no furto é quando se
diminui a possibilidade de defesa do bem quando atacado por mais de uma pessoa,
mas todos que concorrem para o crime são punidos.
Segundo Bitencourt15 a exemplo de Nelson Hungria, define:
[...] trata-se de crime eventualmente coletivo, devendo-se, em princípio, observar as regras sobre a participação criminosa, com algumas modificações: a necessidade da presença in loco dos concorrentes, ou seja, participação efetiva na fase executiva; é necessária uma consciente combinação de vontades, sendo insuficiente uma adesão voluntaria, mas ignorada. É irrelevante que algum dos participantes seja inimputável ou isento de pena; pela mesma razão, é indiferente que apenas um seja identificado. Ajuste prévio que não chega sequer a ser tentado é impunível.
15
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial. Vol.3. 8º Ed., Editora
Saraiva. 2012. p.61.
25
3 FURTO FAMÉLICO
3.1 CONCEITO E CARACTERISTICAS
O furto famélico consiste na subtração de coisa alheia móvel para saciar a
fome própria ou de outrem, por aquele que se encontra em estado de penúria.
Essa modalidade de furto para a doutrina majoritária é um fato típico, mas não
ilícito, pois o estado de necessidade exclui a ilicitude. Devendo preencher os
requisitos do art. 24 do Código Penal.
Fernando Capez16 nos traz uma definição de furto famélico:
É aquele que cometido por quem se encontra em situação de extrema miserabilidade, penúria, necessitando de alimento para saciar a sua fome e/ou de sua família. Não se configura, na hipótese, o crime, pois o estado de necessidade exclui a ilicitude do crime. Assim, o furto seria um fato típico, mas não ilícito.
Essa permissão ocorre pela necessidade imediata do agente de saciar fome
própria ou de outrem. Por mais que exista o conflito de princípios, os quais são: vida
e patrimônio. A necessidade da pessoa de se alimentar prevalecerá, pois as
circunstâncias que configuram o furto famélico são estremas e por consequência
justificáveis, afastando assim a criminalidade do fato para conservação do bem mais
valioso, não sendo exigível o sacrifício.
Júlio Fabbrini Mirabete17 nos ensina que:
O estado de necessidade pressupõe um conflito entre titulares de interesses lícitos, legítimos, em que um pode parecer licitamente para que outro sobreviva. Exemplos Clássicos de estado de necessidade são: o furto famélico, a antropologia no caso de pessoas perdidas, a destruição de mercadorias de uma embarcação ou aeronave para salvar tripulação e passageiros, a morde de um animal que ataca o agente sem interferência alguma de seu dono etc. Não podendo o estado acudir aquele que está em perigo, nem devendo tomar partido a priori de qualquer dos titulares dos bens em conflito, concedo o direito de que se ofenda bem alheio para salvar direito próprio ou de terceiro ante um fato irremediável.
Para o furto famélico configurar causa de exclusão de ilicitude, devem estar
presentes os requisitos do estado de necessidade e o dano deve ser mínimo, uma
16
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: Parte Especial. vol.2, 10 Ed., Editora Saraiva. 2010. p.439. 17
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Manual de direito penal: Parte Geral, 25 Ed., 2009, p.163.
26
vez que, é apenas para saciar fome momentânea e gerar o menor prejuízo possível.
O objeto do furto famélico deve ter como única finalidade saciar a fome própria ou de
outrem, sem causar grandes prejuízos a vítima, o alimento furtado deve ser de
pouco valor, causando um dano mínimo.
Segundo Rogério Grecco18:
No entanto, como em todo raciocínio que diz respeito ao estado de necessidade, ambos os bens em confronto são juridicamente protegidos, o agente deve subtrair patrimônio alheio (alimento) que cause menos prejuízo, uma vez que, havendo alternativa de subtração, deve optar por aquela menos lesiva à vitima, pois, caso contrario, não poderá beneficiar-se com a causa de justificação em estudo.
Sendo assim lesividade deve ser mínima, desta forma deve-se ressaltar
também que não é somente a lesividade patrimonial, mas também o perigo
resultante da conduta do agente. Ao colocar em risco a vítima, a lesividade deixa de
ser mínima, dessa forma para configurar o furto famélico o risco a vítima também
deve ser ínfimo.
Segundo Rogério Sanches Cunha19 para a configuração do furto famélico é
necessário os seguintes requisitos atrelados ao estado de necessidade:
a) que o fato seja praticado para mitigar a fome, b) que seja o único e derradeiro recurso do agente (inevitabilidade do comportamento lesivo), c) que haja a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência, e d) a insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou a impossibilidade de trabalhar.
3.1.1 O furto famélico e o estado de necessidade:
A inclinação da doutrina nacional é por atrelar o furto famélico ao estado de
necessidade, como causa excludente de antijuridicidade, conforme anteriormente
dito.
Ocorre que para a configuração do estado de necessidade, devem estar
preenchidos os seus requisitos, e que são: Perigo atual ou inevitável (necessidade
imediata do agente de saciar fome), Perigo involuntário (O perigo não deve ser
18
GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, vol.3, Editora Impetus. 4 Ed., 2007. p 42. 19
CUNHA, Rogério Sanches. Direito penal: Parte Especial. Coleção ciências criminais. vol.3. Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.131-132
27
provocado intencionalmente pelo agente). Perigo inevitável (As circunstancias fazem
com que o agente não possa evitar o perigo, devendo a ação lesiva ser
imprescindível para afastar o perigo, no caso alimentar-se), Inexigibilidade do
sacrifício do bem ameaçado (Não é razoável exigir-se o sacrifício do bem
ameaçado, conflito entre dois bens penalmente tutelado, vida e patrimônio), Direito
próprio ou alheio: (O perigo pode existir tanto para bem próprio ou alheio, sendo
aceita a ação em ambos os casos, fome própria ou alheia), Elemento subjetivo: (a
finalidade deve ser salvar o bem em perigo, essa motivação deve configurar o
momento da ação), e Ausência do dever legal de enfrentar o perigo (Certas
profissões tem o dever legal de enfrentar o perigo, o que anula a causa de
justificação, porém, esse requisito deve respeitar o principio da razoabilidade).
Desta forma, estando presentes os requisitos, temos a permissividade
segundo a doutrina, a qual é causa excludente de antijuridicidade.
3.1.2 O furto famélico e a Inexigibilidade da conduta diversa da supralegal
A inexigibilidade da conduta diversa parece uma causa de exclusão cabível
ao furto famélico, porém, não utilizada pela doutrina e jurisprudência.
Segundo essa teoria o agente mesmo com o conhecimento da ilicitude (no
caso o furto), toma determinada decisão e atitude contraria ao ordenamento jurídico,
em decorrência das circunstâncias (a fome seria a circunstância que determinaria
essa atitude).
Dessa forma não pode-se exigir que um homem indigente e faminto o mesmo
comportamento do homem saudável e alimentado.
Não exigível de tal forma que o agente ao praticar furto famélico agisse de
acordo com o ordenamento jurídico, prevalecendo no conflito de bens penalmente
tutelados o de maior valor. Sendo dessa forma cabível a teoria Inexigibilidade da
conduta diversa da supralegal ao furto famélico.
3.1.3 O furto famélico e o principio da insignificância
A teoria utilizada pela jurisprudência para afastar criminalidade do furto
famélico é relacioná-lo inseparavelmente ao princípio da insignificância afastando
28
dessa forma a tipicidade do fato mesmo que presentes os requisitos formais do tipo
penal, ao considerar que o gera dano de pouca relevância ao bem juridicamente
tutelado, sendo de mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social e pequeno
grau de reprovabilidade da conduta praticada, resultando assim na absolvição do
réu, por não ser considera a conduta do agente crime.
É o que diz o Ministro Luiz Fux “O furto famélico subsiste com o princípio da
insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o
reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico.”
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28furto+fam
elico%29&base=baseAcordaos (Acessado em 15/04/14).
Sendo assim a solução aplicada nos tribunais superiores para a não
criminalização do furto famélico.
3.1.4 Jurisprudência
O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento diferente na exclusão do
furto famélico como crime. A doutrina majoritária justifica a permissividade do furto
famélico como excludente de antijuridicidade, uma vez que o agente ao praticar o
ato encontra-se em estado de necessidade em decorrência da penúria. O
entendimento do STF difere da doutrina, pois o entendimento abordado é que existe
uma ligação inseparável do furto famélico ao principio da insignificância, em
decorrência do objeto do furto ser de valor ínfimo, estando assim diretamente ligado
a esse princípio o que gera por consequência a exclusão da tipicidade. É o que nos
ensina o Ministro Luiz Fux:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada
29
caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal) por ter subtraído 4 (quatro) galinhas caipiras, avaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais). As instâncias precedentes deixaram de aplicar o princípio da insignificância em razão de ser o paciente contumaz na prática do crime de furto. 5. Trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 6. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 7. In casu, o paciente é conhecido - consta na denúncia - por “Fernando Gatuno”, alcunha sugestiva de que se dedica à prática de crimes contra o patrimônio; aliás, conforme comprovado por sua extensa ficha criminal, sendo certo que a quantidade de galinhas furtadas (quatro), é apta a indicar que o fim visado pode não ser somente o de saciar a fome à falta de outro meio para conseguir alimentos. 8. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento. (BRASIL, Superior Tribunal Federal. Habeas-corpus nº 115850 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28furto+famelico%29&base=baseAcordaos). Acesso em 15/04/14
O Superior Tribunal de Justiça aplica de igual forma na solução para a
permissividade do furto famélico o princípio da insignificância, conforme voto do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. BISCOITOS, LEITE, PÃES E BOLOS. CRIME FAMÉLICO. ÍNFIMO VALOR DOS BENS. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O princípio da insignificância em matéria penal deve ser aplicado excepcionalmente, nos casos em que, não obstante a conduta, a vítima não tenha sofrido prejuízo relevante em seu patrimônio, de maneira a não configurar ofensa expressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Assim, para afastar a tipicidade pela aplicação do referido princípio, o desvalor do resultado ou o desvalor da ação, ou seja, a lesão ao bem jurídico ou a conduta do agente, devem ser ínfimos. 2. In casu, conquanto o presente recurso não tenha sido instruído com o laudo de avaliação das mercadorias, tem-se que o valor total dos bens furtados pelo recorrente - pacotes de biscoito, leite, pães e bolos -, além de ser ínfimo, não afetou de forma expressiva o patrimônio das vítimas, razão pela qual incide na espécie o princípio da insignificância, reconhecendo-se a inexistência do crime de furto pela exclusão da ilicitude. Precedentes desta Corte.
30
3. Recurso provido, em conformidade com o parecer ministerial, para conceder a liberdade ao recorrente, se por outro motivo não estiver preso, e trancar a ação penal por falta de justa causa. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso ordinário em Habeas-Corpus. 23.376/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2008, DJe 20/10/2008 disponível em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=4195624&sReg=200800754029&sData=20081020&sTipo=5&formato=PDF). Acesso em 15/04/14
3.2 Princípios do furto famélico
3.2.1 Princípio da dignidade da pessoa
A dignidade constitui um valor universal, em que todo o individuo tem direito a
uma vida digna, livre, na qual goze de igualdade de condições, cabendo ao Estado o
dever de zelar por esse princípio fundamental, tipificado na Constituição Federal em
seu artigo 1º, inciso III, que preconiza o seguinte: “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a
dignidade da pessoa humana”.
Essa figura é elemento essencial da nossa República Federativa e de nosso
ordenamento jurídico, o qual garante condições essenciais ao individuo como vida,
saúde, alimentação, moradia, liberdade, educação, trabalho, dentre outras.
A dignidade humana somente é possível quando o individuo consegue manter
sua subsistência, mesmo que com o mínimo de respeito e qualidade. Na
impossibilidade do indivíduo conseguir sozinho, cabe ao Estado manter o mínimo, o
que nem sempre é possível, gerando dessa forma miséria e penúria.
Essa situação social possibilita algumas permissões pelo Estado, que são
justificadas pela necessidade, o que é o caso do furto famélico, que o indivíduo
subtraí, para si ou para outrem, alimento em decorrência da necessidade imediata
de alimentar-se.
3.2.2 Princípio da adequação social
Ao valorarmos a conduta criminalizada tipicamente pelo agente, devemos
também levar em conta o meio social, sendo que o mesmo pode configurar uma
31
figura típica, mas carecer de relevância no meio social, uma vez que é tolerado
socialmente e permitido.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt20:
O tipo penal implica uma seleção de comportamentos e, ao mesmo tempo, uma valoração da conduta criminalizadora (o típico já é penalmente relevante). Contudo, também é verdade, certos comportamentos, em si mesmos típicos, carecem de relevância por serem corrente no meio social, pois, muitas vezes, há um descompasso entre as normas penais incriminadoras e o socialmente permitido ou tolerado.
3.2.3 Princípio da insignificância
O princípio da insignificância tem o sentido de afastar a tipicidade do fato
mesmo que presentes os requisitos formais do tipo penal, por não causar dano
relevante ao bem juridicamente tutelado, sendo de mínima ofensividade, nenhuma
periculosidade social e pequeno grau de reprovabilidade da conduta praticada,
resultando assim na absolvição do réu, por não ser considera a conduta do agente
crime
A figura do furto famélico também encontra-se amparada por nesse princípio,
uma vez que o objeto furtado para saciar a fome é de pequena monta, sendo
inexpressível a lesão jurídica causada pelo agente.
Segundo Guilherme de Souza Nucci (2012, p.287): “com relação à
insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito penal, diante de seu
caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio, no sistema punitivo, não se deve
ocupar com bagatelas”.
3.2.4 Principio da intervenção mínima
O Estado tem como incumbência procurar desenvolver seus atos sem
desperdício e de maneira eficiente, incidindo o direito penal como ultima ratio. Não
devendo o Estado intervir em condutas obsoletas. No furto famélico o dano e o valor
do bem são ínfimos, justificando assim a utilização desse princípio. A justiça
brasileira tem um alto custo e encontra-se com uma quantidade enorme de
20
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva. 2010. p.325.
32
processos, tornando dessa forma a aplicação judiciária inviável aos casos de furto
famélico, uma vez que os prejuízos causados a sociedade e a vitima são mínimos.
Segundo Cezar Roberto Bitencourt21:
O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável.
3.2.5 Princípio da ofensividade
Para determinada ação se tipifique como crime, é indispensável que exista
perigo real, concreto e efetivo de dano a um bem tutelado juridicamente. Sendo
nesses casos admitida a intervenção do Estado. Deve haver um perigo mínimo na
conduta do agente.
Conforme ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt22:
Somente se admite a existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto perigo de lesão a um bem jurídico determinado. Em outros termos, o legislador deve abster-se de tipificar como crime ações incapazes de lesar ou, no mínimo, colocar em perigo concreto o bem jurídico protegido pela norma penal. Sem afetar o bem jurídico, no mínimo colocando-o em risco efetivo, não há infração penal.
Nesse sentido tal princípio é totalmente aplicável ao furto famélico, uma vez
que a ofensividade do crime praticado é mínima, não causando assim lesão
relevante ao bem jurídico tutelado e por consequência não configurando crime. A
fundamentação do STF, no sentido de excluir a tipicidade pelo fato do furto famélico
estar atrelado ao princípio da insignificância, também encontra fundamentação no
principio da ofensividade.
21
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva. 2010. p.43. 22
Ibidem. 2010. p.52.
33
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo e o desenvolvimento deste trabalho foi realizar uma analise do furto
famélico, que é praticado em uma situação extrema e especial, por aquele que se
encontra em estado de miséria extrema e busca saciar a fome própria ou de outrem,
em que o agente subtraí coisa alheia móvel para suprir a necessidade básica e
imediata de sobrevivência.
O primeiro capítulo teve como objetivo abordar a teoria do crime utilizada pela
nossa doutrina, analisando suas elementares e suas causas de permissividade,
desta forma realizando uma analise criminológica dos requisitos para determinada
figura configurar crime.
Posteriormente no segundo capitulo foi realizada uma analise da figura típica
do furto, trazendo dessa forma suas elementares e modalidades presentes no artigo
155 do Código Penal Pátrio.
O terceiro capítulo traz o estudo do furto famélico, seus conceitos,
características e princípios norteadores. Essa figura não está tipificada, porém, deve
encontrar embasamento nos costumes e princípios do direito. O furto famélico em
decorrência da sua situação extrema e especial, não é considerado como crime e
encontra algumas teorias para essa fundamentação.
A doutrina traz como fundamento justificante do furto famélico o estado de
necessidade, essa permissão ocorre pela necessidade imediata do agente de saciar
fome própria ou de outrem.
Outra teoria aceita é a da inexigibilidade de outra conduta diversa supra legal,
uma vez que a atitude contraria ao ordenamento jurídico, é realizada em decorrência
das circunstâncias extremas, não sendo exigível de tal forma que o mesmo agisse
de acordo com o ordenamento jurídico.
E por fim como terceira e ultima teoria, temos teoria utilizada pela
jurisprudência para afastar criminalidade do furto famélico relacionando-o ao
princípio da insignificância afastando dessa forma a tipicidade do fato mesmo que
presentes os requisitos formais do tipo penal, ao considerar que o gera dano de
pouca relevância ao bem juridicamente tutelado.
Desta forma chega-se a conclusão que a natureza jurídica do furto famélico
no ordenamento jurídico brasileiro ocorre de três diferentes formas: Estado de
34
necessidade, inexigibilidade de conduta adversa da supralegal e insignificância.
Causas essas que preenchidas seus requisitos são juridicamente aceitas.
Ocorre que Independente da teoria adotada é dever do Estado garantir ao
individuo uma vida digna, livre, na qual goze de igualdade de condições. Somente
possível quando o individuo consegue manter sua subsistência, mesmo que com o
mínimo de respeito e qualidade.
35
REFERÊNCIAS
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 8ª Ed., Editora Saraiva.
2014.
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, 15º Ed., Editora Saraiva.
2010.
BRASIL. Código Penal, Decreto Lei 2.848. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm Acesso em: 15 abril
2014.
BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em 15 abril
2014.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Parte Especial, vol.2, 10 Ed., São
Paulo. Editora Saraiva. 2010.
CUNHA, Rogério Sanches. Direito penal: Parte Especial. Coleção ciências
criminais. vol.3. Editora Revista dos Tribunais, 2010. p.131-132
FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de Direito Penal: parte geral. Editora Forense,
16 Ed., 2003.
GRECCO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, vol.3, Editora Impetus.
4 Ed., 2007.
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal: Parte Geral, 25 Ed., 2009.
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10 Ed., Revista atual e
ampliada – São Paulo, editora revista dos tribunais. 2010.
36
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 8 Ed., Editora Revista dos
Tribunais. 2012.
STF- Habeas-corpus nº 115850 – Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28furto+fam
elico%29&base=baseAcordaos (Acesso em 15/04/14).
STJ- Recurso ordinário em Habeas-Corpus. 23.376/MG – Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=4195
624&sReg=200800754029&sData=20081020&sTipo=5&formato=PDF (Acesso em
15/04/14).
ZAFFARONI, Eugenio Raul, e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito
Penal Brasileiro: parte geral, vol.I. Editora Revista dos Tribunais, 8 Ed., 2010.