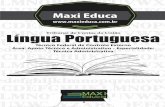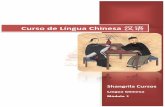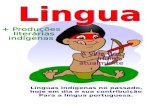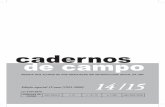1 a estética nas aulas de portugues como segunda lingua estudo de caso etnografico
-
Upload
rosivaldo-gomes -
Category
Education
-
view
335 -
download
5
description
Transcript of 1 a estética nas aulas de portugues como segunda lingua estudo de caso etnografico
- 1. Universidade de Braslia UnB Instituto de Letras IL Departamento de Lnguas Estrangeiras e Traduo LET Programa de Ps-Graduao em Lingstica Aplicada PPGLA A ESTTICA NAS AULAS DE PORTUGUS COMO SEGUNDA LNGUA: UM ESTUDO DE CASO Mnica Rodrigues da Luz Braslia 2007
2. ii Mnica Rodrigues da Luz A ESTTICA NAS AULAS DE PORTUGUS COMO SEGUNDA LNGUA: UM ESTUDO DE CASO Dissertao apresentada ao Programa de Mestrado em Lingstica Aplicada do Departamento de Lnguas Estrangeiras e Traduo da Universidade de Braslia como requisito parcial obteno do ttulo de Mestre em Lingstica Aplicada na rea de Ensino- Aprendizagem de Segunda Lngua e Lnguas Estrangeiras. Orientadora: Prof. Dr. Perclia Lopes Cassemiro dos Santos Braslia 2007 3. iii BANCA EXAMINADORA Prof. Dr. Perclia Lopes Cassemiro dos Santos Orientadora Prof. Dr. Edleise Mendes de Oliveira Santos Examinadora Externa Prof. Dr. Cynthia Ann Bell dos Santos Examinadora Interna Prof. Dr. Maria Luisa Ortz lvarez Suplente 4. iv DEDICATRIA Dedico esta dissertao ao meu filho Gustavo 5. v AGRADECIMENTOS Agradeo a minha orientadora Prof. Dr. Perclia Lopes Cassemiro dos Santos por me apresentar e me iniciar no ensino e pesquisa de Portugus para Falantes de Outras Lnguas, por me incentivar a buscar conhecimentos nessa rea, por despertar o meu interesse pela sala de aula, por acreditar na minha capacidade, por ter aceitado me orientar e por me conduzir, com sabedoria, na construo desta pesquisa. Prof. Dr. Edleise Mendes de Oliveira Santos, agradecimento especial por ter aceitado fazer parte da banca de examinadores, por todo o seu profissionalismo, disponibilidade e generosidade em realizar a leitura e fazer uma avaliao deste trabalho. Prof. Dr. Cinthya Ann Bell dos Santos por ter aceitado, gentilmente, compor a banca, por realizar uma leitura to atenta e criteriosa e por analisar esta dissertao. Prof. Dr. Maria Luisa Ortz lvarez por ter aceitado, de prontido, compor a banca como suplente e por todos os seus ensinamentos acadmicos e de vida. Secretaria de Estado de Educao do Distrito Federal, via EAPE, que possibilitou a concluso deste trabalho ao conceder-me o afastamento remunerado para estudos. Aos professores das disciplinas que cursei durante o mestrado, cada um deles contribuiu para a realizao deste trabalho: Prof. Dr. Jos Carlos Paes de Almeida Filho que, sapientemente, ajudou-me na definio da temtica deste trabalho. Prof. Dr. Augusto Csar L. Moura Filho pelas lies sobre autonomia na aprendizagem de lnguas. Prof. Dr. Enrique Huelva que compartilhou conosco muito de seu saber terico. E aos demais professores do Programa de Ps-Graduao em Lingstica Aplicada. Prof. Dr. Maria Jandyra Cavalcanti Cunha por ter me iniciado na pesquisa na rea de Portugus para Falantes de Outras Lnguas e por todo incentivo. Prof. Dr. Daniele Marcele Grannier que contribuiu para aumentar o meu conhecimento na rea de Portugus como Segunda Lngua. professora participante da pesquisa por colaborar comigo, no s, permitindo a minha entrada em seu ambiente de trabalho, mas por ir alm cedendo-me espao para 6. vi aplicao da minha proposta e por acompanhar-me durante todo o processo, obrigada por sua participao e generosidade. Aos alunos participantes desta pesquisa que, tambm, permitiram a minha entrada no ambiente de aprendizagem deles para a realizao desta pesquisa me acolhendo e colaborando comigo. Sem a participao de vocs esta pesquisa no teria sido realizada. Muito obrigada! Aos meus colegas do mestrado, em especial, Edleide Santos Menezes por todas as trocas realizadas. Ao Lus Carlos Ramos e Deise Scherer por compartilhar comigo momentos de estudos. turma mais autnoma do Prof. Augusto (Camila, Cibele, Dbora, George, Leila, Monike), saudade da nossa turma, com vocs e com o professor Augusto aprendi muito. A minha colega Maria da Guia Taveiros que veio da Educao para colaborar com nosso aprendizado na Lingstica Aplicada e por ter me ajudado na elaborao e apresentao de trabalhos nas disciplinas. Ao Alexis Kouam e Maria do Carmo Saunders pelos momentos de convivncia e auxlio na apresentao de trabalhos. Ao Leandro Rodrigues, que nossos caminhos acadmicos continuem se cruzando. Marilena Bomfim pela a amizade, por todo incentivo e apoio. secretaria do Programa que sempre me atendeu com gentileza e presteza. Thelma Elita, muito obrigada por tudo. As minhas amigas Alessandra, Galilia, Iara, Ktia, Tatiana e minha prima Janine, amigas de sempre e para sempre. Obrigada pela amizade e por entenderem minha ausncia. Ao meu pai Jos Rodrigues por todas as lies passadas a mim ao longo da vida e por ter me emprestado livros sobre esttica e arte que foram importantes na confeco desta pesquisa. A minha me Maria das Dres, muito obrigada, por todo seu companheirismo e apoio incondicional em todos os momentos da minha vida. A minha querida irm, Iza Rodrigues da Luz, que me ajudou na construo deste trabalho desde a origem at a sua finalizao, compartilhando muito do seu saber acadmico comigo, voc um exemplo! Ao meu marido Amando por todo incentivo, ajuda material e emocional, por compartilhar comigo a vida, projetos e sonhos e por me dar equilbrio. 7. vii A pessoas que j no esto mais aqui, mas que marcaram profundamente a minha vida: meu primo Miro, meu amigo Alan e meu sogro Guido dos Santos. Aos meus irmos Jos Carlos e Ana Ktia, as minhas sobrinhas (Laisy, Ladny e Maria), meu sobrinho (Raphael), as minhas cunhadas (Isa e Ana Paula), ao meu cunhado (Lincoln), a minha sogra (Clia dos Santos) e a Gelma por terem colaborado de alguma forma para a realizao deste trabalho. A DEUS princpio e fim. 8. viii LER: uma leitura multidimensional (Multidimensional reading) Francisco GOMES DE MATOS LER: uma leitura multidimensional Ler processo Ler procura Ler projeto Ler pintura Ler processar Ler procurar Ler projetar Ler pintar Ler produzir Ler parafrasear Ler provocar Ler problematizar Ler propor Ler prever Ler provar Ler prover Ler percorrer Ler perguntar Ler perscrutar Ler perspectivar Ler formar Ler INformar Ler reformar Ler TRANSformar Ler SABER Ler PODER SABER LER? PODER DA INCLUSO! No ler? No saber LER? 9. ix Desumana verdade: PODER DA EXCLUSO! O direito de saber ler para melhor REpensar a todo humano ser devemos assegurar LER pensamento,valor,emoo LER sentimento, poder, antecipao LER prosa, poesia, cognitivAO LER a alma da CRIAO 10. x RESUMO O objetivo deste estudo foi verificar a recepo de uma proposta esttica para as aulas de Portugus como Segunda Lngua por aluno(a)s estrangeiro(a)s, em um contexto especfico, tendo como principais referncias tericas os estudos de Almeida Filho, Andr, Coelho, Cunha, Gai, Kramsch, Rosenfield e Tosta. A proposta foi desenvolvida em um curso de portugus para estrangeiros, nvel avanado I, de uma instituio localizada em Braslia, sua aplicao foi realizada em quatro aulas de interveno pela pesquisadora no decorrer do curso, onde a professora regente esteve presente acompanhando todo o processo. O presente estudo configurou-se em um estudo de caso que utilizou procedimentos de base etnogrfica para a coleta de dados efetuada por meio de observaes realizadas, anteriormente, e durante as aulas de interveno, aplicao de questionrios e entrevistas gravadas em udio. A elaborao da proposta foi feita pela pesquisadora que a partir de um tema gerador congregou elementos estticos da produo artstica brasileira como: textos literrios (conto e poema), msica popular, filme, pintura e fotografia. Tendo como base esses elementos estticos atividades foram apresentadas com o propsito de auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas habilidades lingsticas (ler, ouvir, falar e escrever) em Lngua Portuguesa e, tambm, de explorar questes estticas como contemplao, percepo, reflexo e opinio. Alm disso, as atividades propostas tiveram, tambm, como propsito promover a interao entre os participantes, abrir espao para discusses e compartilhar das produes orais e escritas realizadas pelos alunos. Outra preocupao manifestada nesta pesquisa foi a de tentar perceber se o deslocamento desses elementos estticos que, geralmente, so perifricos, nas aulas de ensino de idiomas, para a posio central na dinmica das aulas favoreceu o ambiente de ensino e aprendizagem motivando os alunos para aprendizagem da Lngua Portuguesa, se provocou um maior interesse dos mesmos pela cultura brasileira e se fomentou mudanas no prprio processo de ensino/aprendizagem colaborando para uma aprendizagem mais autnoma dos alunos. As informaes construdas durante a pesquisa sinalizaram uma boa receptividade dos alunos a introduo desses elementos estticos. No entanto, sinalizaram, tambm, a necessidade de um tempo maior para o trabalho de interveno para a obteno de resultados mais abrangentes. PALAVRAS-CHAVE: Cultura, esttica, ensino-aprendizagem, Portugus, segunda lngua. 11. xi ABSTRACT The purpose of this study was to verify the receptiveness to an aesthetic proposal for Portuguese as second language classes, for foreign student(s) in a specific context. The major theoretical references in the literature were found in the studies of Almeida Filho, Andr, Coelho, Cunha, Gai, Kramsch, Rosenfield and Tosta. The proposal was piloted in a Portuguese as a foreign language course, advanced level I, held at an institution located in Braslia. The proposal was implemented in four classes taught by the researcher during the language course, semester the with regular teacher present and following the whole process. This study was based on case study methodology, which employed ethnographic tools for data collecting, for instance, observation, questionnaires, and audio recorded interviews. The researcher elaborated on the proposal starting out with a generative theme and congregating aesthetic elements of Brazilian artistic production, such as, literary texts (poem and short story), pop music, a movie, a painting and photography. These aesthetic elements were the basis for underlying all the activities presented by the researcher. The core purpose of presenting these activities was to help students develop their linguistic skills (reading, listening, speaking and writing) in Portuguese, and also, to explore forming aesthetic issues, for instance, contemplation, perception, reflection and opinion. Additionally, the proposed activities aimed at promoting interaction and open discussion among the participants and creating an opportunity for the students to share their own oral and written productions. This research study also attempted to perceive whether the reallocation of aesthetic elements, usually recognized as having a peripheral role in language teaching classes, to the core position in class dynamics, would favor the teaching and learning environment, thus, increasing students motivation towards learning Portuguese, enhancing their interest in Brazilian culture, and fomenting any changes in the teaching and learning processes themselves. The data collected and analyzed throughout the research study demonstrated that students responded, in general, positively towards the introduction of these aesthetic elements. More comprehensive results might be obtained if the intervention occurred for a longer period of time. KEY WORDS: Culture, aesthetics, teaching and learning, Portuguese, second language. 12. xii SUMRIO AGRADECIMENTOS -------------------------------------------------------------------------------- v RESUMO ------------------------------------------------------------------------------------------------ ix ABSTRACT --------------------------------------------------------------------------------------------- x SUMRIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- xi LISTA DE TABELAS ------------------------------------------------------------------------------- xv LISTA DE GRFICOS ----------------------------------------------------------------------------- xv LISTA DE FIGURAS ------------------------------------------------------------------------------- xvi LISTA DE ABREVIATURAS --------------------------------------------------------------------- xvi CAPTULO I A PESQUISA 1.1 Introduo --------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.2 Contextualizao do tema da pesquisa ---------------------------------------------------- 18 1.2.1 Educao, esttica e ensino de lnguas ------------------------------------------------------- 19 1.2.2 O Portugus no cenrio mundial-------------------------------------------------------------- 21 1.3 Justificativas do tema de pesquisa ---------------------------------------------------------- 22 1.4 Objetivos da pesquisa ------------------------------------------------------------------------- 23 1.5 Pergunta de pesquisa ------------------------------------------------------------------------- 24 1.6 Metodologia de pesquisa --------------------------------------------------------------------- 24 1.6.1 Perfil dos participantes da pesquisa ---------------------------------------------------------- 26 1.6.2 Contexto da pesquisa --------------------------------------------------------------------------- 28 1.6.3 Instrumento de coleta de dados --------------------------------------------------------------- 28 1.6.3.1 Entrevista semi-estruturada ------------------------------------------------------------------ 28 1.6.3.2 Gravao de udio das aulas ----------------------------------------------------------------- 29 1.6.3.3 Questionrios (aberto e fechado) ----------------------------------------------------------- 29 13. xiii 1.6.3.4 Relatrios de observao --------------------------------------------------------------------- 29 1.6.4 Organizao e desenvolvimento da pesquisa ----------------------------------------------- 30 1.6.4.1 Procedimentos realizados antes e durante as aulas de interveno --------------------- 31 1.6.4.2 Informaes complementares ao contexto de pesquisa ---------------------------------- 32 1.7 Organizao da dissertao ----------------------------------------------------------------- 33 CAPTULO II REFERENCIAL TERICO 2.1 Cultura-------------------------------------------------------------------------------------------- 35 2.1.1 Conceito de Cultura ----------------------------------------------------------------------------- 36 2.1.2 Cultura e ensino de lnguas -------------------------------------------------------------------- 37 2.2 Esttica ------------------------------------------------------------------------------------------- 40 2.2.1 A perspectiva Esttica -------------------------------------------------------------------------- 42 2.2.2 Linguagem Esttica ----------------------------------------------------------------------------- 43 2.2.3 Competncia Esttica --------------------------------------------------------------------------- 43 2.3 Literatura e outras artes --------------------------------------------------------------------- 44 2.3.1 Literatura e o ensino e aprendizagem de lnguas -------------------------------------------- 49 2.4 A abordagem de ensino de lnguas --------------------------------------------------------- 54 2.4.1 A aula --------------------------------------------------------------------------------------------- 54 2.5 O ensino de Portugus como Segunda Lngua ------------------------------------------- 56 CAPTULO III ANLISE E DISCUSSO DOS DADOS 3.1 Introduo ------------------------------------------------------------------------------------- 59 3.2 Relato e anlise das observaes e das anotaes das aulas -------------------------- 59 3.2.1 Anotaes e observaes das duas aulas de interveno ---------------------------------- 60 14. xiv 3.3 Descries, observaes e anlises das aulas de interveno -------------------------- 62 3.4 Anlises dos questionrios (aberto e fechado) -------------------------------------------- 77 3.5 Anlises das entrevistas (alunos e professora regente) --------------------------------- 89 3.5.1 Entrevista com os alunos ---------------------------------------------------------------------- 90 3.5.2 Entrevista com a professora regente -------------------------------------------------------- 100 3.6 Triangulao dos dados ---------------------------------------------------------------------- 105 3.6.1 Alunos ------------------------------------------------------------------------------------------- 105 3.6.2 Professora Regente ---------------------------------------------------------------------------- 106 3.6.3 Professora Pesquisadora --------------------------------------------------------------------- 107 3.7 Consideraes Finais ------------------------------------------------------------------------ 108 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ---------------------------------------------------------- 114 REFERNCIAS DAS OBRAS UTILIZADAS NAS AULAS DE INTERVENO E REFERNCIA DOS TEXTOS BIOGRFICOS DOS AUTORES ----------------------- 120 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA -------------------------------------------------------------- 122 ANEXOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 124 LISTA DE ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------- 125 CONVENES ------------------------------------------------------------------------------------- 126 15. xv LISTA DE TABELAS Tabela 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 LISTA DE GRFICOS Grfico 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 Grfico 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 Grfico 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 Grfico 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 Grfico 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 Grfico 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 Grfico 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 Grfico 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 Grfico 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 Grfico 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 82 Grfico 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 83 Grfico 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 Grfico 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 84 Grfico 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 85 Grfico 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 85 Grfico 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 86 Grfico 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 86 Grfico 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 86 Grfico 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 Grfico 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 87 16. xvi Grfico 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 88 Grfico 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 89 Grfico 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 89 LISTA DE FIGURAS Figura 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 105 LISTA DE ABREVIATURAS LA: Lingstica Aplicada LM: Lngua Materna L1: Primeira Lngua L2: Segunda Lngua LE: Lngua Estrangeira PLE: Portugus Lngua Estrangeira 17. 17 CAPTULO I: A PESQUISA 1.1 Introduo Pensar em novas formas para o ensino e aprendizagem de lnguas, especialmente no ensino de Portugus como lngua estrangeira ou segunda lngua1 , muito motivador e instigante. Trazer novos elementos para sala de aula, buscar trabalhar de outra forma velhos elementos, promover a interdisciplinaridade, reunir materiais que dialogam entre si e promover a interao entre aluno/aluno e aluno/professor na busca da construo de um conhecimento so propsitos almejados na educao em geral e, especialmente, no ensino e aprendizagem de lnguas. O tema dessa pesquisa a esttica no ensino e na aprendizagem de Portugus como segunda lngua: uma proposta de ensino com aplicao de textos literrios e interao com mdia e outras artes. Alm do desafio de tentar inovar, a preocupao com o aluno constante, suscitando perguntas do tipo: como ele ir receber tais inovaes? Ser que ele est preparado? Ser que o que ele busca? Ser que realmente h inovaes? Ser que se dar um efetivo aprendizado? So muitos os questionamentos que surgem e neste estudo apresento uma proposta para verificar a recepo de aluno(a)s estrangeiro(a)s em um curso que contempla elementos estticos para as aulas de Portugus como segunda lngua, na qual o ensino alia-se esttica e tem como ponto de partida um tema gerador que une a produo artstica brasileira: textos literrios, msica popular, filme, pintura e fotografia. A proposta foi desenvolvida em um curso, em Braslia, voltado para aluno(a)s estrangeiro(a)s, jovens e adultos, j iniciados no processo de aquisio da Lngua Portuguesa. Com a sua realizao, pretendeu-se verificar a partir de interaes dialgicas, tambm, a aceitao dos aprendizes em relao ao tema proposto que tem por base os elementos esttico-culturais brasileiros. Como professora, a pesquisadora aplicou e desenvolveu a proposta no intuito de observar e Cunha (2007a, p.28) no QUADRO 5: Ensino de Portugus realiza a seguinte distino: ENSINO DE PORTUGUS- TIPO:Ensino de Portugus como lngua materna SITUAO: Portugus como lngua falada na comunidade e na sociedade envolvente. CONTEXTO: Lngua-alvo usada em contexto de imerso total. TIPO: Ensino de Portugus como segunda lngua - SITUAO: Portugus como lngua oficial do Estado e, geralmente, a lngua dominante na sociedade envolvente CONTEXTO: Lngua-alvo falada nos crculos pblicos e no mbito da sociedade. TIPO: Ensino de Portugus como outra lngua SITUAO: Portugus como lngua que no a segunda, sem a presso do estado - CONTEXTO: Lngua-alvo no usada nos crculo domstico e/ou pblico em geral e SITUAO: Portugus como lngua estrangeira ensinado no exterior - CONTEXTO: Lngua-alvo aprendida em outro pas, fora de contexto natural de imerso. 18. 18 analisar se os elementos estticos favoreceram o ambiente de ensino e aprendizagem motivando os alunos para aprendizagem da Lngua Portuguesa e provocando um maior interesse dos mesmos pela cultura brasileira. Alm disso, procurou-se observar a reao do(a)s alunos(a)s no prprio processo de ensino/aprendizagem em decorrncia do deslocamento desses elementos estticos, que geralmente so perifricos nas aulas de ensino de idiomas, para posio central na dinmica das aulas. Pretendeu-se, ainda, instigar uma aprendizagem mais autnoma por parte dos alunos com sugestes de leituras e consultas a internet com base nas atividades desenvolvidas em sala. As atividades constantes na proposta visaram trabalhar, alm dos aspectos esttico-culturais, aspectos lingsticos da Lngua Portuguesa presentes na literatura, na msica e nos filmes, estimulando os alunos a desenvolver suas habilidades lingsticas por meio de atividades de produo oral, de produo escrita, de compreenso oral e de leitura e ao desenvolver essas atividades que o(a)s aluno(a)s pudessem, tambm, ter ao seu alcance sugestes de materiais que facilitassem a aprendizagem autnoma da Lngua Portuguesa. 1.2 Contextualizao do tema da pesquisa Vivenciamos na atualidade processos de transformaes globais constantes que nos intimam reflexo. Todas as mudanas que vm ocorrendo no mundo, devido aos avanos tecnolgicos tm impacto em todas as reas, mas, principalmente, na rea de educao onde os envolvidos so chamados a refletir e a tentar compreender como tais mudanas iro incidir sobre os modos de aprender e de ensinar, na maneira de nos relacionarmos e como responder as questes que surgem nesse novo contexto altamente mutvel. Atualmente, diante dessa nova situao, aes mais dinmicas e adaptveis surgem dentro do cenrio educacional na tentativa de promover uma aprendizagem mais efetiva e uma melhor formao do indivduo. A aprendizagem fundamental para ascenso pessoal, uma capacidade presente em todo ser humano e que possibilita ampliar a compreenso do outro e de si; possibilitando, tambm, um enriquecimento cultural. Diante desse cenrio, nossa inteno foi a de verificar a recepo de aprendizes de Portugus como Segunda Lngua a uma proposta que contempla elementos estticos da produo artstica brasileira. 19. 19 1.2.1 Educao, esttica e ensino de lnguas O compromisso formador que acompanha todo educador encontra na esttica um forte aliado, pois a mesma possibilita uma reflexo sobre tudo o que nos rodeia: A esttica uma forma de pensamento reflexivo. a mente humana refletindo sobre sua prpria atividade. A esttica concebida como filosofia da arte , evidentemente, solidria com o mtodo geral da filosofia, isto , com a observao intuitiva, a pesquisa essencial, o exame da realidade em todos os seus modos de existncia, a disposio de cada parte dessa realidade numa estrutura de conjunto, e, sobretudo, no caso presente, o mtodo reflexivo. A reflexo a concentrao do esprito procurando conhecer- se na sua atividade espontnea e nos seus produtos. (SOURIAU, 1973, p.10, grifo nosso) Portanto a reflexo est na base da esttica e se almejamos pessoas mais reflexivas e mais conscientes de suas aes, na educao a esttica um elemento que ir colaborar, no de forma imediata, mas dentro de um processo, onde haja uma preocupao com a formao de um indivduo crtico e reflexivo, contribuindo tambm com a construo de cidadania. Em artigo, Pinto e Miranda (2006, p.3) abordam sobre essa temtica: Ora, foi com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das metodologias da didctica das lnguas, de propor formas de articulao do ensino/aprendizagem de uma lngua com a Educao para a Cidadania e de construir novos materiais didcticos que nasceu um projecto que apresenta propostas, caminhos, meios e instrumentos para ajudar a levar a cabo os objectivos ambiciosos das aulas de lngua. O projecto, intitulado Com as Lnguas e as Artes a Caminho da Cidadania, foi concebido e tem sido posto em prtica por um grupo de professores-investigadores (palavra composta que, idealmente, devia constituir um pleonasmo) de lngua e cultura. O trabalho que est a ser desenvolvido contempla o portugus (como lngua no-materna), o ingls e o alemo. Foi esta a resposta que os docentes envolvidos na iniciativa procuraram dar a uma insatisfao que sentiam relativamente a algumas das metodologias que eram seguidas nestas disciplinas bem como ao papel subalterno que nelas estavam a ter tanto a Educao para a Cidadania como a formao cultural e esttica dos alunos. Constatamos no artigo de Pinto e Miranda que j h uma preocupao em se realizar projetos que priorizem a formao cultural e esttica dos alunos para desenvolver a educao para cidadania, tambm, em aulas de idiomas, abrindo um caminho para uma integrao e articulao dessas reas no desenvolvimento de novas metodologias para o ensino e aprendizagem de lnguas. Reis (2005) defende a idia que a escola deve chamar para si a educao esttica como central e fundamental no processo de mediao cultural. Para ele a importncia do conhecimento esttico fundamental na formao humana. Todas as reas dentro do contexto 20. 20 educacional podem trabalhar a mediao cultural com exemplos que surgem a todo o momento no contexto de vida dos alunos e tambm trabalhar para que os mesmos possam comparar o momento atual com o que j passou e refletirem sobre os fatos e analis-los. Para Campos (2002, p. 19-20): Conhecer o passado e refletir sobre o contemporneo acredita-se que seja uma ao necessria para que se possa entender e compreender o contexto em que se est inserido. Analisar e entender o seu tempo possibilita antever o possvel devir que permeia as aes do presente. No passado distante, conhecer o seu espao limitava-se s vivncias de uma comunidade. O homem, desde os primrdios da histria, sempre se relacionou com o meio e construiu conhecimento atravs das percepes sensoriais e racionais. Vivncias subjetivas, observao do mundo a sua volta e experincias diretas com a matria possibilitaram apreender os fenmenos. Razo e sensibilidade acompanham o ser humano desde sempre e a escola no pode omitir-se e valorizar apenas a razo em detrimento da sensibilidade, ambas devem integrar o processo do desenvolvimento humano. Campos (op.cit., p.28), ainda, afirma que: Pound tinha razo quando disse: a soma da sabedoria humana no est contida em uma nica linguagem, admitindo a necessidade de se conquistar outras formas de conhecimento. A analogia com a pr-histria e o contexto contemporneo faz com que acreditemos que os conhecimentos construdos atravs das percepes sensveis, especialmente a viso, continuam to vlidos quanto o foram no passado, embora os contextos sejam radicalmente outros. O Olhar sensvel e racional continua representando uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e a construo dos valores subjetivos e objetivo do ser humano. A educao cabe pensar em resgatar os espaos de construo das percepes sensveis, e tambm preparar tanto o corpo docente quanto discente no desenvolvimento de tais percepes. Para Freire (1980, p.38), o homem cultiva-se e cria cultura no ato de estabelecer relaes com o outro, com o meio e ao responder aos desafios que lhe apresenta a natureza. E esse mesmo homem tambm capaz de criticar, incorporar o seu prprio ser e traduzir, por uma ao criadora, a aquisio da experincia humana. A esttica vem complementar o processo educacional que pode ser resgatado em diversas reas do conhecimento, realizando interdisciplinaridade e buscando reflexo, pois o belo se manifesta das mais variadas formas e pode estar presente numa equao matemtica, em um desenho geomtrico, na formao de elementos qumicos, na geografia de um pas. Temos de exercitar nossos sentidos, despertar a sensibilidade para o que nos rodeia e quem sabe assim desenvolveremos melhor nosso senso de responsabilidade em relao nossa cidade, ao nosso pas, ao mundo e todos os seres que neles habitam. No ensino de Lnguas, 21. 21 tambm, a esttica pode ser mais explorada e pode contribuir com a aprendizagem da lngua e, sobretudo, despertar a sensibilidade e uma melhor compreenso da cultura daquela lngua que est sendo aprendida. Foi com esse propsito que apresentamos neste estudo, uma proposta com base nos elementos estticos, procurando trabalh-los mais em sala de aula, dando-lhes nfase e trazendo-os para uma posio central na dinmica das aulas. 1.2.2 O Portugus no cenrio mundial Segundo as informaes extradas do stio eletrnico (www.linguaportuguesa.ufrn.br/pt3.php) o portugus a oitava lngua mais falada do planeta (terceira entre as lnguas ocidentais, aps o ingls e o espanhol), a lngua oficial em sete pases: Angola (10 milhes), Brasil (185 milhes), Cabo Verde (415 mil), Guin Bissau (1,4 milho), Moambique (18,8 milhes), Portugal (10,5 milhes), So Tom e Prncipe (182 mil) e Timor Leste (800 mil). Hoje entre 190 e 230 milhes de pessoas falam portugus no mundo. O Portugus, desde 1986, uma das lnguas oficiais da Unio Europia, ocasio da admisso de Portugal na instituio. Em razo dos acordos do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), do qual o Brasil faz parte, o portugus passou a ser ensinado como lngua estrangeira nos demais pases que dele participam. A Comunidade dos Pases de Lngua Portuguesa (CPLP) foi criada em 1996 e rene os pases de lngua oficial portuguesa com o objetivo de fomentar a cooperao e o intercmbio cultural entre os pases membros, assim como o de tentar tornar uniforme a lngua portuguesa e promover a sua difuso. De acordo com a viso de vrios lingistas o portugus apresenta-se, como qualquer lngua viva, internamente diferenciado em variedades que divergem de maneira mais ou menos acentuada quanto pronncia, gramtica e ao vocabulrio na vasta e descontnua rea em que falado. Contudo, a unidade do idioma no foi comprometida por essa diferenciao e a Lngua Portuguesa, apesar da acidentada histria da sua expanso na Europa e, principalmente, fora dela conseguiu manter at hoje aprecivel coeso entre as suas variedades. Diante de tal contexto, os pases lusfonos vm reunindo esforos para promover o Portugus no mundo e o estudo e a difuso do ensino da Lngua Portuguesa passou a ser 22. 22 interesse dos mesmos. Segundo Souza (2003), nas ltimas dcadas Portugal, Brasil e os demais pases pertencentes a CPLP, tm buscado implementar aes favorveis na divulgao e expanso da Lngua Portuguesa por meio de Institutos e Centros de Estudos tendo em vista a solidificao da cultura lusfona e luso-brasileira via lngua portuguesa. O fortalecimento do bloco lingstico vai ao encontro de uma poltica de expanso da lngua Portuguesa como segunda lngua/lngua estrangeira (L2/LE). O Brasil tem obtido destaque em termos polticos, econmicos e culturais, e talvez, seja esse um aspecto relevante que provavelmente influencie o interesse de falantes de outras lnguas pelo Portugus. Isso se verifica atravs de: (1) a negociao diplomtica brasileira para chegar cadeira do Conselho de Segurana da ONU; (2) a liderana do Brasil no cenrio econmico-comercial da Amrica Latina; (3) a presena constante de produtos culturais brasileiros nas vitrines internacionais como o cinema brasileiro no festival de Cannes e nas indicaes ao Oscar, em Hollywood, e sua msica que bem divulgada no mundo inteiro. Esse cenrio se mostra bastante favorvel para que pesquisadores e professores de Portugus como segunda lngua ou lngua estrangeira voltem sua ateno para estudar formas de como ensinar e tornar mais positiva a aprendizagem da Lngua Portuguesa, assim como promover e despertar o interesse por sua aprendizagem. Em consonncia com a Lingstica Aplicada, dentro de sua subrea de ensino e aprendizagem de lnguas, tanto os pesquisadores, quanto os professores de Portugus como segunda lngua e como lngua estrangeira, sem descartar tambm, os professores de Portugus como lngua materna, devem ficar atentos s inovaes surgidas na rea e principalmente conhecer os seus princpios para melhor compreender o ensino e a aprendizagem de lnguas e de todas as questes que as cercam. 1.3 Justificativa do tema de pesquisa Compartilhando com as idias expostas abaixo de A. Coelho (2002, p.01) elaborei a proposta que contempla os elementos estticos com o objetivo de mostrar aos alunos uma parte dos produtos constitutivos de nossa cultura, pois: A lngua veculo e manifestao da cultura de um povo e, portanto, sua aquisio requer tambm o conhecimento dos traos culturais prprios da sociedade que a utiliza. Cada lngua, como sistema autnomo de expresso e comunicao de uma comunidade, geogrfica e historicamente definida, reflete suas estruturas scio-culturais. Portanto, se a lngua est ligada profundamente a cada nvel da existncia individual e coletiva, um projeto de formao lingstica no pode deixar de levar em conta as situaes nas 23. 23 quais esta realidade se manifesta, ou seja, o conjunto de elementos tpicos de um determinado grupo social. A falta de uma abordagem cultural nos livros de Portugus como lngua estrangeira j foi constatada por meio de pesquisas. No resumo de sua pesquisa R. Moura (2005) aps realizar a anlise de trs livros didticos de Portugus para estrangeiros nos informa que: Conclumos que todo o material analisado, apesar de dar algum espao a aspectos da cultura brasileira, poderia explorar mais este item, de modo a permitir ao aprendiz uma aproximao maior com o pas, sendo a lngua um veculo capaz de garantir tal proximidade. Alm disso, a abordagem cultural no algo fechado, pronto no livro didtico, e deve ser fortemente explorada de outras formas no processo de ensino-aprendizagem de segunda lngua. Verifica-se a uma lacuna, pois, geralmente, os livros didticos no trazem ou trazem poucos materiais, em que, de fato, os aspectos culturais possam ser trabalhados. A questo esttica, ento, no se aborda. Verifica-se isso no nosso sistema de ensino que valoriza mais os aspectos estruturais do que os aspectos culturais e estticos. No entanto, no ensino e aprendizagem de lnguas estrangeiras os aspectos culturais j obtm destaque nas reas de estudo e pesquisa, porm so poucos os que abordam a questo esttica desses elementos e de como trabalh-los em sala de aula no ensino e aprendizagem de lnguas estrangeiras. A escolha dessa temtica ocorreu-me ainda no curso de Ps-Graduao em Literatura (lato sensu), especializao em Literatura Brasileira, no qual desenvolvi uma proposta para o ensino e recepo da Literatura Brasileira e sua interao com mdia e outras artes. Por essa razo fiquei motivada a investigar a eficincia de uma proposta caracterizada por elementos estticos presentes na produo artstica brasileira no ensino e aprendizagem do Portugus como segunda lngua. O intento da proposta foi desenvolver as habilidades lingsticas dos alunos juntamente com a sensibilidade esttica e, assim, ampliar seus conhecimentos, de uma forma geral, sobre a cultura brasileira. 1.4 Objetivos da pesquisa 1.4.1 Geral: Contribuir com o ensino e a aprendizagem da lngua portuguesa como segunda lngua por meio da aplicao de uma proposta que contemple elementos estticos presentes na cultura brasileira. 24. 24 1.4.2 Especficos: 1.4.2.1 Verificar a recepo a de uma proposta, que contempla elementos estticos para as aulas de Portugus como Segunda Lngua, por aluno(a)s estrangeiro(a)s em um curso em Braslia. 1.4.2.2 Promover aprendizagem com interao participativa nas reflexes e discusses suscitadas pelos textos literrios e outras manifestaes artsticas brasileiras. 1.4.2.3 Favorecer a produo escrita e discursiva do(a) s aluno(a)s na lngua alvo. 1.5 Pergunta de Pesquisa Como a recepo de aprendizes de Portugus como segunda lngua de uma proposta de ensino que contempla elementos estticos (literatura, msica, pintura, filme, fotografia) da produo artstica brasileira? Em relao a: a aceitao do tema proposto pela professora/pesquisadora; as atividades desenvolvidas em sala de aula; as atividades desenvolvidas fora de sala de aula. 1.6 Metodologia de pesquisa O estudo proposto foi realizado pela conjugao de mtodos tericos e prticos de investigao. Tendo como ponto de partida a sala de aula, por ser lcus privilegiado, onde podemos observar e sermos observado e, tambm, refletirmos sobre a nossa prtica e verificar a receptividade dos alunos. Aproximar-se da sala de aula para realizar pesquisa, segundo Andr (2005a, p.41) como colocar uma lente de aumento na dinmica das relaes e interaes que constituem o seu dia-a-dia. Ela destaca tambm aes prprias da pesquisa em contexto escolar, tais como: tentar observar e entender as foras que a impulsionam ou que a retm, identificar as estruturas de poder e seu modo de organizao, bem como compreender o papel e a atuao de cada sujeito nesse complexo interacional onde aes, relaes, contedos so construdos, negados, reconstrudos ou modificados. 25. 25 Para Andr (2005) o professor- pesquisador dever estar atento ao ambiente em que se processa o ensino (foras institucionais, estrutura administrativa, rede de relaes intra e extra-escolar) para que assim possa refletir sobre a sua prtica. De acordo com Alvarenga (2005, p.111): Na teoria de Lingstica Aplicada (LA), uma forte vertente tem se posicionado no cenrio de formao de professores de lnguas atribuindo importncia conscientizao do professor acerca de sua prtica, conscientizao essa possvel de ocorrer a partir do processo de reflexo realizado pelo prprio professor. Essa prtica deve ser entendida de imediato como objeto natural de reflexo constante. A reflexividade, na atualidade, como coloca Libneo (2005) j se configura como um dos elementos de formao profissional dos professores e Ldke et alii (2001) sintetiza que reflexo-na-ao e a reflexo sobre a ao so dois nveis essenciais para a prtica reflexiva do professor. Para esta pesquisa adotamos o estudo de caso por a mesma se aproximar de suas principais caractersticas, reunidas por Andr e Ldke (1986, p.18-20) que destacam que: Os estudos de caso visam descoberta, enfatizam a interpretao em contexto, buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, usam uma variedade de fontes de informao, revelam experincia vicria e permitem generalizaes naturalsticas, procuram representar os diferentes e s vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situao social. Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais acessvel do que outros relatrios de pesquisa. O presente estudo, ainda se insere na denominao de estudo de caso do tipo etnogrfico, ou seja, um estudo de um fenmeno educacional, com nfase na singularidade e levando em conta os princpios e mtodos da etnografia. A metodologia do estudo de caso foi adotada, tambm, considerando a pergunta de pesquisa, o pouco controle do pesquisador sobre o que aconteceu no desenrolar da pesquisa e ainda a contemporaneidade do fenmeno estudado numa situao real. De acordo com Andr (2005a, p.51): Para Yin (1988) deve ser dada preferncia metodologia de estudo de caso quando (1) as perguntas de pesquisa forem do tipo como e por que; (2) quando o pesquisador tiver pouco controle sobre aquilo que acontece ou que pode acontecer; e (3) quando o foco de interesse for um fenmeno contemporneo que esteja ocorrendo numa situao de vida real. Quanto 26. 26 metodologia de estudo de caso, so usadas mltiplas fontes e meios de investigao. Na concepo de Stake (1995, p.xi) apud Andr (2005b, p.18) o estudo de caso o estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, levando a entender sua atividade dentro de importantes circunstncias. Stake (id.) define-se por uma concepo de estudo de caso qualitativo, fundamentada nos mtodos de pesquisa naturalstico, holstico, etnogrfico, fenomenolgico e biogrfico. Segundo Stake (1994, p.236 apud Andr 2005, p.16) o que caracteriza o estudo de caso no um mtodo especfico, mas um tipo de conhecimento. Para ele uma questo fundamental o conhecimento derivado do caso, ou melhor, o que se aprende ao estudar o caso. A pesquisa valeu-se de mltiplos casos (seis alunos). Gil (2002) considera cada participante da pesquisa como um caso a ser analisado. Pode-se classificar esta pesquisa como descritiva qualitativa e que se complementa de registros quantitativos. 1.6.1 Perfil dos participantes da pesquisa Os participantes so: aluno(a)s estrangeiro(a)s residentes em Braslia, de diversas nacionalidades, jovens e adulto(a)s, a professora regente do curso de Portugus para estrangeiros, nvel avanado I e a professora pesquisadora que aplicou a proposta para realizao da pesquisa. Denominaremos A - para os alunos, PR para a professora regente do curso e PP - para a professora pesquisadora. Segue na prxima pgina tabela para visualizao do perfil dos participantes e as informaes relacionadas a cada um deles, que foram consideradas pertinentes para a nossa pesquisa. 27. 27 Aluno(a)s Sexo - Idade Nacionalidade Lngua Materna Outras lnguas Tempo no Brasil e o motivo pelo qual est aqui Incio da Aprendizagem do Portugus A1 F - 25 Espanhola Espanhol e Catalo Alemo, Ingls 8 meses- a trabalho 8 meses A2 F 38 Paraguaia Espanhol - 9 meses- a trabalho 9 meses A3 F- 22 Sua Alemo suo Francs, Ingls, Espanhol 3 meses- morar com o namorado e cursar Relaes Internacionais 6 meses A4 M 26 Espanhol Catalo Espanhol, Ingls, Francs 8 meses- a trabalho 8 meses A5 F 59 Francesa Francs Ingls 7 anos a trabalho e por deciso prpria 7 anos A6* - F Uruguaia Professoras Idade Naturalidade Graduao local - ano Tempo como Professora de Portugus como L1* e como L2* PR - 24 Vitria (ES) Letras: Portugus do Brasil como Segunda Lngua - Universidade de Braslia 2004 6 anos (L1) 4 anos (L2) PP - 35 Braslia (DF) Letras: Licenciatura e Bacharelado em Lngua Portuguesa e respectivas literaturas - Universidade de Braslia 1995 e 1997 11 anos (L1) 3 anos (L2) TABELA 1 *A6 aluna com perfil incompleto * L1 Portugus como lngua materna * L2 Portugus como segunda lngua 28. 28 1.6.2 Contexto da pesquisa Curso de Portugus para estrangeiros, em Braslia. A proposta foi apresentada e desenvolvida em um Curso de Portugus para Estrangeiros - Avanado I com carga horria correspondente a 48 horas/aula por bimestre, o bimestre em questo foi o 2 bimestre de 2007 (maio - julho), com aulas trs vezes por semana (segunda-feira, tera-feira e quinta-feira) no horrio de 17h15min. s 18h 55min., tendo portanto cada aula a durao de 1h e 40 min. O curso pago pelos alunos que so selecionados para as turmas conforme o desempenho em uma prova de nivelamento. As aulas de interveno comearam aps duas semanas do incio das aulas neste bimestre, aps a apresentao, da proposta e da pesquisadora, e da concordncia dos alunos em participarem da pesquisa. Essa turma foi escolhida em razo do nvel de aprendizado da lngua, ou seja, por serem alunos que j tinham algum conhecimento sobre a Lngua Portuguesa e, tambm, devido concordncia e boa recepo da proposta pela professora regente. 1.6.3 Instrumentos de coleta de dados A coleta de dados realizou-se por meio das observaes em sala de aula, anotaes, gravaes de udio das aulas de interveno, entrevistas semi-estruturadas realizadas com o(a)s aluno(a)s e com a professora regente, gravadas em udio, e aplicao de questionrios aberto e fechado para o(a)s aluno(a)s. 1.6.3.1 Entrevistas semi-estruturadas Segundo Cunha (2007b, p.72) a entrevista um procedimento que permite a obteno de informaes sobre os assuntos complexos, e, at, emocionalmente carregados. A escolha desse instrumento foi importantssima para esse estudo, por se tratar de uma interao face a face, possibilitando observar a reao dos entrevistados durante a entrevista e tentar captar informaes extras nesse momento to rico de interao. A modalidade de entrevista semi- estruturada foi a que melhor se encaixou para os objetivos propostos, pois partiu de um roteiro inicial, mas no impediu o surgimento de outras questes que foram abordadas, oportunamente, na medida em que apareciam na ocasio da entrevista. A entrevista foi 29. 29 realizada ao final das aulas de interveno com os alunos e com a professora regente do curso, que esteve presente em todas as aulas de interveno, observando e acompanhando todo o processo. 1.6.3.2 Gravao de udio das aulas A gravao de udio um importante instrumento para anlises posteriores. A partir dessas gravaes, torna-se possvel a realizao das transcries das falas que serviro de apoio para as anlises do pesquisador e, tambm, serviro como uma forma de acesso ao leitor do que foi dito nessas gravaes. Neste estudo as gravaes de udio foram utilizadas para registrar as aulas de interveno e as entrevistas semi-estruturadas. 1.6.3.3 Questionrios (aberto e fechado) Na viso de Cunha (2007b, p.70): O questionrio compe-se de um nmero de questes elaboradas com o objetivo de investigar, entre outros, opinies, crenas, valores e vivncias de um indivduo ou de um conjunto deles. Essas questes so elaboradas de acordo com os objetivos da pesquisa e podem ser fechadas, abertas ou relacionadas. Para este estudo foram feitos dois tipos de questionrio aplicados por meio de formulrio, sendo o primeiro composto por questes abertas com o objetivo de investigar opinies, crenas, valores e vivncias dos alunos pesquisados antes do incio das aulas de interveno. O segundo questionrio foi composto por questes fechadas em que os alunos deveriam marcar a alternativa que melhor representasse a sua situao ou ponto de vista dentre as cinco opes apresentadas para cada questo. Este questionrio foi aplicado aps as aulas de interveno com o objetivo de verificar a recepo e a avaliao dos alunos s aulas de interveno. 1.6.3.4 Relatrios de observao 30. 30 Para Cunha (2007b, p.64) observar ato primeiro do fazer cincia. A escolha desse instrumento se deu por ele ser primordial na pesquisa qualitativa. Nessa perspectiva deve-se ficar atento a tudo que se passa no ambiente observado. Ainda, segundo Cunha (op.cit.) prestar ateno nos atores do cenrio de pesquisa e seguir cuidadosamente suas aes. No s olhar e escutar, mas, examinar criticamente os eventos relevantes e os fatos reincidentes. Neste estudo o processo de observao se deu de forma direta e participante. Para Andr (2005a, p.26) a observao chamada de participante porque se admite que o pesquisador tem sempre um grau de interao com a situao estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. A pesquisadora se incluiu no processo da dinmica das aulas, observou as situaes de ensino-aprendizagem, antes das aulas de interveno e depois durante as aulas de interveno, focou sua observao, principalmente, na receptividade dos alunos s atividades propostas, na aceitao do tema e na realizao das atividades a partir da aplicao do material didtico. 1.6.4 Organizao e desenvolvimento da pesquisa A pesquisa foi realizada nas salas de aula de um curso de portugus para estrangeiros, nvel avanado I, e desenvolveu-se em quatro etapas: 1 etapa: observao de duas aulas. 2 etapa: aplicao da proposta em aulas de interveno (4 aulas), e realizao de observaes, apontamentos e gravao em udio das aulas, para posterior descrio e anlise, sobre a reao dos alunos e a recepo dos mesmos ao material utilizado nas aulas em relao : aceitao ao tema proposto; exposio e articulao do tema nas atividades propostas; realizao de discusses dos temas abordados em aula (suscitados pelas manifestaes artsticas apresentadas); realizao de atividades em pares; realizao de atividades em casa; sugestes de leituras e consultas a stios na internet. Foram solicitadas anotaes do(a)s aluno(a)s sobre as impresses que tiveram de algumas atividades e a colaborao da professora regente para que tambm observasse a reao dos alunos nas aulas de interveno. 3 etapa: Audio, transcrio e descrio das aulas de interveno para avaliar a recepo do(a)s aluno(a)s a essa proposta. 31. 31 4 etapa: anlise e discusso dos dados com a realizao da triangulao das informaes obtidas com os participantes da pesquisa (alunos, professora regente e professora pesquisadora). 1.6.4.1 Procedimentos realizados antes e durante as aulas de interveno Primeiramente estabeleci um contato com a professora regente do curso de portugus como segunda lngua, nvel avanado I, para explicar-lhe minha pesquisa e mostrar-lhe o material que eu iria utilizar. Conversamos e acertamos que inicialmente eu observaria duas aulas antes de iniciar o desenvolvimento da proposta. Ela concordou com minhas sugestes e me deixou observar duas aulas e me cedeu mais quatro aulas (1 aula por semana) para aplicao da proposta. No primeiro dia apresentei-me e expliquei a minha proposta de pesquisa para os alunos e perguntei-lhes se concordavam em participar da pesquisa, os alunos concordaram e eu fiquei na sala para realizar a observao. No segundo dia, alm da observao solicitei a colaborao dos alunos para responderem um questionrio aps a aula. Eles concordaram e ento iniciei um contato com eles, antes de comear as aulas de interveno (quatro aulas). A proposta teve como tema gerador o Nordeste brasileiro para desenvolver as atividades das aulas de interveno. Depois de observar duas aulas iniciei as aulas de interveno trabalhando o conto: Baleia de Graciliano Ramos, leitura silenciosa do conto e atividade escrita referente ao texto. Na primeira aula tambm projetei a pintura Os retirantes, de Cndido Portinari realizao de uma atividade oral. Na segunda aula trabalhei o poema de Patativa do Assar Dois quadros e tambm a msica Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A atividade referente ao poema foi uma atividade escrita para ser feita em sala de aula. Aps a atividade do poema trabalhei a msica e os alunos fizeram uma atividade de compreenso oral. Na terceira aula projetei o filme O auto da compadecida de Guel Arraes, adaptao da obra de Ariano Suassuna (aproximadamente 104 min.). Neste dia a exibio do filme tomou todo tempo da aula Na quarta e ltima aula eu pretendia realizar uma discusso sobre o filme para realizao de atividade oral, porm no foi possvel porque os alunos no estavam todos 32. 32 presentes no dia da exibio do filme. Trouxe tambm duas pginas do livro O auto da compadecida de Ariano Suassuna e pedi para eles lerem e conversamos sobre as adaptaes de peas teatrais para o cinema. Por ltimo, projetei a fotografia Vidas Seca de Duda Sampaio e pedi para os alunos realizarem uma atividade oral e depois uma atividade escrita e, ainda, lemos um texto que falava sobre festas juninas realizando uma relao do que acontecia no momento (poca das festas juninas) ao tema trabalhado. Voltei duas semanas depois para aplicar outro questionrio e pedir a colaborao dos aluno(a)s para responderem-no, realizar entrevistas com o(a)s aluno(a)s e com a professora regente. Em todas as aulas levei textos extrados da internet (Wikipedia) com a biografia dos autores das manifestaes artsticas trabalhadas em sala, alguns textos foram lidos oralmente pelos alunos durante as aulas, mas a maioria foi para que eles tivessem uma leitura complementar extraclasse. Tambm forneci o endereo de pginas eletrnicas que eles poderiam acessar pela internet para terem mais informaes sobre os autores trabalhados em sala de aula e suas obras. 1.6.4.2 Informaes complementares ao contexto de pesquisa Devido ao fato de estar afastada das salas de ensino de Portugus como L2 e atuando como professora de L1 no foi possvel elaborar a proposta de interveno com a participao dos alunos. Fao essa ressalva por considerar a participao dos alunos no processo de ensino e aprendizagem um fator muito importante para se atingir os objetivos esperados. Desse modo, as informaes construdas aqui se referem a uma proposta formulada pela professora- pesquisadora, que adaptvel, mas que no inicio das aulas de interveno j estava pronta. Apesar disso, como o objetivo da pesquisa foi verificar a recepo dos alunos a uma proposta que introduz elementos estticos no ensino de Portugus como L2, no sentido de colaborar, de jogar uma luz sobre essa temtica que ainda carece de estudos e pesquisas, consideramos que esse objetivo no foi prejudicado pela no participao dos alunos na elaborao da proposta. A literatura foi o carro-chefe dessa proposta e atrelada a ela estavam pintura, a msica, o filme e a fotografia. 33. 33 A questo da designao do campo especfico de trabalho, desenvolvimento e pesquisa para esta rea de ensino de Portugus abordada por Almeida Filho (2007, p.33). Ele tem se referido rea como EPLE [...]. Nessa acepo se trata do ensino de portugus como outra lngua (no materna). Esse um sentido de ampla circulao e mais genrico. Ensino de Portugus para Falantes de Outras Lnguas (EPFOL) ou Ensino de Portugus como Lngua No-Materna (EPNAMAT) seriam referncias mais rigorosas para indicar essa rea. Nesses casos, todos os tipos de ensino de portugus que no sejam em contextos de lngua materna estariam cobertos pelas duas siglas. O ensino de Portugus como Segunda Lngua pode muitas vezes indicar genericamente qualquer tipo de ensino que no o de L1, mas com maior freqncia e preciso tem sido reservado para o ensino de Portugus a estrangeiros em pases que j falam a lngua portuguesa como lngua materna ou L1. o caso, por exemplo, de aprendizes que esto temporariamente num pas de lngua portuguesa como o Brasil e Portugal e que se candidatam a aprender o portugus nas variantes a vigentes. Devido a essa ltima explanao, e de acordo com a nota, nesta pesquisa, optamos pela terminologia Portugus como Segunda Lngua. Informo, tambm, que durante a pesquisa uma aluna desistiu do curso e outra aluna no estava nos dias em que fiz as entrevistas. O primeiro questionrio foi respondido por seis alunos, nas aulas de interveno variou o nmero de alunos presentes, e o segundo questionrio foi respondido por cinco alunos. Foi realizada a descrio do perfil completo de cinco alunos, e as entrevistas foram realizadas com quatro alunos e a professora regente. Por fim, esclareo que, por ter sido participante da pesquisa, na redao da dissertao o uso do pronome varia ora em 1 pessoa do singular, ora em 1 pessoa do plural. 1.7 Organizao da dissertao Nesse primeiro captulo desta dissertao apresentamos a constituio da pesquisa, sua contextualizao, o porqu da escolha e do interesse pelo tema, sua justificativa, seus objetivos, a pergunta de pesquisa, a metodologia para coleta dos dados, o perfil dos participantes, os instrumentos que foram utilizados, sua organizao e os procedimentos realizados. No segundo captulo, apresentaremos o referencial terico, abordando os principais contedos relacionados temtica da pesquisa e a tica dos autores dos assuntos suscitados. 34. 34 No terceiro captulo, traremos as discusses e anlises dos dados em sua maioria de forma qualitativa, porm alguns dados tambm tero uma anlise quantitativa. Ao final desse captulo so feitas as consideraes finais acerca desta dissertao. 35. 35 CAPTULO II REFERENCIAL TERICO 2.1 Cultura Pensar em cultura pensar em diversidade. At mesmo seu conceito passa por vrias definies dependendo do enfoque e do prisma pelo qual est sendo olhada. Sabemos que atualmente vrias reas tm interesse em aprofundar as questes culturais em seus estudos para melhor compreender as aes humanas em diversos contextos. E para isso seu estudo torna-se indispensvel, nas cincias sociais. Devido amplitude de seu conceito, neste estudo, abordarei a cultura voltada para o contexto de ensino e aprendizagem de lnguas, focalizando, principalmente seus aspectos voltados para as reas de Educao e Linguagem e restringindo- a ao meu interesse principal que so as manifestaes culturais por via esttica. As artes assim como a linguagem esto imbricadas na cultura de um povo, ambas so formas de express-la e revel-la, assim como ambas tambm so universais e esto presentes em todas as culturas. Em razo desse carter de universalidade e de serem reveladoras da cultura a que esto ligadas, necessrio que haja uma melhor explorao nas aulas de idiomas dessa relao entre arte e linguagem. No esquecendo que ambas tambm esto imbricadas, pois a arte uma forma de linguagem e transmite mensagem. Essa relao precisa ser mais trabalhada na rea de ensino e aprendizagem de lnguas estrangeiras, pois cada vez mais a cultura abordada neste contexto, mas ainda, no bem trabalhada, visto que, muitas vezes, prevalecem os esteretipos e a forma superficial em abordagens culturais nas aulas de idiomas. Kramsch (2005 apud TAVARES 2006, p. 9) expe muito bem a relao entre cultura e ensino e aprendizagem de lnguas estrangeiras: A cultura era considerada um acrscimo dispensvel no ensino de lnguas estrangeiras. A cultura agora vista como parte integral na maneira de pensarmos e falarmos sobre educao em lnguas estrangeiras. Cultura no mais a alta cultura cannica de uma elite educada. Nem a comida extica, feiras e folclore de um Outro. Tambm no o modo de vida de um autntico falante nativo. Atualmente, cultura uma complexa realidade histrica e simblica que pede uma viso ps-estruturalista da relao histrica, identitria e ideolgica entre linguagem/cultura. Ensinar lngua e cultura um reflexo da lngua como fora simblica. 36. 36 2.1.1 Conceito de Cultura Dentre os vrios conceitos para Cultura, sobressai, para este estudo, o de Edgar Morin (1975, p.10): Uma cultura constitui um corpo complexo de normas, smbolos, mitos e imagens que penetram o indivduo em sua intimidade, estruturam os instintos, orientam as emoes. Edgar Morin, socilogo francs, apresenta a religao dos saberes com novas concepes sobre o conhecimento e a educao e prope o conceito de complexidade ao invs da especializao, da simplificao e da fragmentao de saberes (FERRARI, 2006, p. 55). E essa complexidade que observamos em seu conceito de cultura acima. Ler, ver, saber sobre a cultura de um povo muito menos complexo do que entender, vivenciar uma cultura. diferente para um indivduo aprender uma lngua como lngua estrangeira no seu pas, de um outro que aprende uma segunda lngua em um contexto de imerso, onde ele tem de vivenciar uma outra cultura. neste contexto que muitas vezes se d o choque cultural, o que poder influenciar negativamente o aprendizado da lngua do pas em que se est imerso. Experimentar um novo cdigo de normas e condutas, observar e tentar entender os smbolos, buscar conhecer os mitos e enxergar as imagens que vo penetrando esse indivduo e reestruturando seus instintos e reorientando suas emoes algo muito complexo. E ajudar quem vem de um outro modelo cultural para que ele seja capaz de se reestruturar dentro de um novo modelo, sem perder sua identidade e sem rejeitar, no se adequando ao novo, algo que pode ser oferecido em uma aula de idiomas, apesar da tarefa ser bastante complexa, mas no impossvel. Para Tavares (2006, p.24): Segundo Kramsch (1993) manter o status quo no deve ser o objetivo educacional ao se ensinar uma lngua estrangeira. O ideal seria que o aprendiz desenvolvesse uma viso de mundo e de cultura da lngua-alvo, tampouco guiada por princpios de sua lngua nativa. H que ter lugar para uma terceira cultura, ou para um entre-espao cultural aquele desenvolvido ao longo de reflexes sobre as culturas estudadas e discutidas. Uma cultura que similarmente, ao projeto esttico-literrio (antropofgico), de Oswald de Andrade (1890 -1954) permitisse a deglutinao da cultura estrangeira transformando-a em um novo posicionamento, em um crescimento de cidadania. Portanto, para este estudo esta a viso do conceito de cultura a ser aplicado nas aulas de Portugus como Segunda Lngua. 37. 37 2.1.2 Cultura e ensino de lnguas Quando se aprende uma lngua estrangeira aprendemos muito mais sobre a gramtica dessa lngua estrangeira do que sobre o uso da lngua no dia a dia. Mesmo com o advento da abordagem comunicativa para o ensino de lnguas, ainda hoje percebe-se que o ensino est mais focalizado nos aspectos lingsticos, em sua forma, em sua estrutura sinttica e em suas regras. No ensino e aprendizagem de lnguas as estruturas semnticas e conceituais so pouco exploradas, assim como os aspectos culturais. Pode-se at aprender sobre a cultura dessa lngua, mas muito mais como informao do que no desenvolvimento de atividades que realmente trabalhem essa inter-relao entre lngua e cultura. Como muitos pesquisadores afirmam, a lngua no pode ser ensinada separadamente de sua cultura. No entanto, essa inter- relao ainda muito problemtica no ensino de idiomas que prioriza mais a forma e que muitas vezes no consegue estabelecer uma relao proporcional dentro da sala de aula onde haja uma paridade entre o ensino dos aspectos lingsticos e o ensino dos aspectos culturais. H vrias lacunas que precisam ser preenchidas com o propsito de desenvolver um trabalho para melhorar a relao entre o individual (psicolgico, universal) e o coletivo (scio-cultural, varivel) no ensino e aprendizagem de lnguas. Para Kramsch (2001) a lngua pode ser interpretada de duas maneiras fundamentais, ambas esto intimamente ligadas cultura: atravs do que se diz ou do que se refere na codificao dos signos (semntica) e atravs do que se faz na ao dentro de um contexto (pragmtica). Ela, tambm, aborda que a codificao cultural se realiza no interior de uma comunidade, onde os signos correspondem s formas como os membros de uma comunidade, em seu discurso, os codificam de acordo com suas experincias. E enfatiza que no se pode separar o significado do signo dessas experincias. A linguagem e cultura esto fortemente ligadas e Langacker (1994 apud SILVA, 2004) acrescenta, ainda, a cognio a essa relao. Ele prope a seguinte chave interpretativa das relaes entre linguagem, cultura e cognio: a linguagem e a cultura so facetas imbricadas da cognio, pois, para ele, sem a linguagem um certo nvel de conhecimento/desenvolvimento cultural no poderia ocorrer e, inversamente, um alto nvel de desenvolvimento lingstico s se obtm atravs da interao scio-cultural. Por outro lado, certos aspectos da linguagem so no-culturais, por serem capacidades psicolgicas provavelmente inatas (como a capacidade para articular sons); e, inversamente, certos aspectos da cultura so basicamente no-lingsticos, na medida em que so apreendidos por 38. 38 meios no-lingsticos e so culturalmente especficos. Mas aspectos lingsticos no- culturais no deixam de ser culturalmente manifestados e convencionalizados e, inversamente, o conhecimento cultural originariamente no-lingstico no deixa de poder ser considerado como fazendo parte da conveno lingstica ou do significado convencional, mesmo que no chegue a ser verbalizado. Assim se compaginam e se interligam na cognio e na linguagem fatores universais, diretamente ligados ao fato de os indivduos terem a mesma estrutura biolgica e interagirem num mundo basicamente igual para todos (SILVA, 2004, p.04). No entanto, como levar, e saber trabalhar, toda essa teoria para a sala de aula no ensino de lnguas constitui um desafio que no pode ser ignorado e sim trazido tona para discusso na busca de uma soluo entre prtica e teoria no ensino e aprendizagem de lnguas. Tavares (2006, p.22) sintetiza bem a questo da cultura no contexto de ensino e aprendizagem de lnguas: Se pensarmos a cultura de forma mais filosfica, veremos que o contexto de sala de aula um exemplo de grupo social e, como tal, um excelente fenmeno para ser observado e analisado. De fato, pesquisadores na rea de ensino-aprendizagem de lnguas, em especial de lngua estrangeira (LE), atestam que s podemos definir o perfil de aprendiz a ser desenvolvido com os nossos alunos de LE ao estabelecermos a abordagem que daremos ao conceito de cultura em nossa metodologia de ensino. Assim, Brito (1999), ao fazer uma reavaliao dos mtodos e abordagens de ensino de LE, verifica, por exemplo, que o mtodo gramtica e traduo percebe a idia de cultura como acesso civilizao, o que corresponde a que muitos consideram como alta cultura da lngua alvo. Persegue-se, ento, um envolvimento com a cultura MLA (msica, literatura e artes). Isso faz com que os alunos leiam e traduzam textos sobre esses temas. J o mtodo audiolingual cultiva a insero da cultura como forma de acesso vida cotidiana das comunidades. Se analisarmos a abordagem comunicativa, veremos que, nela, a cultura tambm , algumas vezes, abordada de forma mecanicista, favorecendo a reproduo de padres de comportamento pr- estabelecidos e trivializando as questes de uso da lngua. O aspecto cultura, contudo, deve ser visto de forma mais abrangente e profunda. Com base em uma abordagem comunicativa pedaggica, alguns pesquisadores passaram a rever o termo comunicativo, dando maior enfoque para as questes scio- culturais na aprendizagem de LE (CANNALE, 1983; ALMEIDA FILHO, 1994; GREENALL, 1994). Portanto, a cultura, de uma forma ou de outra, sempre esteve vinculada ao ensino e aprendizagem de lnguas, porm, atualmente percebe-se que a forma como se trabalhou os aspectos culturais ao longo dos anos foi de forma superficial. Torn-los mais abrangentes e estud-los de uma forma mais profunda um desafio que emerge desse contexto. Como bem coloca Lameiras (2006), temos de priorizar o aluno, suas necessidades, seus interesses e do 39. 39 mundo que o cerca considerando a pluralidade de abordagens presentes no processo de ensino/aprendizagem de lnguas. importante inserir a aprendizagem de uma lngua viva em um contexto cultural onde haja um contato com mais de uma cultura, porm sem haver superioridade de uma sobre a outra, ao contrrio, esse contato deve proporcionar um enriquecimento para o aprendiz. Assim, o aprendiz ser como um arteso, participando da construo de seu saber, face a outros saberes. Lameiras (2006, p. 31) conclui que: Pensando em um ensino de lnguas associado questes relativas a cultura, evocamos uma considerao constante do documento elaborado no final do I encontro Nacional sobre Poltica de Ensino de Lnguas Estrangeiras (Florianpolis, 1996 grifo da autora) que traz a afirmao de que a aprendizagem de lnguas no visa apenas a objetivos instrumentais, mas faz parte da formao integral do aluno. Como professores de lnguas devemos ter e passar tranqilidade para os alunos ao aprenderem um novo idioma, pois como bem coloca Kramsch (2001) o sentido no alcanado por todos de uma s vez, necessrio ir conquistando o sentido um pouco de cada vez no discurso por meio de aes verbais e interaes dos falantes, ouvintes, escritores e leitores. Ela destaca tambm a importncia e a necessidade de se estabelecer um princpio de cooperao entre falantes de experincias culturais diversas, pois entre eles pode haver diferentes interpretaes para vrios assuntos, portanto se faz necessrio o estabelecimento de um princpio cooperativo entre essas pessoas para que haja a comunicao. A construo e interpretao dos signos lingsticos na prtica so motivadas, segundo Kramsch (2001), pela necessidade e pelo desejo dos usurios de uma lngua para influenciar e agir sobre as pessoas ou, simplesmente, para perceber o mundo em sua volta. Portanto, o signo lingstico no possui significado em um vcuo social. A dimenso social est por trs da relao de lngua e cultura, pois a que ela se estabelece. Fora de sua ocupao dentro do contexto social e histrico original, os signos lingsticos podem esvaziar-se completamente de seus significados e usados apenas como smbolos. Para essa autora os esteretipos culturais so signos congelados que afetam tanto aqueles que fazem uso deles quanto aqueles que so caracterizados por eles. O professor de lnguas deve se atentar para o fato dos esteretipos culturais e no se deixar influenciar por eles, assim como deve mostrar aos seus alunos os esteretipos culturais presentes na cultura da lngua alvo a qual est ensinando e tentar desfaz-los, tentando aproximar os alunos da realidade cultural que cerca aquela lngua. 40. 40 O estudo da cultura de um povo muito abrangente, portanto neste trabalho escolhemos o vis esttico para abordar a cultura brasileira por meio de suas manifestaes artsticas. No por considerar que esses elementos estticos so de alta cultura, mas por estar, atualmente, mais acessveis e presentes na nossa realidade. A escolha se deu por acreditar que a Esttica pode ampliar horizontes, visto que desenvolve a percepo e trabalha os sentidos, enriquecendo as aulas de lnguas. 2.2 Esttica A Esttica inerente ao nosso dia-a-dia, porm parar e observar o que esteticamente nos agrada ou no, refletir sobre isso no um costume para quem vive constantemente correndo contra o tempo e muitas vezes no percebe e por isso no contempla o que est a sua volta. Segundo Rosenfield (2006, p.7) A palavra esttica vem do grego asthesis, que significa sensao, sentimento. Diferente da potica, que j parte de gneros artsticos constitudos, a esttica analisa o complexo das sensaes e dos sentimentos, investiga sua integrao nas atividades fsicas e mentais do homem, debruando-se sobre as produes (artsticas ou no) da sensibilidade, com o fim de determinar suas relaes com o conhecimento, a razo e a tica. Desenvolver a sensibilidade e saber utiliz-la para ganhar conhecimento, discernir a razo e ter conscincia da tica so contribuies importantssimas da Esttica. De acordo com Melo (2004, p.10), a disciplina esttica comea com Alexander Gottlieb Baumgartem (1714-1762) , em 1750, quando o mesmo publica a obra Esttica ou Teoria das Artes Liberais, apresentando uma nova disciplina filosfica que tinha por objetivo estudar o belo e as suas manifestaes na Arte. Gadamer (1985 apud GAI 2005) coloca que Baumgarten foi quem primeiro reconheceu na experincia do belo e da arte um questionamento prprio da filosofia. A tentativa de Baumgarten era conceder arte, mais especificamente, ao belo, uma condio que suplantasse a mera subjetividade. A questo era: Que verdade, que se torne comunicvel, atinge-nos no belo? (GADAMER, 1985, pp. 31- 32). Mas, para Gai (op.cit.) Kant foi quem avanou nas reflexes sobre essa questo, entendendo que a aspirao da arte ter validade, mas no ser includa entre conceitos com objetivos finalistas. A viso Kantiniana da arte ainda exerce sobre a explicao do fenmeno artstico uma influncia significativa. Esta viso corroborada por Rosenfield (2006) que 41. 41 considera que a plena autonomia da experincia esttica se manifesta na Crtica do juzo, de Kant (1790) e com algumas reservas, na Esttica, de Hegel (1820). No comeo da reflexo de Kant sobre o juzo do gosto, percebe-se que ainda se faz presente uma hierarquia que subordina a experincia sensvel cognitiva, racional e tica. Porm, depois Kant ir mostrar como a imaginao contribui para selecionar um conjunto de dados da experincia sensvel, oferecendo-os avaliao cognitiva. A arte inerente cultura de um povo, chegava-se a confundir a histria da arte com a histria da cultura, em tempos remotos. Rosenfield (op.cit.) coloca que durante milnios, a histria da arte se confundiu com a histria da cultura. A arte ocupou espaos importantes preenchendo muitas funes sociais, o belo estava integrado ao modo de vida das pessoas e estava presente nos cultos religiosos, polticos e sociais. A educao grega estava baseada no belo que girava em torno da Kalokagatha, que tem por princpio a convergncia do valor esttico com os valores ticos da comunidade, sustentando a Paidia clssica que no dissocia a tica e a poltica da esttica. Recuperar a importncia da esttica na educao promover conhecimento. No se trata de uma volta saudosista poca da Grcia Antiga, mas saber trabalhar com os conceitos estticos adaptados nossa poca voltar-se para a incluso de valores ticos a partir do desenvolvimento da sensibilidade, da contemplao. Para Gai (2005, p.81) Esttica e conhecimento so termos mutuamente implicados. tarefa da Filosofia ocupar-se do conhecimento, enquanto Esttica, como ramo da Filosofia, cabe buscar na especificidade da obra artstica a delimitao ou a identificao do conhecimento que esta produz. Convm ressaltar que a esttica s se realiza dentro de uma situao esttica que ocorre segundo Vzquez (1999), quando sujeito e objeto, dois termos dessa relao concreta, singular, constituem uma totalidade ou uma estrutura peculiar, pois para ele, antes ou fora dessa situao esttica, o objeto esttico s tem uma existncia virtual ou potencial, por exemplo: o quadro ou a escultura no contemplados, a obra musical no executada e, portanto, no ouvida, o original guardado, sem leitores, na gaveta do seu autor, tm uma existncia muda, potencial, preexistente por certo a sua existncia efetiva , mas que ainda no esttica. S adquire quando, ao entrar em relao com um sujeito (espectador, ouvinte ou leitor). Da advm a importncia de expor objetos estticos s pessoas, de se ter um momento para contemplao, reflexo, discusso sobre o que aquele objeto esttico provocou ou no 42. 42 provocou. Estamos rodeados de objetos que podem, ou no, serem vistos de um ponto de vista esttico, porm se no houver a contemplao, a audio ou a leitura no se realiza a situao esttica e esses objetos tm sua existncia efetiva, mas no esttica. Desenvolver a sensibilidade esttica possvel em qualquer poca da vida humana, despertar para arte e para sua contemplao pode ser um ato voluntrio, individual ou pode ser cultivado num espao coletivo. E o contexto educacional, em geral, um ambiente propcio para expor indivduos a objetos para realizar uma situao esttica e desenvolver a sensibilidade artstica nos fazendo enxergar o mundo sob um outro ponto de vista. 2.2.1 A perspectiva Esttica A esttica possibilita que enxerguemos o mundo sob novas perspectivas. O aprendiz, ao se deparar com uma obra artstica, poder enxergar por outros ngulos algo que estava a sua volta, mas que necessitava de tempo para reflexo e quem sabe, a partir desse encontro, ocorra uma transformao em sua forma de ver o mundo. Para N. Coelho (1993) a Arte nutre o ser humano de valores e sem a perspectiva esttica ns no poderamos habitar o Universo, pois no o entenderamos e nem mesmo nos conheceramos. Ela condiciona o nosso modo de pensar, agir e perceber o mundo. A arte, em suas diferentes manifestaes, propicia uma ligao entre a realidade comum e o mundo do indizvel e cabe ao artista revelar aos demais as vrias faces da realidade comum e os possveis valores do mundo do indizvel e, esses, por ltimo daro sentido quela realidade comum. E tantas vezes, dentro do prprio contexto escolar, as Artes em geral so deslocadas e no recebem o devido valor. vista como uma disciplina complementar, acessria, e muitas vezes menor. Os ambientes na escola no favorecem ao trabalho com as artes, faltam recursos, materiais, profissionais especializados e uma rea que carece de pesquisas e estudos mais contundentes que estabeleam a importncia da arte na promoo do desenvolvimento humano. interessante observar que a arte, embora sendo uma das mais elaboradas produes da mente humana, no fez parte do repertrio dos estudos aos quais os cientistas poderiam voltar-se e que promoveriam o conhecimento do ser humano. [...] Considerando que a arte quase sempre uma atividade desviante, no sentido de que ela impulsiona a mente para uma outra realidade, ou para a irrealidade, como querem alguns, no dever corresponder aos propsitos das cincias cognitivas que desejam alcanar 43. 43 objetivos especficos, mensurveis e com uma tendncia progressista e finalista. (GAI, 2005, p.83-84). 2.2.2 Linguagem Esttica A linguagem esttica transcende a palavra abarcando diversos signos e auxilia a comunicao humana que se amplia por meio da linguagem esttica envolvendo sentidos, principalmente, o olhar atravs da contemplao. Costa (2005, p.60) coloca seu ponto de vista sobre a linguagem esttica: Compreendemos a linguagem esttica como a materializao da expressividade e afetividade que corroboram uma maior percepo para a comunicao. Acreditamos que essa compreenso provoca a construo da significao na lngua-alvo e permite que o prprio aluno seja co-construtor e co-autor do seu conhecimento. Isso acontece porque essa linguagem nos permite distanciarmos do mundo para que possamos lanar um olhar mais de fora e nos traz de volta mais conscientes dos nossos vrios mundos. A co-construo e co-autoria dos aprendizes em seu processo de aprendizagem so fundamentais para que ocorra uma aprendizagem mais independente, mais autnoma, permitindo assim, ao aprendiz ir alm dos limites da sala de aula. 2.2.3 Competncia Esttica A competncia esttica uma das competncias que se alia s outras competncias em busca de uma comunicao mais efetiva. Para G. Moura (2005) a competncia esttica se funde a outros elementos que so inerentes linguagem humana, como por exemplo, a afetividade, e os mobiliza para uma comunicao mais efetiva, fluida e coerente. Pois, a competncia esttica refora o desenvolvimento da sensibilidade e auxilia os sujeitos a expressarem o que sentem diante do que belo/feio, apropriado/inapropriado, harmonioso/no-harmonioso na lngua alvo, capacitando-os a realizar inferncias, criar e produzir um discurso autntico. Assim, compreendemos o termo competncia esttica nesse trabalho como a capacidade de mobilizao, transposio e (re) organizao de elementos simblicos harmoniosamente para capacitar os sujeitos a (re) criarem, produzirem e/ou interpretarem suas percepes sobre como vem, sentem e pensam. (MOURA, 2005. p.96). O autor acredita, ainda, que no seja possvel separar lngua da afetividade, esttica, tica, cultura sem fragmentar, desfigurar e empobrecer seus mltiplos significados. 44. 44 Vemos que no mbito da Lingstica Aplicada j h uma conscincia de que a Esttica importante no desenvolvimento do ser humano de forma plena e lev-la para sala de aula de lnguas pode ser efetivo para que o aprendiz desenvolva sua capacidade de fazer inferncias, produzir um discurso autntico, de ter mais autonomia dentro de sua aprendizagem e tambm senso crtico. A Literatura aliada a outras artes nos possibilita um trabalho dentro da perspectiva esttica. 2.3 Literatura e outras artes A partir da Literatura pode haver o incio de um dilogo com outras artes, a literatura arte que se esgota em si mesma, mas lig-la a outras artes em um contexto pedaggico pode ser uma maneira eficiente de aproximao entre a arte literria e outras manifestaes artsticas realizando uma ponte para o enriquecimento e o conhecimento artstico de uma forma geral. Afinal como bem coloca Silva (1973, p.15-17): Arte criao. Arte uma criao que busca uma comunicao (imediata ou mediata). A comunicao de uma obra de arte pode ser maior ou menor no tempo e no espao. ESTTICA a palavra chave para todos os conceitos de arte. Silva (1973, p.13) conclui que: 1. Belo tudo o que desperta no ser humano a sensibilidade esttica. 2. A Esttica a dimenso humana de distino entre o belo e o feio. 3. O artista o ser dotado de sensibilidade esttica capaz de criar o belo. 4. A arte a criao esttica de um artista. 5. As artes so os tipos de manifestao esttica de acordo com a forma de expresso de um artista. Segundo Silva (1973, p.14) As artes mais comuns so: 45. 45 a. A msica arte que se manifesta atravs do som. b. A escultura/ arquitetura arte que se manifesta atravs da linha, da forma. c. A dana arte que se manifesta atravs do movimento. d. A pintura arte que se manifesta atravs da cor. e. O teatro- arte que se manifesta atravs da interpretao. ( uma arte bastante complexa). f. O cinema fotografia - arte que se manifesta atravs da imagem. g. A literatura arte que se manifesta atravs da palavra. (Manuel Bandeira) Unir algumas dessas artes, tendo como ponto de partida a Literatura, para desenvolver um trabalho esttico-pedaggico em aulas de lnguas foi pensado a partir do ponto que todas elas tm em comum, que a linguagem. Segundo N. Coelho (1993), dependendo da matria que a arte utiliza como expresso ela busca expressar uma vivncia ou uma experincia humana em termos de harmonia ou impacto; de cor ou de movimento; de visualidade ou de sons, pois toda expresso artstica vista como fenmeno expressivo que possui uma linguagem especfica. A partir dessas formas que podem expressar uma vivncia o aprendiz, ao entrar em contato com essas manifestaes artsticas, pode extrair delas algo de novo para sua aprendizagem, que o ajude a entender melhor a cultura da lngua que est aprendendo e que possa at mesmo depreender porque as pessoas se expressam daquela forma na lngua alvo de sua aprendizagem. Mas no podemos ignorar a complexidade de um trabalho como esse, as obras de artes podem suscitar pensamentos, sentimentos, percepes, muito prprias e individuais. A relao estabelecida entre o artista, a obra e o receptor se constri de forma muito singular, apesar de todos estarem inseridos em um contexto social. Gai (2005) coloca que as reflexes sobre arte e conhecimento so complexas devido a esse trs elementos fundamentais: artista, obra e receptor, pois os mesmos podem desdobrar-se em outros elementos admitindo vrias inter-relaes. Dessa forma, o social um elemento que perpassa todos os trs, mas tambm pode-se admitir outros desdobramentos como o histrico, o antropolgico, o religioso e etc. No entanto, a linguagem a questo central que precisa ser considerada, pois o conhecimento se revela atravs de palavras. Para Vygotsky (1989) a linguagem um sistema simblico de grupos humanos que representou um salto qualitativo 46. 46 na evoluo da espcie. ela que fornece os conceitos, as formas de organizao do real, a mediao entre o sujeito e o objeto do conhecimento. por meio dela que as funes mentais superiores so socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Nesse processo de interao da literatura com outras artes, o objetivo, tambm, trabalhar para que os alunos adquiram conhecimento por meio da linguagem literria e que tambm a percebam como arte e possam desfrutar do prazer esttico proporcionado por ela. Na esttica da recepo literria, Zilberman (1989, p.64) destaca que a hermenutica literria, cuja organizao metodolgica exigida e providenciada por H. R. Jauss, supe trs etapas: a de compreenso do texto, decorrente da percepo esttica e associada experincia primeira de leitura; a de interpretao, quando o sentido do texto reconstitudo no horizonte da experincia do leitor; e aplicao, quando as interpretaes prvias so trabalhadas e medida a histria de seus efeitos. O aluno a pea chave para a recepo de textos literrios. Nesta pesquisa, o texto literrio o foco principal que agrega em torno de si as outras artes desenvolvidas na proposta possibilitando trabalhar todos esses elementos numa perspectiva cognitiva, de acordo com Gai (2005, p.102): A idia de que a cognio uma cognio criativa permite aproximar vida e arte tanto no sentido de que a vida possui os elementos caractersticos da arte, tais como a inveno, o prazer, o conhecimento, quanto que a arte vida, isto , que a arte no do domnio do falso, que ela pode se incorporada como um estado de ser. A leitura de um texto literrio, dentro dessa perspectiva cognitiva pode provocar modificaes na mente de uma pessoa, levando-o a interpretar um texto como um modo de interpretar a vida humana. Nisso se constitui o papel do professor, como mediador e orientador de leituras possveis, revelando pistas e ajudando o aluno a ter uma melhor compreenso do que foi lido. Para Olmi (2005, p.29): A tarefa de quem trabalha com leitura/texto , portanto, a de treinar os leitores para a disponibilidade de compreender integralmente o texto, de abandonar-se a seu fascnio, sempre que o texto possua essa qualidade, mas tambm de indagar sobre seu funcionamento, para depois abandonar-se novamente, e com uma conscincia ainda maior. [...] mais vivel e mais honesto seria transmitir a idia de que uma e outra fazem parte de um itinerrio de formao global do indivduo-leitor, ou seja, de uma formao esttica e cognitiva. Como bem coloca Proena Filho (1995, p.28) a literatura uma forma de linguagem que tem a lngua como suporte. Portanto a literatura no pode ser excluda do processo de ensino e aprendizagem de uma lngua, pois ela carrega a autenticidade de uso e de expresso de uma lngua. O texto literrio possui uma configurao mimtica do real, sendo assim, serve 47. 47 de veculo para a comunicao de uma forma peculiar evidenciando um uso especial do discurso que est a servio da criao artstica reveladora. Devemos ter a clareza de saber trabalhar o texto literrio adequando-o ao nvel de aprendizagem e a realidade de cada sala de aula no ensino de lnguas. Sabemos que devido linguagem literria muitas vezes ser carregada de smbolos, no se pode apresent-la sem que antes haja uma preparao para que os aprendizes possam recepcion-la e ter entendimento da mensagem ali veiculada. Porm, a literatura fundamental no entendimento de uma cultura justamente por ela est ligada mimese. Para Proena Filho (1995) a lngua como concretizao da linguagem limita-se apenas na representao de fatos ou situaes, j a literatura se caracteriza por dimensionar elementos universais na essncia desses fatos ou situaes. A realidade imediata no se revela de forma absoluta. A partir do texto literrio se configura uma situao cuja sua existncia se d no prprio texto literrio e que tem como caracterstica uma apreenso profunda do homem e do mundo que se d por meio das tenses de carter individual ou coletivo presentes na obra literria. Vises de mundo e ideologia so reveladas por meio da literatura, porm sua linguagem ambgua possui um carter de permanente abertura e atualizao e est fortemente ligada ao carter conotativo que a singulariza. A literatura, portanto se abre a vrias interpretaes. Mas devido ao seu carter conotativo, h de se ter uma preocupao com o aprendiz de uma lngua que ao entrar em contato com um texto literrio dessa lngua saiba desvendar com auxlio, ou mesmo sozinho, os elementos conotativos presentes no texto. Ao realizar tal tarefa percebe-se o ganho e o enriquecimento em nvel de vocabulrio que o aprendiz tem. E depois as discusses das interpretaes possveis para aquele texto exigem que o aprendiz manifeste opinies, produzindo discurso autntico, o trabalho com a literatura cheio de possibilidades e cabe ao professor saber explorar essas possibilidades. Para Kramsch (2001) a metfora lingstica consiste na palavra carregada de significado semntico cultural dentro de um ambiente lingstico e com passar do tempo o conhecimento semntico armazenado pela comunidade, e ao realizar um trabalho com as metforas os alunos tambm podem process-las e armazen-las, ampliando sua capacidade comunicativa na comunidade onde se insere a lngua alvo por ele aprendida. Segundo Bakhtin (1997) a linguagem dialgica e suas idias sobre o homem e a vida so marcadas pelo princpio dialgico. Por isso acreditamos que o estudo da literatura no 48. 48 pode se limitar a transmisso de informaes sobre sua periodizao e seus autores. A literatura um importante meio de comunicao. importante observar a literatura vinculada a outras expresses artsticas de seu tempo e a interao entre elas. Nesse sentido: A cincia literria deve, acima de tudo, estreitar seu vnculo com a histria da cultura. A literatura uma parte inalienvel da cultura, sendo impossvel compreend-la fora do contexto global da cultura numa dada poca. No se pode separar a literatura do resto da cultura e, passando por cima da cultura, relacion-la diretamente com fatores scio-econmicos, como prtica corrente. Esses fatores influenciam a cultura e somente atravs desta, e junto com ela, influenciam a literatura. (BAKHTIN, 1997, p.362). O universo cultural atingido pela literatura. A literatura configura-se i