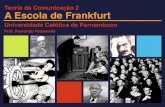CARBONO ORGÂNICO EM SOLO SOB FLORESTA E SISTEMA ...€¦ · gleissólico (P4, P5, P6), Argissolo...
Transcript of CARBONO ORGÂNICO EM SOLO SOB FLORESTA E SISTEMA ...€¦ · gleissólico (P4, P5, P6), Argissolo...

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 1
CARBONO ORGÂNICO EM SOLO SOB FLORESTA E SISTEMA
AGROFLORESTAL NO SUL DO AMAZONAS.
Joiada Moreira da Silva Linhares (a), Welison Barreiro Apurinã(b), Moíses Barros das
Neves (b), Deborah Pereira Linhares da Silva(a).
(a) Pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus
Lábrea, Email: [email protected]. [email protected]. (b) Bolsitas PIBIC-Jr. do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM
Campus Lábrea, Email: [email protected]. [email protected].
Eixo: Solo, paisagem e degradação.
Resumo
O sistema agroflorestal (SAF) é o uso da terra que integra no mesmo espaço
cultivo de espécies agrícolas e silviculturais. O SAF é estratégico na mitigação das
emissões do dióxido de carbono (CO2) proveniente da agricultura de corte e queima. O
estudo teve o objetivo de quantificar os estoques de carbono orgânico do solo (ECS) em
diferentes classes e profundidades de solo em floresta primária (FP) e SAF na colônia
agrícola do ramal do 12. Foram empregados os seguintes métodos: elaboração de mapa
exploratório, amostragem, análise físico-química e estatística de solo. Os argissolos sob
SAF’s com três e dezenove anos de adoção apresentaram elevados ECS (50.22 e 51,75 Mg.
C.ha-1 ) na camada 80-100cm do solo. Estes resultados demonstram a capacidade do
Argissolo sob SAF em estocar carbono orgânico nas camadas subsuperficiais.
Palavras chave: Lábrea, estoque, profundidade, textura, carbono.
1. Introdução
No ambiente natural o carbono (C) apresenta-se nas formas gasosa, mineral e
orgânica. O C gasoso apresenta um volume relativamente baixo na atmosfera, mesmo
assim juntamente com nitrogênio (N) e o oxigênio (O), por meio de ligações químicas
complexas é a base de toda a vida na biosfera (BRAGA, 2007).

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 2
Na forma orgânica o C estocado no solo até 1 m de profundidade é estimado
em 1.576 Pg de C. Deste total, ≈50% está confinado em diferentes frações físico-
químicas nos primeiros 30cm de solo. Entretanto, este volume pode ser maior, uma vez
que a maioria das informações publicadas não levam em consideração o quantitativo de
C armazenado entre 1 e 8 m de profundidade de solo (CARVALHO et al., 2010).
O C orgânico estocado no solo em ecossistemas tropicais, tais como: Floresta
Amazônica, Floresta do Congo, Savana africana, Cerrado brasileiro entre outros
representa aproximadamente 30% do estoque mundial. De 384 a 640 Pg de C encontra-
se entre 0-200cm de profundidade do solo. Assim, há um volume significativo de C
orgânico depositado nos solos tropicais quando comparado ao volume existente os
ecossistemas situados na zona temperada (JIMENEZ e LAL, 2006).
Com base nos dados pedológicos do projeto RADAMBRASIL, Cerri et al.
(1996) através de 1.162 perfis de solo representando 5.560 horizontes admitiram que o
Argissolo e o Latossolo são as principais classes de solos da Bacia Amazônica. Esses
apresentaram teores médios de C até 100cm entre 2,3 e 21,7 Kg de C m-². No total estão
estocados 47 Pg de C (32 % do ECS na América do sul), nos solos Amazônicos.
Na Amazônia central, Marques et al. (2013) ao quantificar ECS sob FN até 2 m
de profundidade, em diferentes topografias registraram os maiores estoques de carbono
(90 a 175,5 Mg ha-1 de C) em Latossolo argiloso no platô e no Argissolo de textura
média (vertente). Os resultados demonstraram que os solos da floresta Amazônica têm
potencial de estocar elevado volume de carbono em especial no horizonte superficial,
devido à entrada de resíduos orgânicos e substâncias húmicas oriundas da
decomposição da matéria orgânica (MO) presente na serapilheira.
A problemática que envolve a mudança de uso da terra, a liberação de gases do
efeito estufa e a capacidade do solo em estocar C não se restringe a Amazônia. Mas
podem ser observados em outros biomas brasileiros. Gama-Rodrigues et al. (2010) ao

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 3
avaliarem os ECS na zona da mata do sul da Bahia, observaram que o ECS (FN =28,30
Mg. ha-1, SAF1 = 24,10 Mg. ha-1 e 25,30 Mg. ha-1) de 30 a 100 cm profundidade de solo
sob SAF e na FN, não apresentaram diferença significativa.
Na última década do século XX o governo do Amazonas com a finalidade de
reduzir a pressão do desmatamento na microrregião do médio rio Purus, considerada a
novo fronteira agrícola brasileira, incentivou a implantação de SAF. Vários SAF’s
foram implantados no ano de 1997 em diversos assentamentos rurais. Muitos já
atingiram seu nível máximo de desenvolvimento produtivo. Porém, as informações
sobre a recuperação da qualidade de solo tendo como indicador ECS, após a derrubada
da floresta e implantação do SAF e quintal agroflorestal (SQF), ainda são pouco
compreendidas. Neste contexto, o estudo teve o objetivo de quantificar os teores e
estoques de carbono orgânico em diferentes classes e profundidade de solo em floresta
primária (FP) e sistema agroflorestal na colônia agrícola do ramal do 12.
2. Materiais e Métodos
O estudo foi realizado na colônia agrícola do ramal do 12, localizada na zona
rural do município de Lábrea /AM (longitude 64º 40’ 14.4” e 64º 10.1" W e latitude 07º
21' 16.5" e 07º 18' 06.4" S). Este município integra a microrregião do médio Rio Purus e
a Amazônia Legal. A cobertura florestal da área de estudo é constituída por floresta
pluvial tropical perenifólia da planície, floresta pluvial tropical perenifólia de terra baixa
da várzea e vegetação cultivada, originária de agricultura migratória e SAF.
O clima regional segundo classificação de Strahler é do tipo equatorial quente
úmido com três meses secos (junho a agosto) e temperaturas médias anuais entre 24º C
e 27º C. O período chuvoso ocorre entre os meses de novembro a março. O mês de abril
e outubro caracteriza-se como os meses de transição. (SILVA et al., 2008).
A geológica é composta por depósitos sedimentares da Formação Solimões do
período Quaternária da Era Cenozoica. A partir do Pleistoceno estes depósitos passaram

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 4
por um intenso processo de entalhamento gerando vários níveis deposicionais. O relevo
local pertence a três grupos morfológicos: i) Depressão do Ituxi–Jari; ii) Planície fluvial
secundária do rio Paciá e; iii) Formas de terraços fluviais (DANTAS et al., 2008).
2.1. Sistema de amostragem, atributos estudados e métodos de determinação.
Para o reconhecimento prévio do solo foi elaborado o mapa base da colônia
agrícola do ramal do 12, a partir dos dados pedológicos do projeto RADAMBRASIL.
(IBGE, 2003). No detalhamento das informações de uso da terra foi utilizada uma
imagem do satélite LANDSAT-5/TM - cena 233/65, com resolução espacial de 30
metros e composição colorida RGB. Com base nestas informações foi produzido o
mapa temático com a localização aproximada dos SAF’s com dimensão maior
10.000m². Este subsidiou a amostragem de solo em campo (MOREIRA, 2001).
A identificação dos solos ocorreram a partir de descrição morfológica de 9 perfis
pedológicos é 45 horizontes. O perfil 08 sob FP por não ter recebido calagem, adubação
química na correção de solo nem apresentado corte raso e / ou seletivo de madeira foi
escolhido como referência para os atributos físico-químicos e ECS.
Com a finalidade de padronizar os dados de ECS deste estudo, com os resultados
obtidos em outras pesquisas realizadas na Amazônia, foram coletadas próximos aos
perfis de solo (1,0 kg) amostras extras de solo (30 no total), com auxilio de um trado
holandês nas camadas de 0–20cm, 20–40cm, 40–60cm, 60–80cm e 80–100cm.
No laboratório as amostras foram peneiradas em malha de 2 mm para obtenção
da terra fina, após seca ao ar (TFSA). As concentrações de Al, Ca, Mg, K, P e o pH /
H2O foram determinadas conforme método da Embrapa (1997).
A matéria orgânica (MO) foi determinada a partir de amostras de TFSA após
combustão em forno mufla a 600º C por 6h. O teor da matéria orgânica (MO) foi

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 5
determinado por diferença de peso da massa. E a granulometria (areia, silte e argila) por
meio do método de dispersão total (EMBRAPA, 1997).
O C orgânico do solo foi determinado pelo método de oxidação da MO,
contida em 0,5g de TFSA. As amostras foram acidificadas por solução de dicromato de
potássio 0,4N. Os teores C foram obtidos com base no volume da solução de sal Mohr
de sulfato ferroso amoniacal (0.1N) gasto na titulação da amostra (Embrapa, 1997).
Os ECS foram calculados a partir dos valores de carbono, dos valores de
densidade aparente de solo e da espessura das camadas amostradas que Fernandes e
Fernandes (2008), considerando E = Ds x A x CO, em que “E” é o estoque de carbono
convertido em Mg ha-1; Ds, a densidade do solo (g. cm-3); A, a espessura da camada
amostrada (cm); e CO, o teor de carbono orgânico do solo em g.kg-1.
2.2. Análises estatísticas
O delineamento estatístico para as análises dos teores C e ECS foram
inteiramente casualizados. Estas variáveis foram analisadas em duas etapas. A primeira
constituiu da organização dos dados em um banco de dados destinados as variáveis
quantitativas discretas e contínuas. Por meio do programa Past version 3.17c foram
aplicados testes de estatística descritiva (média, mediana, variância, desvio padrão,
coeficiente de variação, correlação de Person, etc.) e o teste de média de Tukey α =
0,05, na classificação da variabilidade dos atributos do solo.
3. Resultados e Discussões
A partir das descrições morfológicas dos perfis de solo e dos resultados físico-
químicos, os solos (Tabela I) foram classificados segundo o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solo (SiBCS) em: Plintossolo Háplico Distrófico típico (P1), Argissolo
Vermelho Distrófico plintossólico (P2, P3 e P7), Neossolo Flúvico Distrófico
gleissólico (P4, P5, P6), Argissolo Vermelho–Amarelo Distrófico típico (P8) e
Argissolo Vermelho Distrófico típico (P9) (EMBRAPA, 2013).

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 6
Tabela I – Estatística dos atributos físico-químicos do solo em floresta e sistema agroflorestal.
Uso da
Terra
Parâmetros
Estatísticos
pH/
H2O
SB CTC V M Areia Silte Argila
Cmolc / dm3 %
Perfil 1 – planície fluvial de rio secundário / Plintossolo Háplico Distrófico típico.
FP
Média 4,68 0,48 7,68 6.5 85.15 42,98 17,44 39,59
DP 0,08 0,16 1,57 1.12 5.11 4,50 1,16 3,54
Máx. 4,6 0,70 10,7 7.6 70,7 49 19,3 43,4
Min. 4,8 0,30 6,3 5 45,7 37,3 16,60 34,40
Perfil 3 – terraço fluvial recente / Argissolo Vermelho Distrófico plintossólico.
SQF10
Média 4,67 0,3 7,2 5 91,7 39.44 17,91 42,64
DP 0,11 0,17 0,86 1,53 6,50 8,2 4,3 10,10
Máx. 4,50 0,2 5,8 3,8 76,4 49 23,3 55,8
Min. 4,80 0,7 8,3 7,9 95,1 25,6 13 34,4
Perfil 5 – tabuleiros de terra fr. da depressão Ituxi-Jari / Neossolo Flúvico Dist. gleissólico.
FP
Média 4,40 0,29 7,29 3,87 92,68 52 17,46 30,54
DP 0,19 0,11 1,13 2,68 6,39 17,09 8,63 8,51
Máx. 4,20 0,21 4,95 2,88 93,62 79 23,3 37,7
Min. 4,70 0,47 7,74 9,49 79,30 39 4,1 16,9
Perfil 7 – terraço fluvial recente / Argissolo Vermelho Distrófico plintossólico.
SAF3
Média 4,30 0,38 9,49 4,05 94,36 38,4 18,01 43,58
DP 0,14 0,07 0,90 0,75 1,46 3,29 1,27 3,07
Máx. 4,10 0,46 10,51 5,08 95,99 42,3 20 47,7
Min. 4,50 0,29 8,55 2,90 92,53 35,6 16,7 39,3
Perfil 8 – terraço fluvial recente / Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico típico.
FP
Média 4,28 0,32 8,49 3,23 94,90 38,7 17/58 43,71
DP 0,14 0,11 3,31 0,99 1,48 3,98 2,27 2,95
Máx. 4,5 0,52 10,3 4,82 96,45 45,6 20 47,7
Min. 4,1 0,21 1,79 2,29 92,46 34 14,7 39,7
Perfil 9 - tabuleiros de terra fr. da depr. Ituxi Jari / Argissolo Vermelho Dist. Típico.
SAF19
Média 4,26 0,26 10,40 2,55 95,63 37,31 16,71 45,71
DP 0,10 0,05 0,47 0,45 1,48 2,56 2,77 2,88
Máx. 4,10 0,32 10,85 2,95 97,09 39 20 49,3
Min. 4,40 0,21 9,61 1,94 92,56 32,3 12,9 41
Obs.: floresta primária (FP), sistema agroflorestal com 3, 10 e 19 anos de implantação (SAF3, SQF10
e SAF19), soma de base (S), capacidade de troca catiônica (CTC) saturação por base (V%) saturação
de alumínio (M%) Desvio padrão (DP). Mínimo (Mín.). Máxima (Máx.).
A textura franco argiloarenosa predominou no horizonte A1 superficial em
quase todos os perfis, exceto no P1 de Plintossolo que apresentou maior percentual de
argila nos horizontes de transição e diagnóstico (Bf) e no P5 de Neossolo que
prevaleceu a fração areia, cujo teor chegou a 70% na camada superficial (0-20cm),
diminuindo para 39% com o aumento da profundidade. Nos Argissolos os percentuais

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 7
de argila variaram de 42,6% a 45,71% no horizonte superficial e de 47,7 a 55,8 % nos
horizontes diagnósticos, a ≈ 120cm profundidade, indicando uma textura argilosa.
Os solos analisados não apresentaram características químicas diferentes. Em
todos os sistemas de uso da terra avaliados a Soma de Base (SB) e a Saturação por Base
(V%) foram muito baixas o que releva o caráter distrófico dos solos da colônia agrícola
do ramal do 12. Entretanto, a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) apresentou valores
expressivos no Argissolo Vermelho-Amarelo sob FP (P8) e nos Argissolos Vermelho
sob SAF’s com três e dezenove anos (SAF3 – P7 e SAF19 – P9) de implantação, cuja
média da CTC manteve-se superior a 9,00 Cmolc / dm3.
Teores elevados de C foram registrados na camada 0 – 20cm de solo em todas
as classes de solo, exceto nos Neossolos sob FP. No Argissolo Vermelho sob SAF19 os
percentuais de C variaram entre 27,5 e 29%. Teores de C de mesma ordem de grandeza
foram registrados no Argissolo Vermelho Amarelo sob FP, usado com referência.
Resultados que corroboram com os encontrados por, Brito et al. (2016) e, diferem dos
registrados por Aquino et al. (2016) em Argissolo Amarelo de Apuí, sul do Amazonas.
No Neossolo sob FP os teores de C (14,8%) foram inferiores às demais classes
de solo, contrastando com os resultados obtidos por Gatto et al. (2010) cujos teores de C
variaram entre 11,69 e 23,56% de 0-20cm de profundidade. Talvez, a flutuação sazonal
do lençol freático e o teor mais elevado do areia, podem está favorecendo a percolação
do C na forma de substanciais húmicas para as camadas mais profundas do solo.
O Gráfico 1 apresenta os ECS até 1,0 m de profundidade em diferentes
camadas, classes de solo e uso da terra (FP e SAF). Apesar do percentual dos teores de
C decrescer com o aumento da profundidade, os ECS não seguiram essa tendência em
função do aumento da densidade do solo em profundidade, da classe de uso e cobertura
da terra, do tipo de solo e do maior aporte de argila com aumento da profundidade.

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 8
Figura 1 – (A) P1/FP - Plintossolo (B) P5/FP – Neossolo (C). P9/SAF19 – Argissolo (D) P7/SAF3 –
Argissolo.
Esperava-se que o ECS sob FP em todas as profundidades fossem apresentar
valores superiores aos observados nos solos sob o SAF3, SQF10 e SQF19, uma vez que
os SAF’s da colônia agrícola do ramal do 12 foram implantados em antigas áreas de
agricultura migratória (roça) portanto, tendem a ser mais perturbados, devido ao manejo
de corte e queima da biomassa florestal que causa a redução da serapilheira e, maior
exposição do solo aos processos de lixiviação e erosão hídrica. Entretanto, estoques
elevados de carbono orgânico foram registrados na camada superficial dos Argissolos
nos SAF3, SQF10 e SAF19, cujos ECS variaram de 39,27 a 49,92 Mg C. ha¹ de 0-20cm
e na camada subsuperficial (80-100cm) entre 32,61 e 51,75 Mg C. ha¹.
Houve pequena diferente numérica nos ECS no Argissolo Vermelho Amarelo
sob FP em relação ao Argissolo Vermelho sob SAF3 e SAF19, conforme figura 1 – C e

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 9
D. Segundo Iwata et al. (2013), os SAF’s são sistemas mais conservacionistas se
comparado a agricultura de corte e queima, portanto, os SAF’s demonstram maior
eficiência em manter e até, propiciar incremento dos ECS, fato observado na camada
superficial (0-20cm) do Argissolo Vermelho sob SAF e Argissolo Vermelho Amarelo
sob FP quando comparado aos ECS registrados no Plintossolo e Neossolo sob FP.
O desempenho favorável em armazenar C, apresentado pelos Argissolos sob
SAF, em especial no SAF19, pode estar associado a dois fatores: i) à ausência de
revolvimento do solo e da serapilheira, sendo mais espessa no FP quando comparada a
liteira observada no SAF19, favorece maior atuação dos organismos responsáveis pela
fragmentação e, transformação do tecido vegetal em compostos orgânicos, dentre outras
substâncias essências ao solo no agroecossistema (BARTZ et al., 2014). ii) O outro fator
que melhor explica o estoque de carbono armazenado no Argissolo sob SAF19 é a
presença de matéria orgânica viva e morta sob solo, que proporciona menor perda de solo e
C por erosividade no período chuvoso.
Os testes de significância da média de Tukey (p-v ≤0,05) demonstram que os
solos de textura argilosa sob SAF e FP da planície têm grande capacidade de retenção
de C. Elevados estoques de C foram observados nas camadas 0-20 e 80-100cm de
profundidade do solo sob SAF e FP de terra firme da planície (Figura 2). Estes são
devido a maior influência da matéria orgânica, oriunda da deposição de resíduos
orgânicos sobre o solo no interior do sistema natural e cultivado (MARQUES et al.,
2013).
A mudança de uso cobertura da terra, o elevado índice de pluviosidade (chuva),
o relevo plano e o deslocamento por gravidade de C adsorvido a fração de argila do
horizonte “A” que acumula-se no horizonte B, explica o aumento do ECS na camada de
80-100cm de profundidade no Argissolo Vermelho sob SAF03 e SAF19 e, no Argissolo
Vermelho Amarelo sob FP, usado como referência. Além disso, o sistema radicular de

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 10
espécies arbóreas dos SAF’s, a exemplo da Bertholletia excelsa Bonpl, Carapa
guianensis entre outras, ao extraírem água e nutrientes das camadas do lençol freático
fornecem carbono ao solo, fato que pode explicar um volume maior de carbono do solo
abaixo de 1,0 de profundidade nos Argissolos sob FP e SAF no sul da Amazônia
(NEPSTAD et al., 1994; SILVA, 1996).
Figura 2 – Média dos ECS de 0-20 e 80-100cm do solo sob SAF e FP e teste de significância de Tukey.
4. Considerações finais
Neste estudo, os teores de carbono orgânico usados na quantificação dos ECS
em diferentes classes e profundidade de solo indicaram que os Argissolos Vemelho sob
SAF, implantado a mais de dez anos apresentaram elevada capacidade para estocar
carbono orgânico, semelhante ao Argissolos Vermelho Amarelo sob floresta primária.
O Argissolo Vermelho sob sistema agroflorestal com dezenove anos de
implantação (SAF19) apresentou elevado potencial de estocagem de carbono orgânico
na camada de 80-100cm de profundidade do solo quando comparado ao volume de
carbono orgânico estocado nos Neossolos e Plintosssolos sob floresta primária.

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 11
Agradecimentos
A instituição financiadora deste estudo: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação do Instituto Federal do Amazonas – IFAM pela Bolsa de Produtividade em
Pesquisa Proc. nº. 23381000235/2018-37 e aos grupos de Pesquisa: Laboratório de
Biogeoquímica Ambiental Wolfgang C. Pheiffer (UNIR) e Desenvolvimento Regional
do Médio Purus IFAM campus Lábrea.
Referências Bibliográficas
AQUINO, R. E.; MARQUES J.; CAMPOS, M. C. C.; OLIVEIRA, C. I.; SANTOS, L.
A. C. Characteristics of color and iron oxides of clay fraction in Archeological Dark
Earth in Apuí region, southern Amazonas. Geoderma, v.262, p. 35-44.
BARTZ, M.L. C.; BROWN, G.G.; ROSA, M.G.; KLAUBERG, F.S.; JAMES, W.S.;
DECAENS, T.; BARRETTA, D. Earthworm richness in land-use systems in Santa
Catarina, Brazil. Applied Soil Ecology, V. 83, p. 59–70, 2014.
BRAGA, B; HESPANHOL, I. CONEJO, J. G. L.; MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T.
L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N. JULIANO, N. EIGER, S. Introdução a
engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson prentice Hall, 2005. 318p
BRITO, E.S.; FRADE JUNIOR, E.F.F.; COSTA, F. S.; SILVA, A.G.; MENEZES, A.L.
Estoque de carbono e nitrogênio em sistemas de uso e manejo de solos do Acre:
sudoeste da Amazônia. In: Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da
Água, 19, 2012, Lages. Anais... Lages, 2012. 1 CD-ROM.
CARVALHO, J.L.N.; AVANZI, J.C.; SILVA, M.L.N.; MELLO, C.R.; CERRI, C.E.P.
Potencial de sequestro de carbono em diferentes Biomas no Brasil. Revista Brasileira
de Ciência do Solo, v. 34. 277-289. 2010.
CERRI, C.C.; BERNOUX, M.; VOLKOFF, B.; MORAES, J.L. Dinâmica do Carbono
nos Solos da Amazônia. In: ALVARES, V.H.V.; FONTES, L.E.F.; FONTES, M.P.F. O
solo nos grandes domínios morfoclimáticos do Brasil e o desenvolvimento
Sustentado. Viçosa: SBCS, 2016, p.61-69.
DANTAS, M.E.; ARMESTO, R.C.G. Origem da paisagem. In: SILVA, C.R. (ed.)
Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado para entender o presente e prever o
futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. p. 34-56.
EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de métodos de análise
de solo. 2. ed. Rio de Janeiro: 1997. 212 p. (EMBRAPA-CNPS. Documentos 1).

ISBN: 978-85-7282-778-2 Página 12
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistema Brasileiro de
Classificação de Solo. 3. ed. Rio de Janeiro: 2013. 353 p.
FERNANDES, F.A.; FERNANDES, A.H.B.M. Cálculo dos estoques de carbono do
solo sob diferentes condições de manejo. Corumbá: 2008. p. 4. (EMBRAPA-CNPS.
Comunicado técnico, 69).
GAMA-RODRIGUES, E.F.; NAIR, P.K.R.; NAIR, V.D.; GAMA-RODRIGUES, A.C.;
BALIGAR, V.; MACHADO, R.C.R. Carbon storage in soil size fractions under two
cacao agroforestry systems in Bahia, Brazil. Environmental Management, v.45, n. 2,
p. 274–283, 2010.
GATTO, A.; BARROS, N.F.; NOVAIS, R. F.; SILVA, H G. L.; LEITE, F. P.;
VILLANI, E. M. A. Estoques de carbono no solo e na biomassa em plantações de
eucalipto. Revista Brasileira de Ciências de solo, v. 34, p.1069-1079, 2010.
IBGE – Instituto Brasileira de Geografia e Estatística. Projeto RADAMBRASIL, In:
Levantamento de recursos naturais folha SB. 20 Purus. Ed. fac-similiar. Rio de
Janeiro: IBGE, 2003. CD ROM – Vol. 17.
IWATA, B, F.; LEITE, L.F.C.; ARAÚJO, A,S.F.A.; NUNES, L.A.P.L.; GEHRING, C.;
CAMPOS, L.P. Sistemas agroflorestais e seus efeitos sobre os atributos químicos em
Argissolo Vermelho-Amarelo do Cerrado piauiense. Revista Brasileira de Engenharia
Agrícola e Ambiental, v. 16, n.7, p. 731-738.
MARQUES, J.D.O.; LUIZÃO, F.J.; TEIXEIRA, W.G.; Araújo, E.M. Carbono orgânico
em solos sob floresta na Amazônia central. In: Congresso Norte Nordeste de pesquisa e
Inovação, 7., 2013 Disponível em:
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1002068/1/CONNEPI1.pdf.
Acesso em: 06 dez. 2018.
MOREIRA, M.A. Fundamentos do sensoriamento remoto: e metodologias de
aplicação. São José dos Campos: INPE, 2001. 250p.
NEPSDAT D. C.; CARVALHO, C. R.; DAVIDSON, E. A.; JIPP, P.H.; LEFEBVRE,
P.A.; NEGREIROS, G.H.; SILVA, E.D.; STORE, T.A.;TRUMBORE, S.E. VIEIRA, S.
The role Of deep Roots in the hydrological and carbon cycles of Amazonian forests and
pastures. Nature, v. 372, n. 15, p.666-669.
SILVA, A.E.; ANGELIS, C.F.; MACHADO, L.A.T.; WAICHAMAN, A.V. Influência
da precipitação na qualidade da água do Rio Purus, Revista Acta Amazonica, v. 38, n.
4, p.733-742, 2008.
SILVA, L.F. Solos tropicais aspectos pedológicos e de manejo. São Paulo: Terra
Brasilis, 1996.