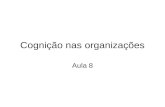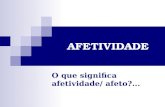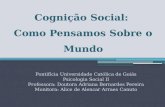Cognição, Afetividade e Moralidade
-
Upload
walmir-rosa -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of Cognição, Afetividade e Moralidade
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 1/17
C o g n i ç ã o , a f e t iv id a d e e m o r a l id a d e
Valéria Amorim Arantes de Araú joUni ver si da de de Ube ra ba
R e s u m o
O presente trabalho fundamenta-se em algumas tendênciasatuais no cam po da Psi co lo gia Mo ral, que bus cam com pre en dera natureza dos juízos e das ações morais, incorporando o papelda afetividade em tais pro cessos. Para atender esse ob jetivo,são apre sen ta dos al guns tra ba lhos re cen tes bem como os da dos
relativos a uma investigação, na qual se buscou identificar eanalisar as possíveis relações entre os estados emocionais, osraciocínios morais e a organização do pensamento dos su jeitosquando solicitados a resol verem conflitos de natu reza moral.Dentre seus resultados, foi encontrada uma forte relação entreo estado emocional dos su jeitos e a for ma como organizavamseu raciocínio.A partir das novas contribuições teóri cas que vêm surgindo re-centemente neste campo de estudos, discute-se a necessidadede se pesquisar como a educação moral pode ser pautada em
parâmetros distintos daque les relacionados ao de sen vol vimen-to e à construção da capacidade racio nal da justiça.Sem negar a importância de tal construção, defende-se o prin-cípio de que a educação deve preocupar-se também com aconstrução e organização da dimensão afetiva do psiquismo,buscando a formação de personalidades morais que integremem seus juízos e suas ações, ao mesmo tempo, os interessespessoais e coletivos.
P a la v r a s - c h a v e
Moral – Estados emociona is – Conflitos morais – Modelos organizadores.
Correspondência:Valéria A. A. Araú jo
Av. Nenê Sa bi no, 1801Ube ra ba, MG 38.055-500e-mail : va ran tes@ya hoo.com.br
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 137
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 2/17
C o g n i t io n , a f f e c t iv i t y a n d m o r a l i t y
Valéria Amorim Arantes de Araú joUni ver si da de de Ube ra ba
A b s t r a c t
This work is based on cur rent tr ends in the field of moral
psychology whi ch seek t o understand t he nature of moral
judgments and act ions, incorporating the role played by
af f ec ti vi ty i n such pr o ces ses. To that ef fect, some re cent work s
and the data r elated to a research are presented, i n whi ch
possible relat i onships were looked for between emoti o nal states, moral reaso ni ng and the organizat i on of the sub ject’ s
thoughts when asked to resolve confl i cts of moral nature.
Among the result s, a str ong relati onshi p was found between
the emotional state of the sub jects and the way according to
whi ch they organized their reaso ni ng.
Drawi ng from recent theoret i cal cont r i but i ons to thi s fi eld of
study, i t i s discussed how moral educat i on can be buil t upon
parameters others than those related to t he development and
the construct i on of r at i onal abil i ty for just i ce.
Wi thout denying the importance of such construct i on, it i s advocated that educat i on should also concern the
construct i on and organizat i on of the affect i ve dimen sion of
the psyche, seeki ng the development of moral personal i t i es
that integrate, at the same time, personal and collect i ve
i nterests in t heir judgments and act ions.
K e y w o r d s
Moral – Emot ional states – Moral conf l i cts – Organi zing models.
Correspondence :
Va lé ria A. A. Ara ú jo
Av. Nenê Sa bi no, 1801Ube ra ba, MG 38.055-500
e-mail: va r an tes@ya hoo.com.br
138 Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137- 153, jul./dez. 2000
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 3/17
Este artigo fundamenta-se prio rita ri amen-te em estudos recentes no campo da PsicologiaMoral, que vêm buscando compreender a na tu-reza dos juízos e das ações morais. Con si de ra-mos ser de grande importância a compreensãode tais processos psicológicos, principalmentedo papel da afetividade na estruturação de pro- jetos educacionais que alme jem o que costumachamar-se de educação moral ou, em ou tros ter -mos, a construção de personalidades morais.
Para alcançar tal ob jetivo, apre sen ta re-mos alguns trabalhos recentes no campo daPsicologia Moral e dados parciais relativos auma investigação que trouxe novas con tri bu i-
ções para o debate acadêmico (Araú jo, V.A.A.,2000). Nessa pesquisa, buscamos identificar eanalisar a in fluência que o estado emocio nalexerce no raciocínio moral e na organização dopensamento dos seres humanos quando so li ci-tados a resolverem con fli tos de na tu re za mo ral.Por fim, discutiremos a idéia de que a edu ca çãomoral trabalhada na escola formal não seja li-mitada somente à construção do princípio de justiça. Defenderemos o princípio de uma edu-cação moral que se preocupa também com osaspectos intrapessoais da personalidade hu ma-na e com a busca vir tu o sa da fe li ci da de, do Bem(um conceito aristotélico).
O c a m p o d a P s i c o lo g i a M o r a l
Lawrence Kohlberg (1927-1984), par tin-do do referencial teórico de J ean Piaget, ela bo-
rou a partir de 1958 um modelo psicogené ticode desenvolvimento da moralidade humana queteve grande repercussão no meio intelectual emtodo o mundo, criando uma nova linha de in-vestigações em Psicologia Moral. Seu trabalhoajudou a consolidar esse campo de co nhe ci-mento e, de fato, suas idéias constituíram-seem referência para a maioria das pesquisas so-bre moralidade.
Em suas investigações, realizadas comsu jeitos de diferentes idades e de diferentesculturas, ele constatou a existência de alguns
padrões de raciocínio moral que independiamda língua e da cultura, o que o levou a pos tu-lar um caráter universal para o de sen vol vi-men to do ju í zo mo ral, ba se a do em es tá gi os dedesenvolvimento rígidos e hierárquicos. Oprincípio básico dessa universa lidade, deacordo com Kohlberg, seria a justiça, e as sen-ta-se em uma perspectiva deontológica, deuma mo ral do dever.
Suas idéias centrais, publicadas no anode sua morte (1984/92, p. 276) são: a uni ver-salidade moral (em oposição ao relativismocul tu ral e éti co); o pres cri ti vis mo como uso de juízos morais (perspectiva deontológica); o
cognitivismo como o elemen to de raciocíniodo juízo moral (em oposição ao emotivismo);o construtivismo; e a idéia de que o pres su-posto metaético da justiça é primordial e deque os problemas morais como dilemas sãofun damentalmente problemas de justiça.
Em outra ocasião, ele afirmou que
já dissemos que a essência do componente es -
pecificamente moral do juízo moral é o sen ti-
do de justiça (...) a essência da atmosfera
moral de uma instituição ou meio é, pois, a es -
trutura da justiça. (1989, p. 96)
A teoria de Kohlberg para o de sen vol vi-mento do ju í zo mo ral re ce beu, e ain da re ce be,muitas críticas. Uma delas (Sastre et al, 1994)diz respeito ao fato de ele não ter con si de ra-do, no es tu do da mo ra li da de hu ma na, a re pre -
sentação de valores sociais e as ne cessidadesafetivas dos su jeitos, inerentes aos conflitosmorais enfrentados no cotidiano.
Concordamos com essa crítica e acre di-tamos ainda que uma análise do juízo moralfundamentado exclusivamente no princípiode jus ti ça nos con duz à uma aná li se for mal ouracionalista, que não corresponde em ab so lu-to com a realidade vivida pelas pes so as em seudia-a-dia.
Robert Selman (1988;1989) e Carol Gil-ligan (1985;1988), antigos colaboradores de
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 139
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 4/17
Kohlberg, trouxeram contribuições im por tan-tes para esse de bate.
Selman, baseado em um paradig ma cog-nitivo-evolutivo-estrutural, propôs um mo de loteórico em que o desenvolvimento moral estárelacionado com o desenvolvimento social ecentrado na capacidade do su jeito em adotarperspectivas de outras pessoas (adoção de pa-péis sociais). Para Selman
la adopción de pers pectivas puede describirse
con cep tu al men te como una forma de co no ci mi-
ento so ci al en un lu gar in ter me dio en tre el pen -
samento lógico y el pensa mento moral. (1989,
p. 113)
É importante res saltar que a capacidadede adotar perspectivas segue, para este autor,uma evolução psicogenética hierárquica naqual, necessariamente, os novos estágios deadoção de perspectivas construídos são maisevoluídos que os anteriores. Para ele, a relaçãoentre tais estágios e o desenvolvimento do ju í-zo moral é direta: os primeiros são condiçãone ces sá ria para os es tá gi os de de sen vol vi men todo juízo moral definidos por Kohlberg.
O modelo teórico proposto por Selmanin cor po ra ain da a afetividade e a re pre sen ta çãode valores sociais dos su jeitos. Para ele, na re-solução de conflitos morais, os su jeitos ne ces-sitam integrar interesses individuais erelacionais, daí a importância de se con si de ra-rem os aspectos cognitivos, afetivos e sociais,
presentes nas relações in terpessoais.Gilligan (1985) também buscou integrar
em seu modelo teórico a representação de va lo-res sociais e as necessidades afetivas dos su je i-tos, centrando-se, entretanto, em análises degênero. Para de mons trar a in su fi ciên cia do mo -delo kohlberguiano, Gilligan estruturou umateoria mo ral em que distingue a existência deduas fontes, ou orientações, que tanto podemser compreendidas como excludentes ou com-plementares, para explicar a moralidade hu ma-na: o princípio ou a orientação de just iça , em
geral priorizada pelos homens; e uma outraorientação cen trada no cuidado e na res pon-
sa bi l i dade (care) , priorizada nos juízos fe mi-ni nos. So bre isso, no li vroMappi ng the Mo ral
Domain (1988), a autora explica que o sexobiológico, a psicologia dos gêneros e as nor-mas e valores culturais determinam os com-portamentos femininos e masculinos. Comisso, acabam por afetar as experiências deigualdade e formação de vínculos, de homense mu lheres, influenciando, des sa maneira, o juízo moral.
Em nos sa opi nião, em ba sa da na opi niãode autores como Campbell & Chistopher
(1996) e Araú jo, U. (1999), apesar de ques ti o-narem o formalismo e impersonalismo da te o-ria de Kohlberg, bem como o princípio da“ética da justiça”, nem Selman nem Gilliganquestionaram a interpretação estrutu ralistado de senvolvimento moral por estágios, nemrealizaram trabalhos empíricos voltados àcompreensão, especifica mente, do papel dasemoções no raciocínio moral.
Nos últimos anos começaram a surgirtrabalhos investigando o papel das emoções edos sentimentos nos raciocínios morais dosse res hu ma nos. De ma ne i ra ge ral, a pre o cu pa -ção dos investigadores centrou-se no estudoda atribuição de emoções e sentimentos apersonagens que infringiam normas sociaise/ou morais. Entre eles, temos par ti cu lar in te-resse em destacar alguns trabalhos de Nun-ner-Winkler e So dian (1988), Arsenio e
Kramer (1992), Lou renço (2000), Araú jo, U.(1999), De La Taille (2000) e Sastre et al(2000, no pre lo). Estes au to res são re fe rên ci asim portantes na elaboração das investigaçõesque desenvolvemos, especialmente na queapresentaremos neste artigo.
Nunner-Winkler e Sodian (1988), ba se an-do-se em teorias funcionalistas de emoçõesmorais e utilizando-se de entrevis tas clínicas,desenvolvem uma linha de investigações quetem como ob jetivo identificar e analisar o de -senvolvimento das concepções infantis sobre
140 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 5/17
as conseqüências emocionais de ações mo ral-mente relevantes. Os resultados obtidos nos di -ferentes experimentos realizados pelas au to ras,com su jeitos de 4 a 8 anos, possibilitaram apostulação da existência de uma tendênciaevolutiva da moralidade humana, que vai deuma orientação emocional centrada es sen ci al-mente no dese jo do transgressor (atri bu in-do-lhe sentimentos positivos sempre e quandorealizam um dese jo próprio) a uma orientaçãoemocional coerente com os comportamentosmorais (atribuindo sentimentos negativos aquem pre judica outras pessoas e sentimentospositivos a quem adota comportamentos ade-
quados à norma social).Arsenio e Kramer (1992) ampliaram os
experimentos realizados por Nunner-Winkler eSodian considerando, na análise das respostasapresentadas espontaneamente pelos su jeitos,não só os sentimentos atribuídos aos agres so-res das histórias, mas também os sentimentosatribuídos às vítimas. Com isso, pretendiamaprofundar o estudo sobre os processos mentaissub jacentes às representações dos su jeitos,analisando as relações entre as emo ções dos di -ferentes personagens. Em termos gerais, os au -tores perceberam que os su jeitos mais novos (4anos) não só atribuíram emoções opostas aoagressor e à vítima, como as tomaram como in -de pen den tes umas das ou tras; e que os su je i tosmais velhos (6 e 8 anos) além de integrarem ospensamentos, sentimentos e dese jos do agres-sor e da vítima, estabelecendo laços afetivos
entre eles, foram capazes de atribuírem, aosmesmos personagens, sentimentos positivos enegativos.
Com o ob je ti vo de tam bém apro fun dar oses tu dos so bre a atri bu i ção de emo ções, Lou ren -ço (2000) analisou as emoções positivas e ne-gativas que crianças atribuem a personagensagressores em con di ções reai s (factuai s) e dedever , relacionando tais emoções a seus com-portamentos pró-sociais.
Ainda na linha de investigações sobre aatribuição de emoções, Sastre et al (2000, no
prelo), diferente dos experimentos propostospor Nun ner-Winkler, Arsenio e Lourenço, es-tudaram uma situação em que os sen ti men tose dese jos dos personagens eram apresentadosaos su jeitos durante toda a história, e não so -mente após seu desfecho. Na si tu a-ção-problema apresentada, desde o início dahistória o transgressor sentia-se contente e,ao mesmo tempo, preocupado por ter co me ti-do um pequeno fur to. No fi nal, não sa ben do oque fazer diante do fato, ele pede conselho aum amigo. Os resultados mostraram que emcrianças de até 8 anos de idade, o dese jo derecuperar um estado emocio nal positivo (de-
volvendo o ob jeto roubado para sentir-sebem) predominou sobre questões re la ci ona-das a van ta gens ma te ri a is e con ce i tos mo ra is.
Outros autores vêm estudando nos úl ti-mos anos a atribuição de emoções, emboraem diferentes perspectivas. Araú jo, U. (1999)estudou o sentimento de vergonha, em su je i-tos de 8, 12 e 16 anos, os quais atribuíam talsentimento a su jeitos que transgrediram osvalores morais de honestidade, de ge ne ro si-dade e de coragem. Nos seus resultados a quechegou, Ulisses Araú jo constatou que poucossu jeitos faziam espontaneamente tal atri bu i-ção de sentimento. Na seqüência, quandoeram solicitados a considerar a possibilidadede o personagem ter sentido vergonha, a maioria de les atri bu iu esse sen ti men to ao per -sonagem transgressor, em todas as idades.Araú jo conclui que a vergonha não é atri bu í da
es pontaneamente aos personagens trans gres-sores porque esse sentimento não é mui to va -lorizado nas culturas ocidentais. Quando,porém, os su jeitos são levados a refletir sobreos sentimentos do personagem e a considerara vergonha, a mai oria reconhece a pos si bi li-dade de que tal senti mento é sentido porquem transgride valores morais.
De La Taille (2000), estudando tambéma atribuição do sentimento de vergonha, emoito pesquisas diferentes, encontrou uma gê-nese desse sentimento, no tadamente quando
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 141
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 6/17
relacionado à moral. Enquanto crianças de 6anos atribuem maior sentimento de vergonha apersonagens que experienciam situações de ex -posição pública e que envol vem danos mate-riais, su jeitos mais velhos tendem a atribuirmais vergonha a personagens que sofrem crí ti-cas em relação às suas qualidades morais. Avergonha moral atribuída aos personagens pe-las crianças mais velhas re fe re-seao medo todo
moral de decai r perante os olhos de ou tr em,
notadamente os da pessoa respei tada. Todos es ses traba lhos sobre a atribuição
de emoções têm em comum a intenção de bus -car modelos teóricos mais abrangentes e com-
pletos sobre a mo ralidade humana, e a con cep-ção de que a compreensão dessa moralidadepressupõe a confluência de as pec tos cog ni ti vose afetivos na ex pli ca ção do fun ci o na men to psí-quico humano.
Tal discussão, todavia, nos solicita a su-perar paradigmas teóricos e experimentais cen -trados numa análise linear do raciocínio e nosincita a elaborar investigações que permitamdiferenciar e relacionar a con fluência de am bosos processos, indissociáveis, nos atos mentais.Para isso, precisamos aceitar a di versidade deestilos e níveis de raciocínios e a diversidade desistemas emocionais presentes na vida co ti di a-na dos su jeitos, o que nos leva a buscar novosmodelos experimentais.
Elegemos para nortear nosso trabalho a Teoria dos modelos organi zadores do pen sa-mento (Moreno 1988; Moreno; Sastre; Leal;
Bovet 2000). Os modelos organizadores são as -sim definidos por Sastre, Moreno, e Fernandezcomo
o con jun to de re pre sen ta ções que o su je i to re a li -
za a partir de uma situação deter minada, cons ti-
tuído pelos elementos que abstrai e retém como
significativo entre todos os possíveis, aqueles
que imagina ou infere como necessários, os sig-
nificados e as implicações que lhes atribui, e as
relações que estabelece entre todos eles. Os mo-
delos organizadores do pensamento constituem
aquilo que é tido por cada su jeito como a re a li-
da de, a par tir da qual ela bo ra pa u tas de con du -
ta, explicações ou teorias. (1994, p.19)
Ressalta-se, porém, que no modelo or-ganizador elaborado por um su jeito não es tãotodos os elementos que configuram a re a li da-de. De for ma in ver sa, nem to dos os ele men tosque figu ram no modelo têm um referente narealidade, já que o su jeito pode imaginar ele-mentos inexistentes, ou seja, ele pode fazerinferências.
Diante dessa definição, nos parece evi-denciado que os modelos organizadores do
pensamento são construídos não somente apartir da lógica sub jacente às estruturas depensamento, mas comportam os dese jos, sen -timentos, afetos, representações sociais e va-lores de quem os constrói. Quando o su jeitoabstrai ou seleciona um elemento da re a li da-de, atribui a ele um determinado significado eestabele ce relações e/ou implicações com ou-tros dados e significados, nos parece que esseprocesso psicológico está imbuído de sen ti-mentos e emoções que guiam e/ou di re ci o-nam todas as três atividades.
Vemos na Teoria dos mo de los or ga ni za-dores um caminho para se entender os as pec-tos cognitivos e afetivos presentes noraciocínio humano, abrindo possibilidadespara um en ten di men to mais coerente sobre asestratégias utilizadas pela mente humana naresolução de conflitos, incluindo os de na tu-
reza moral.A partir dos pres su pos tos da Te o ria dos
modelos organizadores e dos resultados ob-tidos em investigações ante riores (Araú jo,V.A.A., 1998), elaboramos uma pesquisa queprocurou comparar o raciocínio empregadopor su jeitos ao se defrontarem com um con-flito de natureza moral em duas perspecti vasdiferentes: a deontológi ca (o que deve fazero protagonista); e uma perspectiva que es ta-mos chamando de cogni t i vo-afetiva , porqueanalisa os sentimentos, dese jos e pen sa men-
142 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 7/17
tos do protagonista. Em nosso experimen to,além disso, decidimos estudar não somente aatribuição de emoções, mas também a in-fluência que diferentes estados emocionaispodem exercer no raciocínio dos su jeitos ao sedefron tarem com conflitos morais nas duasperspectivas citadas.
Apresentamos, a seguir, alguns dados denossa tese de doutorado (Ara ú jo, V.A.A, 2000).Salientamos que decidimos apresentar nestearti go apenas alguns exemplos de modelos or-ganizadores apli ca dos por nos sos su je i tos, paraque o leitor ou leitora conheçam a estrutura deum modelo organizador do pensamento, e os
dados referentes à comparação dos modelosorganizadores aplicados nas diferentes pers-pectivas dependendo do estado emocional dossu jeitos. Tomamos tal decisão em razão de oob jetivo des te ar ti go es tar vol ta do para a in ves -tigação da influência dos es tados emocionaisna organização do pensamento e para a com-paração desta influên cia em raciocínios apli ca-dos em perspectivas diferentes.
U m a i nv e s t ig a ç ã o e m p ír ic a
Um mesmo conflito foi apresentado aossu jeitos em duas situações distintas: uma pro-fessora que flagra um aluno fumando maconhana es co la, a) na pri me i ra si tu a ção não de mos ne -nhuma informação a eles sobre o contexto emque os fatos se deram nem características es pe-cíficas da protagonista e de mais envolvidos no
conflito, e depois lhes perguntamos so bre o quedeveri a fazer a professora, protagonista da his-tória; b) na segunda situação, fornecemos a elesvárias informações sobre o contexto em que oconflito ocorreu, as características dos per so na-gens envolvidos, detalhes de suas vidas, da co-munida de a que pertenciam, das relaçõesexistentes entre elas, bem como dos sen ti men-tos e emoções pre sentes na situação. No final,lhes ques ti o na mos so bre ospensamentos, sen ti-
mentos e dese jos da professo ra ao se defrontarcom a situação.
A amostra foi composta por noventaprofessores e pro fessoras de escolas públicasbrasileiras, divididos em três grupos de trintaprofissionais. Cada grupo experienciou umde ter mi na do es ta do emo ci o nal an tes de re sol-ver os conflitos: a) o primeiro grupo ex pe ri en-ci ou emoções positivas, como satisfação,felicidade e alegria; b) o segundo grupo, quechamaremos de grupo neutro , não foi in du zi-do a experienciar nenhuma emoção es pe cí fi-ca; c) o terceiro grupo experienciou emoçõesnegativas, como insatisfação, frustração, de-sagrado e tristeza.
A partir da Teoria dos modelos or ga ni-
zadores do pensamento, nossa pesquisa pre-ten deu identificar e comparar os modelosorganizadores aplicados por su jeitos que ex-perienciaram diferentes estados emocionais,ao resolverem o mesmo conflito moral naperspectiva deontológica e na perspectivacognitivo-afetiva. Para isso, apresentamos aseguir, os dois experimentos realizados:
E X P E R I M E N T O 1 :
P e r s p e c t iv a d e o n t o ló g ic a
Proce dimentos:
• Grupo 1 (po sitivo) e Grupo 3 (negativo):
o en contro com cada grupo teve duraçãoaproximada de três horas e trin ta mi nu tos.
Primei ro passo : so li ci tou-se aos pro fes so res eprofessoras que, individualmente, re cor das-sem com detalhes alguma passagem de suasvidas, em qualquer âmbito, que lhes houvesse
causado muita satisfação, alegria, agrado oufelicidade, no caso do gru poposi t i vo ; e gran -de insatisfação, tristeza ou frustração, nocaso do gru po negat i vo . Após quinze mi nu-tos, aproximadamente, distribuiu-se uma fo-lha de papel para que cada professor(a)descrevesse, detalhadamente, a situação re-cordada e também como se sentiu na quelemomento.Segundo passo : pediu-se para que, volunta-riamente, algumas pessoas lessem ou re la tas-sem a situação recordada, bem como os
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 143
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 8/17
sentimentos experienciados naquela ocasião.Tercei ro passo : solicitou-se a alguns voluntá-rios que dramatizassem uma das situações des -critas, escolhi da propositadamente por ter sidoa que mais sensibilizou o grupo. Em algunsmomentos, durante a dra matização, in ter rom-peu-se a cena para questionar os atores e também os demais espectado res sobre os sen ti-mentos e emoções que estavam expe ri encian donaquele momento.Quar to passo : so licitou-se aos docentes querespondessem, individualmente e por escrito,ao conflito moral apresentado.A pergunta sobre o conflito apresentada aos
su jeitos foi a seguinte:O que de veri a fazer a pr o fessora deste aluno?
O que seri a o mais correto? Por quê? Expl i que
detalhadamente sua r esposta.
• Grupo 2: “grupo neutro”: com este gru po aaplicação da prova foi re a li za da sem ne nhumtrabalho prévio para promover estados emo-cionais específicos. A pesquisadora apenasreuniu o grupo e lhe apresentou a situação aser resolvida.
Ressaltamos que o conflito e a questãoforam apresentados aos su jeitos por escrito eque, anonimamente (por meio de pse u dô ni-mos), responderam também por escrito. Suaaplicação aconteceu entre os meses de abril e junho de 1998, em três escolas públicas, de J undiaí e Itatiba (SP), nas quais os professo restrabalhavam. Durante as aplicações das provas
a pesquisadora esteve presente nos grupos, afim de garantir que as respostas fossem re al-mente individuais.
Apresentação dos modelos organizadores:
Uma vez de posse dos protocolos, a eta paseguinte do trabalho con sis tiu emextrai r os di -ferentes modelos organizadores elaborados eaplicados pelos su jeitos ao resolverem o con fli-to moral envolvendo o consumo de drogas naescola. Esse processo con sistiu em buscar, noraciocínio emitido pelos su jeitos, os elementos
abstraídos e considerados relevantes do con-flito proposto, os signi f i cados que lhes atr i -
buíram e as impl icações que estabeleceram
entre os mesmos elementos e/ou seus sig ni fi-
cados , conforme define a Te oria dos modelosorgani zadores.
Do ponto de vista metodológico, o quenos atrai nessa teoria, e que constitui umgrande avan ço con ce i tu al, é o fato de não tra -balharmos com categorias pré-determinadasde modelos organizadores. Eles são extraídos
a par tir das respostas dos su jeitos e não porinferências prévias do pesquisador. Isso sig ni-fica que os modelos encontrados não se re pe-
tem necessariamente em outras situações ecom outra amostra.
Foram detectados quatro diferentesmodelos organi zadores aplicados pelos su je i-tos investigados na resolução do conflito moral proposto. Tais modelos foram de no mi-nados de 1, 2, 3 e 4. Em nossa análise pu de-mos identificar ainda que as impl icações dosmodelos 1 e 2 são semelhantes, assim como asdosmodelos 3 e 4 : en quan to osmo de los 1 e 2
limitam o papel da professora ao en ca mi nha-mento do caso a terceiros, os modelos 3 e 4
têm como principal caracte rística a par ti ci pa-ção direta da professora na resolução doconflito.
Por isso, decidimos classificá-los emduas ca te go ri as di fe ren tes de modelos or ga ni-zadores do pen sa men to: categoria A, re u nin-do os modelos 1 e 2, tem como impl icações
dadas pelos su jeitos que a professora nãodeve se envolver diretamente na resolução docon fli to; categoria B, reunindo osmodelos 3
e4 , tem como impl icações dadas pelos su je i-tos que a pro fes so ra deve par ti ci par na re so lu -ção do conflito, ajudando o aluno emquestão.
Para ilus trar mos a ma ne i ra como nos sossu jeitos orga nizaram a situação proposta, e oque são modelos organizadores do pen-samento, apresentaremos, a seguir, exemplosdos modelos 1 e 4 encontrados neste ex-
144 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 9/17
perimento, mostrando a diferença em seusprincípios. Tais modelos repre sentam as ca te-gorias A e B de modelos organizadores en con-trados.
• MODELO 1 (CATEGORIA A)
Os su jeitos que aplicam esse mode lo or-ganizam suas explicações em torno de um ele-mento que não aparece explicitamente nem noenun ci a do do con fli to nem na per gun ta for mu -lada pela ex pe rimen tado ra: a participação dadireção da es co la na reso lução do problema.Eles atribuem à direção o significado de evitarque a droga se alastre na escola.
Os outros dois elementos que abstraem eretêm como significativo no modelo 1 são: ocomportamento do alu no e o papel da pro fes-sora. O fato de atribuírem à pro fes so ra o papelde encami nhar o pro ble ma e de ve rem o com-portamento do aluno como um com por ta men-to proble mático e de uma complexidade quesupera o preparo dos professores, leva-os a de -fender a idéia de que o correto é a professoraencaminhar o caso à direção da escola, paraque esta evi te que o con su mo de dro gas se alas -tre na escola.
Elementos abstraídos e re t i-dos como signifi ca t ivos
Signifi ca dos atri bu í-dos aos elemento s
Comporta mento do aluno Problem áti co
Papel da di reção da escola
So lu c ionar os pro ble-mas; ev i tar que adroga se alastre na
es cola .
Papel da pro fessoraEncam inhar o pro-blem a
Implicações e/ou re lações esta belec idas entre oselementos e signifi cados:
A professo ra deve r ia encam inhar o caso à di reção daes cola para que esta solu c ione o problema, evitandoque o consu mo de drogas se alastre na es co la.
A título de ilustração, segue uma res pos-ta deste modelo (Categoria A):
—“...de ve ria co mu ni car o fato à di re ção da es -
cola para que se tomassem providências, pois
se o aluno entra com ma co nha na es co la, logo
todos estarão experimentando.”
• MODELO 4 (CATEGORIA B)
A característica principal do quarto mo -delo é a atuação direta da professora na re so-lução do conflito. Nesse modelo os elementosabstraídos e re ti dos como sig ni fi ca ti vos, di an -te do flagrante apresentado no conflito, sãoapenas o comportamento do aluno e o papelda professora. Os su je i tos sig ni fi cam o pri me i-ro elemento como um comportamento que
re quer orientação, ajuda, diálogo, re cu pe ra-ção, por parte da professora. Os docentes queaplicaram esse modelo de fendem, portanto, aidéia de que a conduta da professora diantedo flagrante deveria ter por ob je ti vo ajudar oseu aluno.
Elementos abstraídos e re-t idos como s ignifi ca ti vos
Signifi ca dos atri bu í-dos aos elemento s
Comportamento do aluno So li ci ta orientação;ajuda; diálogo; re cu-pe ra ção.
Papel da profes soraorien tá- lo; a judá- lo;conversar com oaluno; re cu pe rá-lo.
Implicações e/ou re lações esta bele ci das entre oselementos e signifi cados:
A professo ra deveria atuar com o ob je t ivo de aju-dar na recupera ção do aluno.
Apresentamos o seguinte exemplo derespostas do modelo 4 (Categor ia B) :
—“Conversar, chamando a sua atenção, pro-
cu ran do sa ber, co nhe cer o mo ti vo quer está le -
vando-o a isso. Pois escutá-lo é uma for ma de
ajudá-lo e levá-lo a descobrir, ele mesmo, se
este é o caminho certo; e daí ele não só po de-
ria se arrepender, mas dei xar realmente deusar, e não querer jamais voltar.”
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 145
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 10/17
E X P ER IM E N T O 2 :
P e r s p e c t iv a c o g n it iv o - a f e t i v a
Enquanto no primeiro experimento ana li-samos os modelos organizadores aplicados pe-los su jeitos ao resolverem um conflito naperspectiva deontológica, questionando so breo
que deveri a fazer uma professora que flagra umaluno fumando maconha na escola, no segundoexperimento aplicamos a mesma situação conflitiva, mas na pers pec ti va que de fi ni mos an -teriormente como cognitivo-afetiva. Assim,questionamos so bre os sentimentos, dese jos e
pensamentos da protagonista, sem perguntar o
que deveria fazer na situação.
Procedimentos:
A metodologia empregada nesse ex pe ri-mento, a amostra e os procedimentos foramexatamente os mesmos do experimento 1. Res-sal ta mos, in clu si ve, que os su je i tos que com pu -seram cada um dos três grupos (positivo,neutro e negativo) também foram os mes mosdo experimento 1. Os dados do expe rimento 2foram coletados uma se mana após o ex pe ri-mento 1.
Nesse segundo experimento, após pro vo-carmos os estados emocionais característicosde cada grupo, a pergunta sobre o conflitoapresentada aos su jeitos foi a seguinte:
Ten te fa zer um es for ço e co lo que-se no lu gar da
professora Eliana, imaginando como ela vive
essa situação. Descreva detalhada mente seussenti mentos, dese jos e pensamentos.
Apresentação dos modelos organizadores:
Embora questiona dos a respeito dos sen-
t imentos, dese jos e pensamentos da pro ta go-
nista , os modelos organizadores aplicadospelos su jeitos diante do conflito moral quecon templava a perspectiva cognitivo-afetiva dasituação foram semelhantes aos modelos or ga-nizadores aplicados por eles anteriormente naperspectiva deontológica, sendo que os prin cí-
pios característicos de cada modelo eram osmesmos. Por isso, nesse experimento tambémpudemos cri ar ascategorias Ae B de mo de losorganizadores do pensamento.
Assim, os modelos organizadores en-contrados no segundo experimento apre sen-tavam os seguintes princípios: a) os modelos1 e 2 atribuíam à personagem um pa pel pas si-vo diante da situação-problema, defendendoa idéia de que a professora não deveria atuardiretamente na resolução do conflito. Ado ta-vam, pois, a postura de calar-se ou de en-caminhar o caso a terce iros, tidos comoresponsáveis pela resolução do conflito; b) os
mo de los 3 e 4 atri bu íam à per so na gem um pa -pel ati vo di an te da si tu a ção-problema, de fen -dendo a idéia de que a professora deveriaatuar diretamente na resolução do conflito.Adotavam a postura de que ela deveria agirpes soalmente na recuperação do aluno.
Para ilus trar mos a ma ne i ra como nos sossu jeitos orga nizaram a situação proposta, e oque são modelos organizadores do pen sa-mento, apre sen ta re mos, a se guir, exem plos demodelos 1 (Categoria A) e 4 (Categoria B) en-contrados nesse experimento, mostrando adiferença em seus princípios.
• MODELO 1 (Cate goria A):
Os su jeitos que aplicam esse modelo or -gani zador centram suas explicações nas emo -ções vividas pela professora, e a forma comoas compreendem é um impedimento para fa-
zer qualquer implicação que envolva a açãoda professora diante da situação enfrentada.Consideram que o medo da pr ofessora , seuestado emocional e insegurança ini bem suaação. A impotência da personagem é o quecaracteriza esse modelo.
Na elaboração desse modelo foram re-tidos como elementos significativos o com-
portamento do aluno , os sent imentos da
professora , o papel dela , sua ação de de nun-
ci ar o fato a outras pessoas e também omeio
soci al . Opapel da professora nesse modelo é
146 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 11/17
o de denunciar o caso . Mas, ao entenderem queo comportamento do aluno causa medo na
personagem, que o meio social épe r i go so eque a denúncia pode lhe trazer represál i as ,vi olên ci a ou per i go , todas as respostas fun da-mentadas no modelo 1 justi ficam que, di ante do flagrante, a professora inibi r i a sua ação.
Nas justificativas, além do medo , identificamostambém os sentimentos de impotência, an gús-
ti a e horror , que a fariam calar-se.
Dados abs traídos e re t i doscomo s ignifi cati vos
Signif icados atri bu í dosaos dados
Comporta mento do aluno
Causa medo na pro-
fes so ra
Sent imentos da professoraImpotência; medo; oque faz com que elase cale.
Papel da pro fessora Denunciar o caso
Denunciar o fato a outraspessoas
Ação que pode trazerrepresá li as; violência;per igo
Meio socialViolento; agressi vo ;per igoso
Implicações e/ou re lações esta belec idas entre os da-dos e signifi cados:
A professo ra inibe sua atuação por medo.
Como exemplo, apresentamos:
—“Sente-se impotente, incapaz de tomar uma
atitude mais rígida. Qualquer atitude mais sériapo de rá acar re tar em da nos à sua pes soa. Sa be-se
lá o que Marcelo seria capaz de fazer para que
seus pais não soubessem do vício... seria seguro
para a professora denunciar ou seria melhor se
omitir? Em seu lugar não saberia qual a atitude
seria mais sensata.”
• MODELO 4 (Categoria B):
Nesse modelo organizador temos três
elementos abstraídos e retidos como re le van-tes. O con junto destes elementos, com seus di-
ferentes significados, faz com que os su jeitosexpressem, em suas respostas, o dese jo da
professora em ajudar o aluno ou apresentema idéia de que ela deve agi r para aj udá- lo .Apesar de atribuírem significados diferentesao estado emocional da professora (cons tran- gimento, culpa, desgaste, decepção, mal -
estar, impotência, rai va, tri steza, ansiedade
e outros), acreditam que exista o dese jo dapersonagem em ajudar o aluno.
Isso nos pa re ce re le van te, se con si de rar-mos que nossa pergunta esteve direcionadaaos sent imentos, dese jos e pensamentos dapersonagem, e não à sua ação. Tal conduta
lhes permite deduzir que, o comportamento apresentado pelo alu no além de causar sen ti -
mentos negat i vos na professora, re quer aju-
da , orientação , diálogo .
Dados abstra ídos e reti doscomo signifi cati vos
Signif icados atri bu í-dos aos dados
Comportamento do alunoDestruti vo; soli c itaajuda; diálo go ;
orientação
Sent imentos da professo ra
(ansi edade; de cep-ção; desespero; impotência; in dig-nação; pre o cu pa-ção; pena; surpresa; tr isteza)
Papel da profes sora
Conversar com oaluno; ajudá- lo; orientá-lo; au xi-
l iá-lo; recuperá- loImplicações e/ou re lações esta bele ci das entre osdados e signi f ica dos:
A professo ra atuará para ajudar a recu pe rar o aluno.
Um exemplo de resposta característicadeste modelo foi:
—“Eu amo meus alunos de uma forma ge ral.
Qu an do es tou com eles, mes mo em de tri men to(sic) ao cur to tem po que fi ca mos jun tos, ten to
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 147
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 12/17
conhecer um pou co mais (o má xi mo pos sí vel) da
personalidade de cada um. A ‘pessoa’, o
‘ser-humano’. No lu gar da pro fes so ra, em pri me i -
ro lugar, morreria de dó da criança, e mesmo sa-
bendo que estaria diante de um problema quase
impossível de ser tratado, esquematizaria uma
forma de chegar e achegar-me a ele. Gra da ti va-
mente eu tentaria ganhar sua confiança e o pro-
vocaria em uma conversa o assunto. Eu poderia
abordar o assunto de várias formas: começando
por passar um filme relati vo ao problema para a
clas se do alu no. Mas, ine vi ta vel men te, eu iria en -
trar em contato com ele de qualquer jeito.”
Variação intrapessoal dos mo de losorganizadores:
Mostraremos, a seguir, o cruzamento dedados entre os dois experimentos. Para isso,comparamos as categorias de modelos or ga ni-zadores aplicadas pelos su jeitos dos diferentesgrupos (diferentes estados emocionais) ao re-sol ve rem os con fli tos mo ra is cen tra dos na pers -pectiva deontológica (experimento 1) e naperspectiva cognitivo-afetiva (experimento 2).O gráfico 1, a seguir, mostra a distribuição per -centual dos su jeitos que apli ca ram a mes ma ca -tegoria de mode los organizadores (A e A ou B eB) e categorias de modelos organizadores di fe-rentes (A e B ou B e A) nas duas perspectivas,conside rando seus diferentes estados emo ci o-
nais. Buscamos, com isso, identificar se o es-tado emocional das pessoas também podeinfluenciar seu raciocínio em diferentes pers-pectivas.
Análise dos dados:
Ampliando os métodos e concepções depesquisas experimentais que estudam as re la-ções entre mo ralidade e emoções em históriashipotéticas, essa pesquisa utilizou uma me to-dologia que permitiu identificar e ana lisar ainfluência que o estado emocional exerce noraciocínio moral e na organização do pen sa-mento dos su jeitos, não se limitando a es tu-
dar a atribuição de emoções. Consideramosesse fato como promissor para a abertura denovos campos de investigação sobre o papeldos sentimentos e emoções no funci o na men-to psíquico e, consequen temente, para o es-tudo da moralidade.
Nos resultados apresentados, se o con-flito moral é abordado desde uma pers pectivadeontológica ou cognitivo-afetiva, ve ri fi ca-mos que é muito diferente a influência dos estados emocionais na organização do pen sa-mento dos su jeitos.
Podemos verificar que, enquanto agrande maioria dos su jeitos que experienciouestados emocionais positivos (90%) aplicamodelos organizadores semelhantes (A e A ou
148 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
GRÁFICO 3: Distribuição dos su jeitos que aplicaram a mesma categoria de
modelos organizadores e categorias de modelos organizadores diferentes nas duas perspectivas.
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 13/17
B e B) para resolver os conflitos sob diferentespers pectivas (deontológica e cog ni ti vo-afe ti-va), no caso do grupo negativo esse percentu alcai para 50%. Esse dado deixa claro que o es ta-do emocional, de fato, influenciou a forma pormeio da qual os su jeitos organizaram seuraciocínio.
Outro aspecto relevante da pesquisa foique, na pers pec ti va cogni t i vo-afetiva , quandoquesti onamos sobre os sentimentos, dese jos epensamentos da personagem, embora não lhestenhamos pergunta do sobre ação, todos os su- jeitos lhe atribuíram, espontaneamente, pos sí-veis condu tas em relação ao transgressor:
retraimento ou ajuda. Isso deve-se ao fato de opapel da professora (com seus diferentes sig ni-fi cados) ter sido um elemento abstraído por todos os professores e professoras que par ti ci-param dessa investigação.
Com isso, fica evi denciado que o su jeitoao organizar um modelo de pensamento podeincorporar elementos em seu raciocínio quenão figuram nem no texto do conflito que lhefoi proposto nem na pergunta que lhe foi apre-sentada. De acordo com os pressupostos da Teoria dos mo de los or ga ni za do res, o ser hu ma-no pode incorporar em seu raciocínio ele men-tos que não figuram na realidade. Ou seja, nemtodos os ele men tos que fi gu ram no mo de lo têmseu referente na rea lida de sobre a qual se apli-ca, já que o su jeito pode imaginar elementosinexistentes por meio de inferências e con si de-rá-los tão ou mais relevantes que os elementos
claramente expli citados no texto do problema.No caso específico, estamos nos referindo aospossíveis comportamentos atribuídos pelos su- jeitos à protagonista, aspecto não questionadopor nós.
Analisando os dados relativos aos sen ti-mentos que os su jeitos atribuíram à pro ta go-nista da história, foi interessante perceber queem todos os modelos organizadores aplicadospelos noventa su jeitos da pesquisa os sen ti-mentos atribuí dos à professora eram ne ga ti vos,como im po tên cia, an gús tia, hor ror, tris te za, in -
segurança, medo e preocupação. No entanto,a gran de ma i o ria dos su je i tos (90%) que ex pe -rienciaram previamente emoções positi vas,apesar de atribuírem a ela sentimentos ne ga-tivos, ao estabelecerem as implicações e/oure la ções com os ou tros ele men tos abs tra í dos eseus respectivos significados, organizaramseu raciocí nio sugerindo uma conduta à pro-fessora coerente com o que acre ditam ser odever desta personagem, man tendo a mesmacategoria de modelos de orga nização do pen-samento.
Em suma, parece-nos que os su jeitossob um estado emocional positivo situam a
conduta da protagonista em um universo, noqual não há con tradições entre seus dese jos eseus deveres. Assim, tan to na perspectiva de-ontológica, em que respondem sobre o quede ve ria fa zer a pro fes so ra, quan to na pers pec -tiva cognitivo-afetiva, que respondem sobreseus dese jos, mantêm uma grande coerênciana forma de organizar seu raciocínio. Ao con -trário, para os su jeitos em estado emocionalnegativo es ses dois uni ver sos, de de se jos e de -veres, são vistos de forma dicotômica. Ten-dem a não manter a mesma coerência quandoanalisam os deveres e dese jos da professora.
Apesar de os su je itos atri buírem à pro-tagonista da história os mesmos sentimen tos(negativos), os dese jos atribuídos a ela sãomuito di ferentes, dependendo do estadoemocional que se encontravam no momentode analisar o conflito. Parece-nos que os su je i-
tos su postamente alegres e/ou satisfeitos nãocompreendem que a professora deveria en ca-rar o conflito vivido somente como um devermoral que tinha de re solver, mas tambémcomo uma necessidade própria que ajudaria oaluno e a levaria ao bem-estar. Vemos essaforma dos su jeitos do grupo positivo or ga ni-zarem o pensamento coerente com a éticaaristotélica, segundo a qual a moralidade estána busca virtuosa da feli cidade, do bem .
Concluindo esta análise, temos duasconsiderações a fazer. A primeira é que, ao
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 149
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 14/17
es tu dar como o es ta do emo ci o nal atua na or ga -nização do pensamento humano, vimos comoele pode se constituir em força motivacionalética, que possibilita uma integração entre osde se jos e os de ve res ine ren tes às nor ma ti vas so -ciais. Assim, entendemos que o pensar e o sen-tir são ações indissociáveis.
A segunda consideração refe re-se ao pa-pel funcional dos sentimentos na organizaçãodo pensamento. Nossa pesquisa demonstra quea afetividade influencia de maneira sig ni fi ca ti-va a for ma pela qual os se res hu ma nos re sol vemos conflitos de natureza moral. Assim como aorganização de nossos pensamentos influencia
nossos sen ti men tos, o sen tir tam bém con fi gu ranossa forma de pensar. Com isso, o papel daafetividade deixa de ser apenas motiva cionalno funcionamento psí qui co, as su min do um pa -pel também organizativo.
M o r a l id a d e , s e n t im e n t o s e
e d u c a ç ä o
Integrar l o que amamos con lo que pen samos
es traba jar a la vez razón e sent imi entos; su-
pone elevar estos úl t imos a la categoría de ob-
jetos de conocimi ento, darles exi stencia
cogni t i va, ampl iando así su campo de acción.
Moreno, M .
Abordaremos, afinal, as implicações des-te trabalho para a educação, que é nosso cam-po de atuação profissional e o campo de onde
nossos dados foram coletados.A partir da discussão feita, fica evi den ci a-
da a necessidade de pensarmos uma escola emque os estados emocionais dos profissionais queali trabalham se jam positivos, baseados na ale-gria, na felicidade e na satisfação interna, paraque possam desempenhar de maneira eficienteseu papel de educadores, tendo como ob jetivolevar seus alunos e suas alunas a construírem acapacidade moral autônoma de resolver os con-flitos do cotidiano. Este trabalho, porém, podenos levar a outras considerações educacionais.
Primeiro, devemos pensar em um tra ba-lho de educação moral que se ini cia com o pró -prio grupo de professores e professorasconstruindo sua auto-estima, sua au to con fi-ança e sua capacidade de autoconhecimento.A valorização dos talentos pessoais por meioda estruturação de políticas educacionais quere co nhe çam as ha bi li da des e in te res ses de cadaprofissi onal é um caminho nessa direção.Ações que solicitem a reflexão docente sobreaqueles valores considerados como uni ver sal-
men te de se já ve i s (Puig, 1998), e que per me i ammuitas das relações escolares cotidianas, é outra perspectiva. Atividades como as que re a-
lizamos com o gru po posit i vo desta in ves ti ga-ção podem ser uma referência para a tentativade cri ação de um ambi ente escolar basea do emsentimentos como satisfação, alegria, agradoou felicidade. Tal ambiente parece propiciarcondições para que os membros da co mu ni da-de escolar organizem seus pensamentos a partir de valores morais como solidariedade,generosidade e responsabilidade.
Acre di ta mos que es sas pos sam ser açõespossíveis de serem encampadas como pri o ri-dade nas escolas e estendidas a toda a co mu-nidade. É evidente que, com essa idéia, nãoestamos negando outros aspectos que devemcontemplar um programa de educação moralmais amplo, mas acrescentamos que este tipode experiência pode enriquecer os ob jetivospropostos por educadores que buscam aconstrução de comunidades escolares mais
justas e solidárias.Em se gun do lu gar, ve mos a im por tân cia
de incluir definitivamente na pauta edu ca ci o-nal o tema da afetividade e das emoções.Estamos nos referindo ao pressuposto de quea dimensão afetiva da personalidade precisaser trabalhada na escola, assim como tra ba-lhamos a matemáti ca, a língua, as ciênciasetc. Se nossas pesquisas nos levam a concluirque o funcionamento psíquico humano não écom posto somente pelos aspectos cog ni ti vos,mas que os sentimentos e emoções também
150 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 15/17
configuram nosso pensamento, por que pensarem uma escola que privilegia somente um des-tes aspectos?
O modelo educacional adotado por nos-sas escolas tem origem na Grécia Clássica (Mo-reno, 1997), e sabe-se que seus conteúdosforam seleci ona dos visando ao de sen vol vi men-to apenas da dimensão cognitiva. Não há nadaque justifique voltar-se a educação para so-mente este aspecto da natureza humana, des-considerando-se outros, como o da afetividade(Moreno et al., 1999, p.15). É preciso ter co ra-gem para mudar a educação formal e tornar oconhecimento dos afetos e emoções em con te ú-
dos a serem construídos por alunos e alunas.Como edu cadores, devemos nos com pro-
meter com a formação de jovens que, ao mes-mo tempo que conheçam os conteúdos daciência con temporânea, também re flitam, porexemplo, sobre os limites éticos da aplicaçãodessa ciência; pessoas conscientes de seu papelpara a construção de uma sociedade mais justae solidária; que saibam lidar com seus própriossen ti men tos e afe tos; e que sa i bam lu tar (vir tu o -sa men te) pela felicida de própria e das outraspessoas. Em suma, deve mos ob jetivar a for ma-ção de personalidades mora is.
Do ponto de vista da prática educativa,acreditamos que um dos caminhos possíveispara se atingir tais ob jetivos passa pela in ser-ção transversal de temáticas relacionadas à afe -tividade no currículo escolar. Nesse sentido,uma educação que tenha como ob jeto de cons -
tru ção de co nhe ci men tos tam bém os sen ti men -tos pessoais e inter pessoais, trabalhados naescola não como um apêndice e sim como umafinalidade da estrutura curricular, pode exem-pli fi car essa nova ma ne i ra de con ce ber a edu ca -ção. Abordar os senti mentos humanos comoum con te ú do es co lar, de for ma sis te ma ti za da, éalgo in só li to em nos sa re a li da de edu ca ci o nal .
No li vroFalemos de senti mentos : a afe ti -vi da de como um tema trans ver sal, Mo re no et al(1999) exem pli fi cam como pode ser or ga ni za doum programa curricular que atenda a esses
ob jetivos. As autoras afir mam que a edu ca çãoda afeti vidade pre ci sa le var em con si de ra ção avertente racional e emotiva dos conceitos efatos que os alunos e as alunas estão apren-dendo, dispondo de um plane jamento de ati-vidades e técnicas didáticas que incluam edetalhem os conteúdos e ob jetivos cur ri cu la-res específicos a cada uma delas.
Entendemos que um plane jamento di-dático e pedagógico elaborado a partir dessaconcepção de educação, e sua conseqüenterealização no cotidiano das salas de aula, po-derá levar alunos e alunas a construírem per-sonalidades mais autônomas, justas e
solidárias, e a serem mais consci entes de si ede seus próprios sentimen tos.
Concluindo, assumimos tal posição apartir dos dados da investigação que apre sen-tamos neste artigo. Parece-nos que vivenciaremoções positivas implica uma ma i or pos si bi li-dade das pessoas abstraírem ele mentos, atri-buírem significados e estabelecerem relaçõese/ou implicações semelhantes, mesmo quandose modificam as perspectivas dos conflitosapresentados. Em um mundo cada vez maiscon tur ba do, que co bra uma co e rên cia cada vezmaior dos profissionais da educação res pon sá-veis pela educação moral, conseguir manterprincípios coerentes na forma de raciocinar emface de dilemas de natureza moral, pode seruma arma poderosa na mão de educadoresconscientes de seu papel na sociedade. Tercomo característica pessoal a manutenção de
estados emocionais positivos, pessoas alegres,satisfeitas e felizes podem trazer conseqüên-cias benéficas para a educação e para os edu-candos de mane ira específica.
No outro extremo, pessoas infelizes,tristes, insatisfeitas com seu trabalho, ten de-rão a demonstrar maior instabilidade em suafor ma de re sol ver con fli tos de na tu re za mo ral.Esta instabilidade é característica da ano mia eda heteronomia moral e os reflexos daí de cor-rentes podem ser pre judiciais para a edu ca çãodas futuras gerações. Assim, trabalhos de
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.2, p. 137 -1 53, jul./dez. 20 00 151
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 16/17
educação moral voltados exclusivamente aodesenvolvimento de juízos e ações centradosno princípio de justiça podem não ser su fi ci en-tes para a estruturação da moralidade.
Entendemos que a partir das discussõesdeste artigo e de novas contribuições teóricasque vêm surgindo recentemente no campo daPsicologia Moral, devem surgir pesquisas queestudem como a educação moral pode ser pa u-tada em parâmetros distintos daqueles en con-trados nos dias de hoje, que têm comopressuposto prioritário o desenvolvimento e a
construção da capacidade racional da justiça.Sem negar a importância de tal construção,acreditamos que a educação deve pre o cu-par-se também com a constru ção e or ga ni za-ção da dimensão afetiva das pessoas. Oresultado desse modelo de educação, pen sa-mos, contri buirá para a formação de per so na-lidades morais que integrem em seus juízos esuas ações, ao mesmo tempo, os interessespessoais e coletivos. Personalidades que bus-cam o bem estar e a felicidade pessoal ecoletiva.
152 Va lé ria Amo rim Aran tes de ARA Ú JO. Cog ni ção, afe ti vi da de e...
R e f e r ê n c ia s b ib l i o g r á f ic a s :
ARAÚJO, Ulisses F. Conto de escola: a vergonha como um re gu lador mo ra l . São Paulo: Moderna; Campinas: Edi tora daUniversi dade de Campinas, 1999.
ARAÚJO, Valé ria A. A. M odelos organi zadores na reso lu ção de di lemas morais: um es tu do intercul tu ral com estu dantesbra si le i ros e c a ta lães. Bar ce lo na, 19 98 . Tese (Cre dits de r e cer ca). Fa cul tat de Psi co lo gia da Uni ver si tat de Bar ce lo na.
________. Estados de ânimo e os Modelos Organizadores do Pen sa men to: um estu do explora tó rio sobre a reso lu ção deconfli tos mora is . Barcelo na, 200 0. Tese (Douto ra do). Facul tat de Psicolo gia da Universi tat de Barcelona.
ARSENIO, W.F. & KRAMER, R. Vic ti mi zers and The ir Vic tim s: Chil dren ’s Con cep ti ons of t he M i xed Em o ti o nal Con se quen ces
of Moral Trans gres si ons. Child development , New Orleans, 63, p. 915-927, 1992.
CAMPBELL, R, & CHISTOPHER, J. Moral development theory: a cri ti que of i ts kant ian pre suppo si ti ons. Deve lopmenta l Re vi ew, vol .16 , n . 1 , p.1 -47 , 1996 .
GILLIGAN, Ca rol. La moral y la teori a . México: Fondo de Cultu ra Económ ica , 1985.
GILLIGAN, Carol et al . Mapping the moral do ma in. Boston: Harvard Press, 1988 .
KOHLBERG, Law ren ce. Esta di os m o ra les y mo ra li za ción. El en fo que cog ni ti vo- evolutivo. In: TURIEL, E. et al (orgs). El mu n doso cial en la mente infantil . Madrid: Al ian za Edito ri a l , 1989.
________. Essays on moral development . San Francisco: Harper and Row, 19 84.
________. Psicolo gia del desarrollo moral . Bilbao: De Desc lée , 1992 [1984] .
LA TAILLE, Y. de. Vergonha, a feri da moral. São Pau lo, 20 00 . Tese (L ivre-Docência) Institu to de Psicolo gia da USP.
LOURENÇO, O. Happy Vic ti m i zers and De on tic M o da lity. In: 2 9 TH M EETING OF THE JEAN PIAGET SOCIETY, 2 00 0 , M on t re al:Canadá.
MORENO MARIMÓN, M. Imagina ción y ciên cia. In: MORENO MA RIM ÓN, M. (comp). Ciência, aprendiza je y co m unicación.Barcelona: Laia, 1988 .
________. Te mas Transversa is: um ensi no voltado para o fu tu ro. In: BUSQUETS, M .D. et al. Te mas t ransversa is em
educação. São Paulo: Ática, 1997. p . 21- 59 .
7/23/2019 Cognição, Afetividade e Moralidade
http://slidepdf.com/reader/full/cognicao-afetividade-e-moralidade 17/17
Educação e Pesquisa São Paulo v 26 n 2 p 137 -1 53 jul /dez 20 00 153
________ . Sobre el pensa m ien to y otros sent im ien tos. Cuadernos de Pedagogia , Barcelona , 271 , p . 12 -20 , 1998 .
MORENO MARIMÓN et al. Conhecimento e mu dan ça: os mode los organizadores na construção do conheci men to. SãoPaulo: Moderna; Campinas: Edito ra da Universi da de de Campi nas, 2000.
MORENO MARIMÓN et al. Fa lemos de Sen t i men tos: a afet ividade como um tema t ransversal na es co la. São Paulo:
M oderna; Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 1999.NUNNER-WINKLER, G.; SODIAN, B. Chil dren’ s un ders tan ding of m oral emo t i ons. Child Development , 59 , p . 1323-1328.
1988 .
PUIG, J.M . A constru ção d a perso nali dade moral . São Paulo: Ática, 1998.
SASTRE, G. et al. El de re cho a ser y la au tor re n un cia: sus mo de los or ga ni za do res en la pre a do les cen cia. Ma drid: Edu ca cióny Sociedad, 1994.
SASTRE, G. et al. Interperso nal confl icts: sponta neous use of moral princ iples. (20 00 , no pre lo).
SELMAN, Ro bert. Uti l i za ción de es tra te g i as de ne go ci a ción in ter per so n al y ca pa cida des de co m u ni ca ción: una ex plo ra ciónclí ni ca lon gi tu di nal de dos adolescentes pertubados. In: R. HINDE et al. Rela t ions interpersonnelles et développement des savoir s . Friburg: Delval, 1988 .
________ . El de sa rrol lo soc iocognit ivo. Una guía para la práct ica educati va y c lí ni ca. In: TURIEL, E. et al (or gs). El m un do so ci al en la mente infanti l . Madrid: Al ian za Edito ri al , 1989.
Recebi do em 04.05.01
Aprova do em 07.06.01
Valéria Amorim Arantes Araújo é doutora pela Universidade de Barcelona na área de Psicologia Moral e, atualmente,docente junto ao Programa de Mestrado em formação de professores da Universidade de Uberaba.