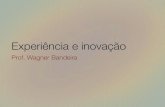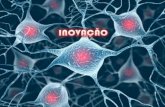Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
-
Upload
monica-zuffi -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
1/89Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
ARTIGOS
Informação e conhecimento na inovaçãoe no desenvolvimento local
Sarita Albagli
Doutora o em geogra a.Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro.
E-mai : sarita@i ict. r
Maria Lucia MacieSocióloga pela Universidade de Brasília.
Doutora em socio ogia pe a Université e Paris.
E-mail: [email protected]
Resumo
O trabalho discute as dimensões espaciais e socioinstitucionais
os processos e geraç o e compart amento e
con ec mentos espec a mente os t c tos , que n uem na capac a e novat va oca , com n ase no pape a
terr tor a a e e o cap ta soc a . n cam-se a gumas p stas
para o esenvo v mento e par metros e nstrumentos e
pesqu sa emp r ca que perm tam ncorporar ta s mens es na
an se a n m ca novat va oca . ugere-se,
ao na , uma agen a e pesqu sa que perm ta prossegu r no
apro un amento e e uc aç o as quest es trata as no tra a o.
a avras-c ave
Conhecimento tácito; Inovação; Desenvolvimento
oca ; ap ta soc a ; err tor a a e.
Information and knowledge in
innovation and local development Abstract
s ar t c e scusses spat a , soc a an nst tut ona mens ons
involved in the product ion and sharing of (spec ially tacit)
now e ge t at n uences oca nnovat ve capac ty, emp as z ng
t e roe o terr tora ty an soca cap ta. ome suggest ons
are ma e or t e eve opment o parameters an nstruments
or emp r ca researc , w c a ow t e ncorporaton o t ese
mens ons n t e ana ys s o oca nnovat ve ynam cs.
e conc u ng secton proposes a researc agen a
a m ng at eepen ng an e uc at ng t ese ssues.
eywor s
ac t now e ge; nnovat on; oca eve opment;
Social capital; Territoriality.
INTRODUÇÃO
Nas transformações em curso desde as últimas décadas dosécu o XX, projeta-se o pape estratégico a in ormaçãoe o con ecimento em i erentes imensões a vi a emsociedade. Um aspecto que é hoje objeto de crescenteatenção nesse e ate iz respeito à in issocia i i a eentre as inâmicas cognitiva, in ormaciona , inovativae socioespacial.
Este artigo parte do reconhecimento de que a produção,a socia ização e o uso e con ecimentos e in ormações,assim como a conversão estes em inovações, constituem
processos socioculturais e que tais práticas e relaçõesinscrevem-se no espaço e na própria pro ução o espaço,em suas várias esca as.
Boa parte da iteratura mais recente su in aespecificamente a importância do conhecimento tácitocomo onte e inovação e competitivi a e, em como opape as interações ocais na pro ução e na i usão esseconhecimento (Lundvall, 2002; Patrucco, 2003; Albagli;Macie , 2003). Daí a conexão entre esse e ate e noçõescomo as e capita socia , territoria i a e, re es, em
como das chamadas aglomerações produtivas – distritosin ustriais, c usters, mi ieux innovateurs, arranjos e sistemasprodutivos e inovativos locais.
Há, no entanto, acunas no senti o e se e inireme desenvolverem metodologias e instrumentos depesquisa que emonstrem empiricamente a re evância
os uxos ocais e con ecimento para a inovação eque evidenciem os fatores socioespaciais que interferemnesses uxos.
Este artigo procura primeiramente evidenciar asimensões espaciais e socioinstitucionais a pro ução
e difusão de conhecimentos e inovações, com base narevisão e síntese interpretativa a iteratura. Em segui a,in icam-se a gumas pistas para o esenvo vimento eparâmetros e instrumentos de pesquisa empírica quepermitam incorporar tais dimensões na aná ise dadinâmica inovativa local, particularmente no que tangeà pro ução e ao comparti amento e in ormações econ ecimentos. Nas considerações nais, sugere-seuma agenda de pesquisa que permita prosseguir noapro un amento e e uci ação as questões trata as
no tra a o.
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
2/810 Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Sarita Albagli / Maria Lucia Maciel
DIMENSÃO SOCIOESPACIAL
A importância a in ormação e o con ecimento nomundo contemporâneo tem sido usualmente associadaao desenvo vimento das tecno ogias de in ormaçãoe comunicação (TICs), que, nas ú timas décadas,transformaram as formas de produzir e distribuir bens
materiais e imateriais, assim como as percepções deespaço e de tempo. Daí que, em diferentes abordagensso re o que me or caracteriza e istingue o cenárioatua , á c aramente ên ase tanto nessa dimensãotecnológica, quanto nos aspectos econômicos que lhesestão su jacentes.
Mas, contrariamente à noção de que as novas TICsrepresentam o dec ínio da importância da dimensãoterritorial, as atuais mudanças técnico-econômicas, ditas“g o a izantes”, têm si o acompan a as a va orização as
i erenças socioespaciais. Ante as novas tecno ogias, que
alimentam os processos de globalização, o local redefine-se, gan an o ensi a e “comunicaciona ” e técnica, tantocomo nó as re es e comunicação g o a , quanto pe asua dinâmica interna.
Ampliação das redes telemáticas demonstrou também nãoser su ciente para incorporar os iversos países, regiões esegmentos sociais ao novo pa rão. As TICs ornecem a asetécnica para os novos modos de reprodução e valorização
o capita – seja o capita nanceiro, trans orma o empura in ormação, seja o capita pro utivo –, ao permitirem
a flexibilização do aparato técnico e do trabalho e aovia i izarem a pro ução e a circu ação e um conjunto e ensinformacionais de ágil produção, comercialização e consumo.Não necessariamente, porém, promovem maior socia izaçãoe con ecimentos estratégicos, nem evitam o crescente
agravamento das desigualdades sociais e territoriais.
Neste contexto, veri ca-se, no e ate atua so re essestemas, uma relativa convergência em torno dos seguintespontos: (a) a istinção entre os conceitos e in ormação ede conhecimento e o acesso aos mesmos (Lundvall, 2002);( ) a maior importância re ativa o c ama o con ecimento
tácito iante o con ecimento co i ca o, istinção estaintroduzida por Michael Polanyi, na década de 1950, aoassina ar que o que sa emos é mais o que conseguimosdizer ou descrever, sendo recentemente popu arizadapor Nonaka e Takeuhi (1997); (c) o reconhecimento
e que as novas TICs, ain a que proporcionan o maiordifusão de informações e conhecimentos codificados, nãoimpe em a concentração espacia e socia os mesmos(A ag i, 1997).
Recon ece-se, o mesmo mo o, que o con ecimento
é socia mente mo dado, possuindo não apenas uma
imensão temporal/histórica, mas também espacial/ territoria . Ain a que se possa azer re erência a umonceito genérico e con ecimento, os con ecimentosão específicos e diferenciados. Em um mesmo contextoconômico e sociocu tura , o con ecimento i erencia-e, segundo áreas e comunidades de especia istas;egmentos e agentes econômicos; segmentos e grupos
ociais; empresas e organizações; conste ações regionaisredes sociais e produtivas (Foray, 2000; Albagli eacie , 2003).
conhecimento tácito, em particular, geralmente encontra-e associa o a contextos organizacionais e territoriaisspecí cos, sen o transmiti o e esenvo vi o por meio e
interações locais (Polanyi, 1966). E, considerando a maioraci i a e e isseminação e con ecimentos co i ca osor meio das TICs, o conhecimento tácito é consideradoi erencia ásico e competitivi a e, assim como umaas principais ontes e inovação.
circu ação do con ecimento entre contextosi erencia os, passan o e tácito a co i ca o e vice-ersa, envolve processos de “desterritorialização”,uan o é escontextua iza o, e e “reterritoria ização”ou “recontextualização”), “que inclui o processo de
apren iza o e se imentação, quan o o con ecimentoe enraíza no território” (Yogue , 1998, p.4).
capaci a e e gerar, e a aptar/recontextua izar e eap icar con ecimentos, e acor o com as necessi a es e
specificidades de cada organização, país e localidade, é,ortanto, centra . Desse mo o, tão importante quanto aapacidade de produzir novo conhecimento é a capacidadee processar e recriar con ecimento, por meio e processose apren iza o; e, mais ain a, a capaci a e e convertersse conhecimento em ação, ou, mais especificamente, em
inovação. Isso é particu armente re evante no caso e paísesm esenvo vimento. Importa so retu o compreen erconhecer “os mecanismos endógenos de criação de
ćompetênciaś e e trans ormação e con ecimentosenéricos em específicos” (Yoguel, 1998:4).
apren iza o, por sua vez, não se imita a ter acessoa informações; consiste na aquisição e construção de
i erentes tipos de con ecimentos, competências ea i i a es. A in ormação serve un amenta mente àirculação ou transporte de conhecimentos (Latour, 1987),as não necessariamente gera con ecimento; não é, por si
ó, capaz de alterar estruturas cognitivas. O aprendizadoeve ser pensa o como re ação socia , como um processom que “as pessoas não só são participantes ativos narática de uma comunidade, mas também desenvolvemuas próprias i enti a es em re ação àque a comuni a e”
Hi ret e Kim e, 2002, p. 23).
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
3/811Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Informação e conhecimento na inovação e no desenvolvimento local
Esse debate reflete também a afirmação de um conceitomais a rangente e inovação para a ém a inovaçãotecno ógica. Nesse, va oriza-se não apenas o con ecimentoformalizado e dito avançado (conhecimento científico-tecno ógico), mas tam ém o con ecimento não-orma izado, construído nas práticas econômicas e
socioculturais (Lall e Ghosh, 2002) – os conhecimentos de
in iví uos, em seus papéis e tra a a ores, consumi orese cidadãos, de organizações públicas e privadas, depopu ações, comuni a es e povos tra icionais, entreoutros grupos e segmentos. Em contraparti a, oa partedo próprio conhecimento científico também é tácita,assim como o ito con ecimento prático po e ser, emparte, co i ca o.
Cada oca ou região dispõe assim de di erentescombinações de características e bens coletivos– ísicos, sociais, econômicos, cu turais, po íticos,institucionais – que in uenciam sua capaci a e e
produzir conhecimento, de aprender e de inovar. E,no sistema e re ações que con iguram o am ienteoca , a imensão cognitiva os atores – expressa em
sua capacidade de tomar decisões estratégicas e em seupotencia e apren iza o e inovação – é eterminantede sua capacidade de capitanear os processos decrescimento e mu ança, ou seja, e esenvo vimentooca (Barquero, 1999).
Nessas interações ocais, esenvo ve-se um con ecimentoco etivo, o qua é i erencia o e esigua mente istri uí o,
podendo ou não constituir importante fonte de dinamismopara aque e am iente. Esse con ecimento co etivo nãocorresponde simplesmente à soma de conhecimentos dein iví uos e organizações; resu ta as sinergias gera as apartir os vários tipos e interação; e a tera-se inc usive nasua interseção com a circulação globalizada de informaçãoe con ecimento.
As chamadas aglomerações produtivas, científicas,tecno ógicas e/ou inovativas – tai s como distritosindustriais, luster , milieux inovadores, arranjos produtivosocais, entre outros (Cassio ato e Lastres, 1999) – sãoconsi era as am ientes propícios a interações, à trocade conhecimentos e ao aprendizado, por meios diversos,tais como a mo i i a e oca e tra a a ores; re esormais e in ormais; existência e uma ase socia e
cultural comum que dá o sentido de identidade e de‘pertencimento’.
A oca ização ou proximi a e espacia aci ita maiorinteração e comunicação, mas não é, por si só, umfator determinante para tal – são necessárias tambémcondições institucionais e sociocu turais que as
avoreçam.
DIMENSÃO SOCIOINSTITUCIONAL
As características sociais e po íticas ocais constituementão aspecto central para a ampliação da capacidadeinova ora.
A difusão e o compartilhamento de informações e
con ecimentos requerem que os atores estejam conecta os, quehaja canais ou mecanismos de comunicação que propiciem osvários uxos e con ecimento e o apren iza o interativo.
Estudos mostram evidências da existência de umacorre ação entre a presença e re ações cooperativas, a
iversi a e e mecanismos e comunicação entre agentesdiferenciados e o desempenho inovador das empresas(Patrucco, 2003). Demonstra-se que (1) organizaçõese agentes que cooperam introduzem maior número deinovações o que os que não cooperam e que (2) o graude inovação aumenta com a variedade de parceiros
comunicando-se e cooperando em rede.
A p ura i a e e agentes contri ui para que sejam gera asessas várias oportunidades de comunicação. Do mesmomo o, a p ura i a e e istintas, mas comp ementares,relações cooperativas – mais do que a concentração emum tipo ominante e interação – é uma as principaisontes e inovação.
Supõem-se, ain a, um contexto socia e comunicação e aexistência e có igos comparti a os e recon eci os pe os
sujeitos da comunicação. Estes se inserem em condiçõesexp ícitas (envo ven o sím o os e sinais) e tácitas (suatrajetória individual, o contexto cultural), seu capitalsim ó ico e cu tura (Bour ieu, 1989) suas competênciasingüísticas (capaci a e e compreen er os termos a
linguagem) e enciclopédicas (conhecimento em relação aoconteú o a mensagem) (S ez, 1996). Con orme assina a opor S ez (1996:5),
sa er so re o qua a comunicação as in ormaçõesvai incidir já existe e serve para interpretá-la. Masste sa er é, natura mente, orma o por mensagens
anteriores, gera as por uma apren izagem sociavindas de uma herança cultural, irrigada pelas
xperi ncias pessoais.
Ganha importância assim compreender e promover ascon ições que propiciem a con guração e um sistema ecomunicação múltiplo, favorecendo a interação e a cooperaçãooca , em como a i usão e o intercâm io e i erentestipos e in ormações, con ecimentos e inovações.
Nesse senti o, projetam-se as noções e territoria i a e
e e capita socia .
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
4/812 Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Sarita Albagli / Maria Lucia Maciel
A noção de territorialidade procura evidenciar asinter aces entre as imensões territoria e sociocu tura .Territoria i a e re ere-se às re ações entre um in iví uoou grupo social e seu meio de referência, manifestando-se nas várias esca as geográ cas – uma oca i a e, umaregião ou um país – e expressan o um sentimento epertencimento e um modo de agir em um dado território.
A territoria i a e re ete o vivi o territoria em to a suaabrangência e em suas múltiplas dimensões – cultural,po ítica, econômica e socia . E a se esenvo ve a partir
a coexistência os atores sociais em um a o espaçogeográfico, engendrando um sentimento de sobrevivência
o co etivo e re erências sociocu turais comuns, ain aque consi era a a iversi a e e interesses a i presentes.A territorialidade, como atributo humano, é primariamentecon iciona a por va ores e normas sociais, que variamde sociedade para sociedade, de um período para outro.A territoria i a e não tra uz, portanto, apenas uma re açãocom o meio; e a é uma re ação triangu ar entre os atores
sociais mediada pelo espaço (Albagli, 2004).
O conceito e capita socia , que se i un e particu armentedesde a década de 1990, expressa o reconhecimentoe a va orização de recursos em utidos em estruturassociais, até então não contabilizados por outras formas decapita . Contrariamente à visão a economia neoc ássica,que supõe uma raciona i a e estritamente econômica eindividual, entende-se, dessa perspectiva, que os atoreseconômicos não são átomos iso a os, mas encontram-seimersos ( m e e )* m re ações e estruturas sociais.
O conceito e capita socia surge no âm ito a socio ogia.Sua origem remonta aos trabalhos de Pierre Bourdieu(1980), James Co eman (1988) e Ro ert Putnam (1993),sen o compreen i o como o conjunto e instituiçõesformais e informais, normas sociais, hábitos e costumes quea etam os níveis e con ança, so i arie a e e cooperaçãoem um grupo ou sistema socia (A ag ieMacie , 2003).Na literatura sobre o tema, predomina atualmente aversão ang o-saxônica, que perce e capita socia comosinônimo de consenso normativo, favorecendo o espíritocívico expresso em uma rica vi a associativa, en atizan o
ortanto as funções do capital social como fator de coesãoa socie a e e e inamismo econômico. A socio ogiarancesa, por sua vez, estaca, nessa iscussão, as re açõese poder, conflito e desigualdade inerentes às estruturasociais, argumentan o que o capita socia , como to as asutras formas de capital, reflete essas desigualdades.
ntende-se que o capita socia propicia (Lin et a ii,2001):
maior aci i a e e comparti amento e in ormaçõesconhecimentos, bem como custos mais baixos, devido
a re ações e con ança, espírito cooperativo, re erênciasociocu turais e o jetivos comuns;
me or coordenação de ações e maior esta i idaderganizacional, devido a processos de tomada de decisãoo etivos;
maior conhecimento mútuo, ampliando arevisi i i a e so re o comportamento os agentes,eduzindo a possi i idade de comportamentosportunistas e propiciando maior compromisso eme ação ao grupo.
e conce i o como processo inâmico e re ações sociaism re es nas quais se constrói o con ecimento tácito,capital social está intimamente ligado ao aprendizado
interativo e à cooperação, po en o ain a aci itar as açõeso etivas gera oras e arranjos pro utivos articu a os. Os
ecursos imateriais ou intangíveis, presentes nas redesociais, quan o ireciona os para um es orço conjuntoe desenvolvimento, convergem no que Hubert Schmitz2000) c amou e “e ciência co etiva”, envo ven o umomp exo e interações sociais ocais, que propiciam arodução e reprodução de conhecimento tácito, catalisandorocessos e inovação e i usão.
ARÂMETROS DE PESQUISA EMPÍRICA
entendimento dessas complexas relações colocaovas questões nos campos conceitua e meto o ógico,eman an o instrumentos capazes e veri car e ava iars processos e a intensidade da circulação de informaçõescon ecimentos, em como seu pape para o inamismo
ocioeconômico oca .
os ú timos anos, a iteratura especia izada** vemapontando o alcance limitado de indicadores deon ecimento e e inovação tra iciona mente uti iza os,
tais como gastos em pesquisa e esenvo vimento, número
* A i éia e em e e ness oi primeiramente esenvo vi a por Kar Po anyi,em 1944, em sua obra The Great Transformation, da seguinte forma:“T e uman economy [...] is em e e an enmes e in inst itutions,economic an noneconomic. […] re igion or government may e asimportant to the structure and functioning of the economy as monetaryinstitutions or the availability of tools and machines themselves thatig ten t e toi o a or” [citação e Po anyi, Ares erg an Pearson (1957),
(Sme ser e Swe erg, 1994)]. Posteriormente Mar Granovetter, na in ada “sociologia econômica”, usou o conceito para argumentar que a açãoeconômica está incrustada ( mbedded) na estrutura social e na cultura.Ver: Granovetter (1973). “T e strengt o wea ties”. American Journa oSocio ogy, 78/4, 1350-80; Granovetter (1985). “Economic action an sociastructure: the problem of embeddedness”. American Journal of Sociology,
91, 3 (Novem er):481-51
* Ver, por exemplo, Foray (2000), Lall e Ghosh (2002), Lundvall (2002),
CDE (2001).
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
5/813Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Informação e conhecimento na inovação e no desenvolvimento local
de patentes e de inovações e dados relativos à educaçãoorma ( ip omas e certi ca os). A guns consi eram
inc usive que a esco a esses in ica ores, e não eoutros, resulta menos de uma reflexão metodológicaso re sua pertinência e mais a maior isponi i i a ede certos dados e in ormações (Yogue ,1998). Taisunidades de medida, embora fundamentais, não são
consi era as oje su cientes para uma ava iação osesforços e resultados dos processos de aprendizado ee geração e uso e con ecimentos, já que re etemasicamente os aspectos ormais da inovação e do
aprendizado. A produção de qualquer produto ou serviçopo e resu tar em apren iza o e gerar con ecimento,mesmo que esse não tivesse si o o o jetivo inicia .A dificuldade reside justamente em captar e avaliar os
uxos e con ecimento tácito, especia mente aque esgerados de maneira não intencional.
Outro aspecto não adequadamente contemp ado
pelos indicadores tradicionais refere-se ao fluxo decon ecimentos, crucia quan o se parte o princípio
e que a construção o con ecimento é um processosocial.
Por outro lado, a existência de um ambiente ou deum espaço pú ico propício à interação e à di usãode in ormações e con ecimentos não imp icaautomaticamente sua plena incorporação pelo conjuntodos agentes que ali se situam. preciso examinar acapaci a e e a competência interna e ca a in iví uo
e organização interagir e capitalizar os benefíciosessa interação, ou seja, sua capaci a e e via i izar ainterlocução com outros indivíduos e organizações e deapren er com essa inter ocução.
Identificam-se dois grandes tipos de estudos empíricosso re processos de interação e cooperação (Foray,2000). Um conjunto privi egia estudos de casos,apresentando descrições detalhadas sobre esses processos.Essa a or agem resiste a genera izações, em comoà codificação e à estratificação de informações em
escritores, argumentan o que a co i cação estatística
muti a, corta e re uz, per en o a visão e conjunto.Outro tipo de estudo é fundamentalmente estatísticoe supõe a possi i i a e e genera izar, ou in erir, comdeterminado grau de con a i idade, con ecimentoaplicável ao todo.
O desafio que nos colocamos é, portanto, definir anatureza as re ações ocais que pro uzem resu ta ossocioeconômicos propícios ao esenvo vimento asea o noconhecimento, no aprendizado e na inovação, procurandoconstruir novos instrumentos e pesquisa empírica capazes
de captar essas relações, seus canais e seus fluxos. Tais
instrumentos tornam-se ainda mais relevantes à medidaque su si iem a ormu ação e po íticas e estratégias maisa equa as a contextos especí cos.
Como variáveis e parâmetros e aná ise, em estu osempíricos so re a dimensão socioespacia doconhecimento, inovação e aprendizado em âmbito local,
sugere-se o seguinte: a i enti icação e a caracterizaçãodos atores-chave; o mapeamento dos tipos, formase características as interações entre esses atores; averi icação o pape a proximi a e territoria , o pontode vista das práticas produtivas, da ação cooperativae as ontes e in ormação e e con ecimento para ainovação; as inter aces entre o arca ouço instituciona ,os níveis de capital social e a dinâmica cognitiva einovativa oca ; os canais, mecanismos e intensi a edos fluxos de conhecimento nas interações locais.
A primeira questão é i enti car e caracterizar os atores-
chave. A cooperação intencional, particularmente entreempresas, é a que tem predominado como o jeto deestu os. Mas a inovação oca não envo ve apenas empresase instituições de ensino e pesquisa, e sim uma pluralidade
e outros atores que tam ém etêm i erentes tipos econhecimentos e competências relevantes aos sistemaspro utivo e tecno ógico.
De modo esquemático, as interações locais podem envolveros seguintes atores: (a) agentes econômicos (c ientes,parceiros e competidores; ornecedores de insumos,
componentes, ou equipamentos; fornecedores de serviçostécnicos; matriz ou ia ); ( ) agentes e con ecimento(consultores; universidades e institutos de pesquisa); (c)agentes e regu ação (governos em seus vários níveis); (e)emais atores sociais (sin icatos, associações empresariais
organizações de suporte, organizações do chamado“Terceiro Setor”, entre outros). Os atores podem sertam ém caracteriza os como interno/externo ao contextosocioeconômico local; público/privado; conforme sua‘missão’ ou na i a e; pe a sua naciona i a e; entre outrascaracterísticas.
Identi cados os atores-c ave, trata-se de mapear ecaracterizar as diversas formas de interação dos atoresocais e esses com atores externos. Tais interações po emexpressar-se tanto em relações de competição e conflito,quanto em relações de confiança e parceria, em níveis
i erencia os. De mo o tipi ca o, tem-se:
• ação ou in uência recíproca, reqüentemente não-intenciona , ocasiona a a partir e contatos e re açõescom finalidades diversas e em situações diferenciadas(interação e vários tipos, em senti o amp o);
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
6/814 Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Sarita Albagli / Maria Lucia Maciel
• ação e/ou entendimento conjunto, para fins de interessecomum, por meios mais ou menos ormais (articu ação,cooperação, parceria);
• troca/permuta/transação e caráter comercia ou não(intercâm io de in ormações e idéias; apoio técnico;venda/aquisição de serviços e produtos).
A caracterização do tipo de interação requer aindain ormações so re o número e os tipos e atores envo vi os;motivações e o jetivos; proce imentos e mecanismos;freqüência, intensidade e duração; problemas e dificuldades
as interações.
Na escolha do parceiro ou interlocutor, influem aspectoscomo con ança, reputação, qua i cação (con ecimentotécnico), proximidade, identidade e estabilidadeinstituciona ou nanceira. Os pro emas e o stácu osà interação e, particu armente, à cooperação remetem,
em grande parte, à dimensão institucional (em sentidoamp o) e ao pape o capita socia .
É possível então diferenciar e caracterizar ambientes maispropícios à cooperação – em que se veri cam interaçõesregulares, numericamente expressivas e de maiorcomp exi a e, a ém e re ações ormais e in ormais ecooperação; e am ientes on e os víncu os entre os agentessão escassos e descontínuos, com poucas relações formaise in ormais e cooperação e ativi a es conjuntas.
O ambiente institucional como um todo, no qual asempresas interagem, repercute na capaci a e e inovação,a partir de uma “capacidade social” difusa, histórica ecu tura mente mo a a, e gerar e e apropriar-se enovos con ecimentos, em como e uti izá- os em avordo desenvolvimento local.
À GUISA DE CONCLUSÃO
A c amada era da in ormação e do con ecimento,embora assumindo uma dimensão global, expressa: (a)a i erenciação entre rea idades cu turais e projetosde sociedade, ou seja, entre comunidades territoriaise segmentos sociais diversos; (b) a esigualdade entresocie a es com istintas con ições e esenvo vimento,
em como entre segmentos de di erentes níveissocioeconômicos no interior de uma mesma sociedade.
A necessidade de melhor compreender essa diferenciaçãoe essa esigua a e, seus atores, possíveis es o ramentose perspectivas tem motivado a atenção à dimensãosocioespacial, para além da dimensão técnico-econômicastr cto sensu. Trata-se de compreender in ormação,
con ecimento e inovação como constructos sociocu turais
como constituintes e expressões da dinâmica político-instituciona , sen o, portanto, mo a os no tempo/ istória
no espaço/território.
esse senti o, noções como as e capita socia e eterritorialidade ganham espaço na reflexão sobre essestemas nas várias áreas do conhecimento, contribuindo
ara me or esven ar as i erenças entre os processose inovação e seus resultados em situações específicas.o entanto, veri ca-se que tais noções são vistas, ain a,
omo “externa i a es”: como contexto ou comp ementoa análise.
m síntese, na perspectiva por nós a ota a, não existem espaço informacional, cognitivo e inovativo autônomoe um espaço socia e instituciona , o mesmo mo o que
tais espaços adquirem e conferem contornos específicosm cen rios territoriais concretos.
al suposto deve também refletir-se nos instrumentose pesquisa empírica so re os processos e inovação e
apren iza o e ase territoria , ta como se o serva nosstudos sobre aglomerações produtivas, em suas váriaso a i a es.
ropomos então uma a or agem meto o ógica que situea aná ise nessa imensão socioespacia . Trata-se nãoapenas de identificar, distinguir e definir o ambienteinstituciona e cu tura especí co em questão, composto euas especi ci a es po íticas, sociais e econômicas. Mais
ue isso, é preciso desenvolver parâmetros e instrumentosteórico-metodo ógicos que permitam incorporar taimensão na própria pesquisa sobre a intensidade, ason ições, os o stácu os e os resu ta os a geração ei usão e in ormações e con ecimentos, no âm ito asiversas formas de interação no território.
Sugere-se assim a re evância de amp iar o escopo e aabrangência de análise para além dos indivíduos e organizaçõestoma os in ivi ua mente, para consi erar centra mente suasinterações, focando nos condicionantes e resultados dos fluxose con ecimentos entre os atores ocais e estes com atoresxternos e, particu armente, veri can o e ava ian o o papea proximidade territorial e da dinâmica socioinstitucional.g omerações pro utivas constituem cenário territoria
ropício à aná ise, já que são potencia mente espaçosrivilegiados de conhecimento, aprendizado e inovação
interativos. Não evem ser, no entanto, compreen i asapenas como espaços econômicos, mas sobretudo comoam ientes sociais em to a sua comp exi a e.
esse ponto de vista, a compreensão da dinâmicaognitiva e e inovação oca eve ocar a aná ise os
eguintes aspectos:
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
7/815Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Informação e conhecimento na inovação e no desenvolvimento local
a) os processos de geração, difusão e uso de conhecimentos,especia mente aque es eriva os as particu ari a es acu tura pro utiva oca , em como os con ecimentos so recom quem cooperar e interagir (know who);
) o con ecimento e o aprendizado resu tantes dasinterações locais, particularmente aqueles gerados de
mo o não-intenciona ;c) não apenas a cooperação orma mente esta e eci a,mas tam ém e principa mente os vários tipos e interaçãoinformal;
) o caráter sistêmico o apren iza o e a inovação,reconhecendo o papel de cada ator local para a geraçãoo con ecimento co etivo e e uma inte igência oca ;
e) os canais e comunicação entre os agentes, como parteessencia o sistema e inovação oca , e a iversi a e
institucional como fator crucial das oportunidades decomunicação;
f) os resultados não apenas para a competitividade dosagentes econômicos, mas tam ém e so retu o para odesenvolvimento socioeconômico local;
g) a capaci a e e ca a organização interagir e cooperar,bem como, a partir dessas relações, gerar conhecimentoe promover o apren iza o e a inovação.
A avaliação do papel do capital social e da territorialidade,como atores e cooperação, e comparti amento econhecimentos e experiências e de aprofundamento devíncu os entre os atores ocais, constitui um os principaisesa os essa aná ise.
Fina mente, ca e assina ar que esse e ate no campoteórico-meto o ógico imp ica importantes es o ramentosna proposição de políticas, particularmente as de cunhoterritoria , ante o recon ecimento da centra idadeda dimensão cognitiva dos processos e estratégias deesenvo vimento oca /regiona . Isso porque ca a território
é continente e con ecimento especí co e estratégico, ea sua desestruturação tem por conseqüência também a“ esconstrução” o con ecimento associa o.
Traçar tais políticas requer o conhecimento das condiçõesocais especí cas, suas carências e potencia idades,
conhecimento que pode ser obtido em pesquisas empíricastais como as sugeri as. Co oca-se então a centra i a ee recon ecer e capita izar os con ecimentos especí cos
de cada território. O conhecimento gestado a partir darea idade e das necessidades ocais é re evante tanto
para se o ter vantagem competitiva, trans orman o as
características e atributos específicos de cada territórioem va orização econômica, como tam ém para promoverpa rões e esenvo vimento mais sustentáveis, em termossociopolíticos, econômicos e ambientais.
Artigo rece i o em 25-10-2004 e aceito parapublicação em 29-03-2005.
AgradecimentosAgra ecemos o apoio o CNPq e a FARJ.
REFERÊNCIAS
ALBAGLI, Sarita. In orma ão e geopolítica contempor nea: o papel dossistemas de propriedade intelectual. Informare, v. 3, n. 1/2, 1997.
_______. G o a ização e espacia i a e: o novo pape o oca . In:
CASSIOLATO, Jos uar o; LASTRES, He ena M. M. G o a izaçãinova ão localizada: experi ncias de sistemas locais no Mercosul. Bras lia: IBICT/IEL, 1999.
_______. Territ rio e territoria i a e. In: LAGES, Viní ius; BRAGA,C ristiano; MORELLI, Gustavo. Territ rios em movimento: cu tura eidentidade como estrat gia de inserçã competitiva. Rio de Janeiro :Relume Dumar ; Brasí ia : Sebrae, 2004.
____ __; MACIEL, Maria L cia. Capita socia e esenvo vimento ocaIn: LASTRES, He ena M. M.; CASSIOLATO, Jos E uar o; MACIEL,Maria Lucia (Org.) Pequena empresa: cooperação e desenvolvimento local.
Rio de Janeiro : Relume Dumar , 2003. p. 423-440.
BARQUERO, Antonio V . esarro o, re es e innovaci . Ma ri: Pir mi e, 1999.
BOURDIEU, Pierre. Le capital social: notes provisoires. Actes de laRecherche en Sciences Sociales, n. 31, janv. 1980.
_______ Langage et pouvoir sim o ique. Paris : Seui , 1989.
BROWN, Thomas. Theoretical perspectives on social capital. ispon el em:http://hal.lamar.edu/~BROWNTF/SOCCAP.HTM .
CASSIOLATO, Jos uar o; LASTRES, He ena M. M. G o a izaçinova ão oca iza a: experi ncias e sistemas ocais no Mercosu . Bras ia: IBICT/IEL, 1999.
COLEMAN, James S. Social capital in the creation of human capital. American Journa o Socio ogy, n. 94, p. 95-121, 1988. Supp ement.
ERICKSON, C ristop er L.; JACOBY, San or M. T e e ect o emp oyernetworks on workplace innovation and training. [S. l.] : Industrial e LaborRe ations, .
FORAY, Dominique. C aracterising t e now e ge ase: avai a e anmissing indicators. In: ORGANIZA Ã PARA A COOPERAÇÃO EO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Knowledge management in theearning society. aris, .
GIDDENS, Ant ony. As conseqü ncias a mo erni a e. S Pau o :
Unesp, 1991.
GRANOVETTER, Mark. Economic action and social structure: thepro em o em e e ness. American Journa o Socio ogy, 1, n. 3, p.
481, Nov. 1985.
-
8/16/2019 Informacao e Inovacao No Desenvolvimento Local
8/816 Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 3, p.9-16, set./dez. 2004
Sarita Albagli / Maria Lucia Maciel
HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo : Loyola, 1993. 349 p.
HILDRETH, P. J.; KIMBLE, C. The duality of knowledge. Information
Research, v. 8, n. 1, 2002. Disponível em: .
INGLEHART, Ronald. Modernization and postmodernization: cultural,
economic and political change in 43 societies. Princeton : Princeton
University, 1997.
KRISTENSEN, Pre en S.; MADSEN, Pou T.; VINDING, An erL. Met o o ogy an ata co ection (1997-1998) in t e is o survey on
pro uct eve opment co a oration. Aa org, Dinamarca : University o
Aa org, 1999.
LALL, Somi V.; GHOSH, Su es na. Learning y ining: in orma networ s
an pro uctivity in Mexican in ustry: [S. .] : Wor Ban Deve opment
Researc Group, 2002. (Po icy researc wor ing paper, n. 2789).
LASTRES, He ena M. M.; LEGEY, Liz-Rejane I.; ALBAGLI, Sarita.
Indicadores da economia e sociedade da informação, conhecimento e
aprendizado In: VIOTTI, Eduardo B.; MACEDO, Mariano M. (Ed.).
Indicadores de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Campinas : Editora
da Unicamp, 2003. p. 533-578.
LATOUR, Bruno. cience in action. Stratfor : Open University, 1987.
LAURSEN, Keld; CHRISTENSEN, Jesper Lindgaard. The creation,
distribution and use of knowledge: a pilot study of the Danish innovation
system. Aa org, Dinamarca : University o Aa org, 1996.
LIN, N.; COOK, K.; BURT, R. (E ). Socia capita : t eory an researc .
New Yor : A ine e Gruyter, 2001.
LOCKE, R. Bui ing trust. In: ANNUAL MEETINGS OF THE
AMERICAN POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION, 2001. [S.I. :
s. n., 2001?].
LUNDVALL, B. A. Innovation, growt an socia co esion: t e Danis
mo e . C e t en am : E war E gar Pu is ing, 2002.
MACIEL, Maria Lucia. Ciência, tecno ogia e inovação: a re ação entre
con ecimento e esenvo vimento. IB, n. 54, 2003.
_______ Know e ge an eve opment a ternative perspectives an strategies
n POLITICAL AND ETHICAL KNOWLEDGE ON ECONOMIC
ACTIVITIES, 1., 2002, Santiago. [S. l. : s. n. 2002?].
_______. O milagre italiano: caos, crise e criatividade. Rio de Janeiro :
Relume Dumará; Brasília : Paralelo 15, 1996.
NARAYAN, D.; CASSIDY, M. A dimensional approach to measuring
social capital: development and validation of a social capital inventory.
Current Sociology, v. 49, n. 2, 2001.
ONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa:
omo as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação Campus :
io de Janeiro, 1997.
CDE. New science and technology indicators: STI Review, Paris, 2001.
pecia issue.
ATRUCCO, Pier Paolo. Institutional var iety, networking and knowledge
xc ange: communication an innovation in t e case o t e Brianza
tec no ogica istrict. egiona Stu ies, v. 37, n. 14, p. 159, Apr. 2003.OLANYI, Mic ae . e tacit imension. Lon on : Rout e ge e Kegan
au , 1966.
UTNAM, R. Ma ing emocracy wor : civic tra itions in mo ern Ita y.
rinceton : Princeton University,1993.
AFFESTIN, C au e. Por uma geogra a o po er. Rio e Janeiro : Za ar,
993.
EDESIST. Question rio comp eto: projeto arranjos e sistemas pro utivos
ocais e as novas po íticas e esenvo vimento in ustria e tecno ógico.
[S. l.], 2002. Disponível em: < http://www.ie.ufrj.br/redesist>.
ELIGSON, Mitchell A; RENNÓ, Lúcio R. Mensurando confiançainterpessoal: notas acerca de um conceito multidimensional. Dados, v.
3, n. 4, 2000.
FEZ, Lucien Informação, saber e comunicação. Informare – Caderno
o Programa de Pós-Graduação em Ci ncia da Informa ão, Rio de Janeiro,
. 2, n. 1, p. 5-13, 1996.
CHMITZ, Hubert. Clusters and chains: how inter-firm organisation
influences industrial upgrading. In: CASSIOLATO, José E uar o;
ASTRES, He ena M. M.; MACIEL, Maria Lúcia (Org.). Systems o
innovation an eve opment: evi ence rom Brazi . C e ten am, G.B
: [s. n.], 2003.
MELSER, Nei J.; SWEDBERG, Ric ar . T e socio ogica perspective on
t e economy. In: SMELSER, Nei J.; SWEDBERG, Ric ard. (Ed.). Han oo
economic socio ogy. Princeton : Princeton University, 1994.
OJA, E war . Postmo ern geograp ies. Lon res : Verso, 1989.
OOLCOCK, M. T e p ace o socia capita in un erstan ing socia an
conomic outcomes. n: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE
ONTRIBUTION OF HUMAN AND SOCIAL CAPITAL TO
USTAINED ECONOMIC GROWTH AND WELL-BEING, 2000,
uebec. [S. l.] : OECD/ Human Resources Development, [2000?].
YOGUEL, Gabriel. Desarollo del proceso de aprendizaje de las
rmas: los espacios locales y las tramas productivas. n: SEMINÁRIO
LOBALIZAÇÃO E NOVAÇÃO LOCALIZADA, 1998, Mangaratiba,
J. [S. l. : s. n. 1998?].