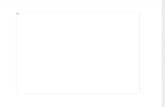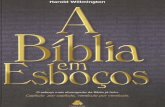Por amor ao real - esboços de uma busca pelo realismo na literatura - Rafael Saldanha
-
Upload
rafael-saldanha -
Category
Documents
-
view
56 -
download
21
description
Transcript of Por amor ao real - esboços de uma busca pelo realismo na literatura - Rafael Saldanha
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
Rafael Mófreita Saldanha
Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na literatura
Rio de Janeiro
2011
RAFAEL MÓFREITA SALDANHA
Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na literatura
Monografia apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Filosofia.
Orientador: Rafael Haddock-Lobo
Rio de Janeiro
2011
SALDANHA, Rafael Mófreita.
Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na literatura / Rafael Mófreita Saldanha – Rio de Janeiro, 2011. – 32 f.
Monografia (Graduação em Filosofia) –
Universidade Federal do Rio de Janeiro Orientação: Prof. Dr. Rafael Haddock-Lobo 1. Literatura 2. Realismo 3. James Wood 4. Roland Barthes
I. Haddock-Lobo, Rafael (orientador). II. IFCS/UFRJ. III. Filosofia IV. Título.
SALDANHA, Rafael Mófreita.
Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na literatura
Monografia apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Filosofia.
Grau:
Aprovado por:
____________________________________________________________
Professor Doutor Rafael Haddock-Lobo – Orientador
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - UFRJ
_____________________________________________________________
Professora Doutor Ulysses Pinheiro
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - UFRJ
_____________________________________________________________
Professor Doutor Fernando Rodrigues
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - UFRJ
Rio de Janeiro
2011
AGRADECIMENTOS
Agradecimentos são sempre difíceis demais, não só pela dificuldade de agradecer às pessoas certas,
mas da maneira certa. Tento aqui, portanto, dar conta dessa tarefa.
Em primeiro lugar preciso agradecer àquela que mais do que – perdoem-me a breguice, mas há
momentos que não há como fugir – ter me dado a vida, me dá todos os dias vontade de continuar buscando
exatamente aquilo que quero. Além de que, mamãe, em dias de semana, de meia noite até a hora que eu durmo,
não há companhia mais divertida do que a sua.
Ao meu pai que me ensinou, as vezes à contrapelo, que é preciso acreditar em si mesmo e que, se
certamente não se está só, é preciso fazer o que é seu.
Gostaria também de agradecer à minha irmã, que tem um papel muito mais importante do que ela pode
imaginar. Não é preciso falar, mas o companheirismo que tenho com você foi o que me ajudou a seguir adiante
em vários momentos.
Aos meus dois melhores amigos, Eduardo e Felipe que me ensinaram por que tanta gente na filosofia
fala de amizade. Amigos que há anos fazem o tempo correr mais rápido, que me fizeram aprender, há muito
tempo já, que não importa o quê, mas o como.
Aos amigos da Prosa Contemporânea 2.0, Antonio, Charbel, Leonardo, Rodrigo, Tamara, Tito e muitos
outros, que muito me ajudarem sem saber a escolher meu caminho pela literatura e me ensinaram que “a
literatura pode não mudar o mundo, mas nos dá amigos, e isso deve bastar.”
Ao Rafael, mestre e amigo, que desde o seu início no IFCS me acolheu na maior hospitalidade e a
despeito de todas as minhas dúvidas sempre me estimulou a percorrer o caminho para o qual ele via que eu
hesitava.
Ao Ulysses, presença que não se poderia prever, que aos 45 do segundo tempo, que com suas aulas e
conversas me animaram a permanecer na filosofia.
Finalmente gostaria de agradecer aqui àquela pessoa que me mostrou o caminho das nuvens que não
abandonei nunca mais e me fez largar todo aquele pesadume que um dia eu já julguei sábio. Su, meu amor,
obrigado por todo o carinho, obrigado por fazer da minha vida que eu não queira dizer outra coisa que não sim!
(e obrigado por revisar esse trabalho!)
If the book has a larger argument, it is that fiction is both artifice and verisimilitude, and that there is nothing
difficult in holding together these two possibilities. That is why I have tried to give the most detailed accounts of
the technique of that artifice – of how fiction works – in order to reconnect that technique to the world, as Ruskin
wanted to connect Tintoretto’s work to how we look at a leaf. As a result, the chapters of this book have a way of
collapsing into each other, because each is motivated by the same aesthetic: when I talk about free indirect style I
am really talking about point of view, and when I’m talking about point of view I am really talking about the
perception of detail, and when I talk about the detail I am really talking about character, and when I am talking
about character I am really talking about the real, which is at the bottom of my enquiries.
James Wood, How Fiction Works
I can enjoy a good story, but in a novel, which takes time to read, a good story is not enough for me. If I close a
book and there are no echoes, that is very frustrating. I like books that aren’t only witty or ingenious. I prefer
something that leaves a resonance, an atmosphere behind. That is what happens to me when I read Shakespeare
and Proust. There are certain illuminations or flashes of things that convey a completely different way of
thinking. I’m using words that have to do with light because sometimes, as I believe Faulkner said, striking a
match in the middle of the night in the middle of a field doesn’t permit you to see anything more clearly, but to
see more clearly the darkness that surrounds you. Literature does that more than anything else. It doesn’t
properly illuminate things, but like the match it lets you see how much darkness there is.
Javier Marías, The Art of Fiction n. 190
SALDANHA, Rafael Mófreita. Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na
literatura. Rio de Janeiro, 2011. Orientador: Rafael Haddock-Lobo. Monografia (Graduação
em Filosofia) – IFCS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 32 f.
RESUMO
Este trabalho tem como foco tentar pensar a literatura de um ponto de vista realista. A
questão que se busca explorar é de que maneira a literatura estabelece as suas relações com a
realidade. Para esses fins, escolheu-se dois autores que tratam a questão do realismo na
literatura sem que eles seja considerado uma simples questão de gênero ou de uma escola
específica (que seria composta por autores como Flaubert, Balzac, Dickens, etc.). O primeiro
autor abordado é James Wood em seu Como funciona ficção e a partir do capítulo final dessa
obra, que investiga o problema do realismo, procuraremos analisar uma tentativa
contemporânea de compreender a literatura como produção do real. Num segundo momento,
se voltará o olhar para a obra de Roland Barthes, com um foco em seu curso A preparação do
romance: da vida à obra, com vistas a tentar ler a experiência literária como uma experiência
de afecção do real.
Palavras-chave: Literatura. Realismo. James Wood. Roland Barthes.
SALDANHA, Rafael Mófreita. Por amor ao real: esboços de uma busca pelo realismo na
literatura. Rio de Janeiro, 2011. Orientador: Rafael Haddock-Lobo. Monografia (Graduação
em Filosofia) – IFCS, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 32 pages.
ABSTRACT
This essay is focused on thinking literature from a realist point of view. The question
which will be explored is how literature establishes its relations with reality. For these matters
two authors who address the question of realism in literature without it being considered a
simple matter of genre or literary school (which would have been composed by authors such
as Flaubert, Balzac, Dickens, etc.), were chosen. The first author which is brought up is James
Wood in his How fiction works, and in the last chapter of this book, which investigates the
problem of realism, we will seek to analyze a contemporary attempt to understand literature as
production of the real. In a second moment our eyes will turn to Roland Barthes’ work, with a
special focus on his lecture The preparation of the novel: from life to the work, in order to try
and read the literary experience as an experience of being affected by reality.
Keywords: Literature. Realism. James Wood. Roland Barthes.
SUMÁRIO
UMA QUESTÃO PESSOAL ................................................................................................. 10
1 O REALISMO DO LITERÁRIO PARA JAMES WOOD ............................................. 13
2 O “É ISSO” BARTHESIANO ........................................................................................... 19
UM FINAL PROVISÓRIO .................................................................................................. 30
REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 32
10
Uma questão pessoal
ESTRAGON: I had a dream.
VLADIMIR: Don’t tell me!
VLADIMIR: I dreamt that –
ESTRAGON: DON’T TELL ME!
ESTRAGON: [Gesture towards the universe.] This one is enough for you? [Silence.]
It is not nice of you, Didi. Who am I to tell my private nightmares to if I can’t tell
them to you?
VLADMIR: Let them remain private. You know I can’t bear that.
Samuel Beckett, Waiting for Godot
A ideia de falar da literatura como uma experiência do real não é algo que ocupou toda
a minha graduação. Ainda que a literatura estivesse presente durante todo esse percurso,
inclusive sendo muitas vezes fonte das inquietações que eu tive ao longo dos últimos anos, foi
só recentemente que consegui estabelecer um vínculo entre a literatura e a filosofia. Ainda
que já lesse assistematicamente crítica e teoria literária,1 foi apenas no final do segundo
semestre de 2010, enquanto fazia um intercâmbio na Universidade Paris VIII, e tendo pela
primeira vez a oportunidade de cursar matérias do curso de Letras2, é que me veio à mente
essa questão da literatura ser fundamentalmente uma experiência da realidade e não, como
muitos talvez pensem, uma experiência à parte, irreal e que nos levaria justamente para longe
do mundo.
Sempre me incomodava essa postura que soçobrava parte das discussões literárias
com colegas, talvez influenciados (indiretamente ou diretamente) pelo Blanchot, que diziam
que a grandeza da literatura estava em justamente nos tirar do mundo, do real, tendendo
apenas a revelar o vazio da linguagem3 . Isso sempre me incomodou por três motivos.
1 Esta última que acaba sendo muitas vezes, me parece, a tentativa de um filósofo (ou sociólogo, antropólogo, historiador, etc.) de tentar entender, situar, a relação que ele tem com a literatura no campo das suas questões. Exemplos disso são Benjamin, Adorno, Heidegger, Blanchot, Derrida e Foucault – todo autores que, mais uns, menos outros, estão com as suas questões no cerne daquilo que chamamos de Teoria Literária. 2 Uma matéria sobre Roland Barthes e uma possível Teoria do si que haveria na fase final da obra dele. E outra, mais forte até pela singularidade do objeto, tratava das relações entre literatura e fotografia e sobre como quando estas apareciam juntas aparecia também um terceiro elemento: o espectro, o fantasma. 3 Talvez uma das questões que eu gostaria de desenvolver futuramente é justamente como o pensamento de Blanchot se aponta, certamente, para um vazio da linguagem que acaba, por fim, nos jogando para mais dentro ainda disso que chamo aqui de real. Isso justamente por nos remeter para um fora da linguagem. Deixemos essa questão, porém, para outro momento.
11
Primeiramente, e fundamentalmente, pois a literatura invariavelmente parte do real4. Segundo,
pois, ao menos para mim, e não posso ir mais longe do que isso, a literatura só é
compreensível a partir do momento em que ela me diz algo com o que eu poderia me
relacionar5 . Há de haver um campo em comum, campo esse que não necessariamente
permaneceria o mesmo ao longo e após a leitura do livro, mas que permitiria que, ao menos,
se fizesse um contato inicial com a obra. Para ficar em uma banalidade, o fato de o livro ser
literalmente escrito na língua que falo já pode começar a constituir esse solo em comum (que
pode também conter elementos culturais – como quando leio um romance que se passa no Rio
de Janeiro, por exemplo, onde há essas experiências cariocas que se relacionam – ou quando,
por exemplo, leio um romance de Clarice Lispector onde o solo em comum que tenho com ela
trata-se muito mais do que certas reflexões e sensações “compartilhadas”6). O terceiro ponto
que me distancia também dessas pessoas que pensam a literatura como algo solipsista,
também partindo do meu contato pessoal com a literatura, trata-se da própria leitura, que antes
de me tirar da realidade – e o real e a realidade não podem ser aqui tomados simplesmente
como um algo dado e fixo, mas no sentido provisório a que aludimos na nota 4 –, me põe nela
com mais força ainda. Como que num movimento de expansão [mas dispersa e
desorganizada], o real é alterado através dessa experiência com a literatura.
Pensando numa frase de Walter Benjamin, talvez seja possível deixar esse ponto mais
claro. A frase diz: “Representar pessoas de maneira verdadeiramente palpável não significa
trazer à tona a nossa recordação delas?” 7. Em seu Mímesis: Desafio ao Pensamento, Luiz
Costa Lima usa este trecho para caracterizar o que ele chama de bom crítico, aquele que em
contraposição ao crítico que descobriria coisas “escondidas” no texto:
4 E é preciso dizer uma coisa aqui, ainda que provisoriamente, ainda que apenas em outro momentos possamos trabalhá-las com mais afinco e mais criticamente. Tomaremos então, temporariamente, que “A realidade para nós não é um dado pronto, uma construção acabada. A realidade é um dinamismo, é um possível vir-a-ser. É até o ‘vraisemblable’. Não é apenas o meio físico, o visível, o fotografável. O real aprendido em todos os seus setores ou regiões é antes as relações globais do homem com as coisas, na sua tensão constituitiva, no seu empenho nervoso de configuração estrutural. Porque há sempre o perigo de desarticulação da totalidade do real. E o real é real precisamente porque vai superando a ameaça de desarticulação dos elementos contrastantes que compõem a sua densa estrutura.” (PORTELLA, Eduardo. Teoria da Comunicação Literária. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970. p.62). 5 Talvez seja importante futuramente trabalhar esse contato inicial de um texto (literário) com a ideia heideggeriana de que o ser-aí desde sempre já se move numa pré-compreensão do ser e como é essa pré-compreensão que vai moldar todo o resto. 6 Mas é importante frisar que esse solo em comum não vai garantir que a leitura seja melhor ou pior, mas apenas que é necessário que haja algo sobre onde a comunicação vai se estabelecer (é óbvio que não se fala aqui de uma comunicação plena, por isso talvez seja o caso de dizer que essa comunicação seja sempre sobre rastros – para ser derridiano –, que ainda que instáveis e que não garantam nada serão tudo o que teremos). 7 BENJAMIN, Walter. “Primeiro Esboço | Passagens Parisienses <I>” in: Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. p.926.
12
não é aquele que, por força de uma instrumentação técnica, “mostra” aos leigos o que eles por si não saberiam ver, senão aquele que usa de uma instrumentação, só às vezes técnica, para tornar visível a presença de uma propriedade que, em tesem seria a todos acessível. Para isso, ele não dispõe senão da capacidade de congregar sua lembrança (Erinnerung) à lembrança passível de ser recordada pelos outros homens
8. [grifo meu]
Se, porém, ampliarmos em um nível essa ideia benjaminiana que Costa Lima utiliza para falar
da relação do crítico com um texto para falar da relação que haveria entre a literatura e a vida9,
a frase de Benjamim chega bem perto do que gostaria de propor que se pensasse. A literatura
seria, talvez como a filosofia – mas de forma diferente –, um exercício de [tentar] dizer o
mundo e, através desse contato com as diversas formas de dizeres do mundo, o nosso mundo
não cessaria de expandir10. Parafraseando Benjamin: encontraríamos na lembrança dos outros
(na literatura) as nossas lembranças do mundo. Encontraríamos uma experiência de mundo
que a partir do momento em que tomamos contato com ela nos contamina e faz dela uma
experiência nossa também, uma experiência completamente nova como a que alguns
escritores, não lusófonos, alegam ter tido ao entrar em contato com a obra de Fernando Pessoa,
em que são contaminados pela ideia da saudade que, dizem, jamais ter sentido antes do
contato com a obra do poeta.
Um exemplo simples disso, para facilitar a visualização, foi, para mim, a leitura de
Fim de partida, de Samuel Beckett, que se não me revelou nenhuma reflexão completamente
nova sobre certo espectro de vazio que parece rondar a experiência humana (apesar de
aprofunda-la à sua maneira). Por outro lado, essa peça me revelou uma faceta completamente
nova e inesperada da experiência humana: o lado cômico disso tudo que acontece e que,
diferentemente de um O estrangeiro (que talvez tenha sido o livro que me iniciou nessas
margens), que fica apenas no duro do vazio, me ensinou a rir e a perceber o ridiculamente
engraçado que há na/da vida.
8 COSTA LIMA, Luiz. Mímesis: Desafio ao Pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. p.17. 9 Vida, i.e.: real, realidade, mundo, etc. 10 Mas, e isso é importante ressaltar e talvez trabalhar com mais precisão futuramente, essa expansão não teria nenhum objetivo ou direção ou pontos necessários (muito menos haveria uma totalização) – não haveria, portanto, experiências necessárias a se ter para que pudéssemos participar plenamente da realidade, não haveria plenitude a ser conquistada pois não há um centro de onde tudo emana, mas diversos centros que por sua vez se deslocam e descentram a todo momento (cf. A estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas de Jacques Derrida). Aqui, como disse, penso na obra de Jacques Derrida, esse Hegel contemporâneo que talvez tenha composto – ao longo da sua obra – rastros daquilo que poderia ser uma ontologia e que descreveria bem esse movimento sem objetivo e sem direção, a torto e a direito, da vida. E esse movimento mesmo não estaria em um livro qualquer, mas a própria maneira como a obra de Derrida se dispersa já poderia ser vista como uma figura possível dessa “não-orientação”, para usar uma palavra do Rafael Haddock-Lobo.
13
1 O realismo do literário para James Wood
It felt real, the pace was paradoxically real, bodies moving musically, barely moving,
twelve-tone, things barely happening, cause and effect so drastically drawn apart
that it seemed real to him, the way all things in the physical world that we don’t
understand are said to be real.
Don DeLillo, Point Omega
Mas como dizia no começo, ainda que essas ideias estivessem de certa forma
rondando pela minha cabeça, foi apenas com a leitura de um livro no segundo semestre de
2010 que me apareceu pela primeira vez essa questão de forma clara e cristalina. E que para
esta não posso mais do que esboçar aqui uma possível resposta. O livro em questão é Como
funciona a ficção, escrito pelo crítico literário da New Yorker, James Wood. Justamente um
livro que não é nenhum grande ensaio sobre o que é a literatura ou que traz grandes
desenvolvimentos teóricos sobre o ficcional da ficção. O livro é bem mais perto do chão do
que isso – e, até de uma maneira não saudável, é bem avesso à teoria. Mas o Wood, como um
bom herdeiro da tradição anglófona de close-reading, mais do que compensa isso com o seu
grande apuro analítico. Ao longo do livro, ele irá pegar certos elementos da ficção (o discurso
indireto livre, o detalhe, a consciência nos romances, etc.) e irá esmiuçá-los, explicá-los
através de leituras atentas de pequenos trechos e mostrar como esses elementos atuam no
interior dos textos e o que é que acontece quando são postos em prática bem ou mal. Nas
palavras do Wood:
In this book i try to ask some of the essential questions about the art of fiction. Is realism real? How do we define a successful metaphor? What is a character? When do we recognize a brilliant use of detail in fiction? What is imaginative sympathy? Why does fiction move us? These are old questions, some of which have been resuscitated by recent work in academic criticism and literary theory; but i’m not sure that academic criticism and literary theory have answered them very well. I hope, then, that this book might be one which asks theoretical questions but answers them practically or to say it differently, ask a critics’ questions and offers writer’s answers.11
11 WOOD, James. How fiction works. Londres: Vintage Books, 2009. p.2.
14
O livro todo é um belo exercício de como se faz close-reading e, a despeito de
algumas pessoas verem isso como um defeito, a obra é bem honesta ao deixar explícito que
isso que o autor vê como ficção boa, de qualidade, e os elementos que a constituiriam, é
ficção boa para ele. Isso a ponto de um amigo apelidar o livro de Como funciona a ficção
para James Wood.
O que me pegou nesse livro em relação ao que venho falando aqui, porém, foi o último
capítulo (embora isso vá se anunciando ao longo de todo o livro, na exploração dos elementos
que comporiam a prosa ficcional), intitulado “Verdade, convenção e realismo”. Nele, o autor
põe com uma clareza invejável aquilo que sempre tentei dizer [a mim mesmo] sobre o que era
a ficção e por que ela me [nos] move: que toda a literatura é, de uma forma ou de outra,
realista12.
Wood constrói seu livro tomando como modelo um outro que, na área do desenho e da
pintura, teria feito o mesmo movimento que ele tenta fazer com a literatura. O livro inspirador,
The elements of drawing, de John Ruskin, busca “lançar um olhar crítico sobre o assunto da
criação, para ajudar o pintor praticante, o observador curioso, o amante da arte ordinário” 13 e
fará isso ao tentar ligar a pergunta sobre uma pintura de Tintoretto, por que determinado
sombreado, por que aquelas cores específicas, aquele traçado, à maneira mesma como o leitor
comum olharia para a algo e “passo a passo, Ruskin, leva os seus leitores pelo processo de
criação” 14. Se Wood diz que ele quer falar de certos aspectos da ficção, não é, portanto, para
falar simplesmente da literatura, mas, como no livro de Ruskin, para ligar a literatura ao
mundo real em que vivemos. Trazer não só o leitor para a literatura, mas a literatura para o
[mundo do] leitor.
Como eu disse, ao longo do livro inteiro vemos esse movimento se desdobrando, já
que os artifícios para se fazer ficção seriam, de acordo com Wood, a forma mesma de lidar
com o real. Mas, apesar disso, no último capítulo há uma exposição de algo que poderíamos
chamar de sua teoria sobre a relação entre a literatura e a realidade.
Antes de começar a expor as suas “teorias”, a primeira coisa que Wood faz nesse
capítulo é deixar clara a visão de realismo a que geralmente os seus opositores se prendem e
12 É bem óbvio que isso que Wood chama de realismo diverge do que eu digo, mas, pela primeira vez, encontrei alguém que tomasse o realismo não meramente como gênero, mas como o predicado mais geral de toda a literatura e que não tivesse medo de dizer isso claramente. Óbvio que há Auerbach, Lukácks e Barthes, mas o primeiro só comecei a ler depois do contato com Wood, o segundo me parece tributário de um realismo excessivamente comprometido e o terceiro – talvez aquele que vá aparecer mais aqui –, apesar de já conhecer a obra, só comecei a notar esses ecos realistas na leitura do seu A câmara clara que fiz logo após essa leitura de Wood. 13 WOOD, James. How fiction works. Londres: Vintage Books, 2009. P. 1. [tradução minha] 14 Ibidem. P. 1. [tradução minha]
15
que não é a que ele teria. Para ele, o erro dos adversários do realismo está em suposições
sobre a literatura realista que na maior parte das vezes acham que:
[o] realismo é um gênero (ao invés de, digamos, um impulso central na feitura da ficção); ele é tomado como uma mera convenção morta, e de ser relacionada a um certo tipo de enredo tradicional, com inícios e finais previsíveis; ele utiliza personagens “redondos”, mas suavemente e piedosamente (“humanismos convencionais”); ele assume que o mundo pode ser descrito, com uma ligação ingenuamente estável entre palavra e referente (“filosoficamente dúbio”); e tudo isso vai tender para uma política conservadora ou até opressiva (“politicamente e filosoficamente dúbio”).15
Ainda que ele não tenha dito aí nada de positivo (salvo que o realismo seria um impulso
central para a ficção), dá para começar a compreender que para Wood quem fala mal do
realismo faz isso não por problemas com a ideia de a literatura ser realista (que para Wood e
para mim é ao que ela invariavelmente tenderia), mas por uma má ideia do que seja o
realismo que ele defende. Para eles [seus opositores], o realismo se trataria de um gênero, que
teve seu ápice na França, na obra de escritores como Flaubert e Maupassant, e que uma defesa
do realismo seria um ataque às formas literárias que não se ativessem às convenções que esse
gênero/escola teria estabelecido e que essas convenções seriam formas de capturar o real,
formas, diga-se de passagem, bem seguras.
Certamente Wood não nega que exista um determinado “gênero” da literatura que
seria o realista – e que seria também uma das fórmulas de maior sucesso da ficção comercial
atual – e que nele abundariam convenções mortas. Mas esse gênero só pôde chegar a existir
como gênero, para Wood, se ele, de início, pegar certos elementos de autores de sucesso e
transformar em “regras da boa ficção”, achatando para fora do seu estilo original e,
consequentemente, tirando a força que esses elementos tinham anteriormente. Se o realismo é,
portanto, mal falado hoje, isso se deveria antes a uma má apropriação (ou talvez literalmente
uma apropriação) das obras de autores que fizeram muito sucesso em seu tempo, como
Flaubert e Dickens, do que por uma decadência necessária já à ideia de um realismo.
Dizer também que a literatura realista é feita de convenções e que por causa disso ela
se afastaria ainda mais da realidade não seria uma boa crítica já que, para Wood, “toda a
ficção é convencional de uma maneira ou de outra”16. Se criticarem, então, o “realismo” por
ser convencional, dever-se-ia “rejeitar pela mesma razão o surrealismo, a ficção científica, o
15 Ibidem. p.169. [tradução minha] 16 Ibidem. p.176. [tradução minha]
16
pós-modernismo auto-reflexivo, romances com quatro finais diferentes, e assim por diante” 17.
A convenção não seria uma forma definida e artificial simplesmente de fazer ficção (fora
quando é tomada sem reflexão prévia – como no realismo comercial e, com bastante coragem,
Wood diz, como no caso do soneto), mas apenas mais uma estratégia de lidar com aquilo que
seria o real.
A convenção (e convenção aqui não como a convenção desgastada pelo uso repetitivo)
seria antes a possibilidade própria de se lidar com o real. Pensando na obra kantiana como
referência, a mesma faculdade que limita o nosso contato com o real, como a visão, por
exemplo, é a mesma faculdade que nos permite um acesso ao real, que nos permite ter um
contato com ele. O acesso pressupõe necessariamente uma limitação, uma orientação que
exclui outras possibilidades. As convenções da literatura teriam aqui a função, que vem com o
seu lado “negativo”, de tentar providenciar uma maneira de lidar com a realidade, de
experienciar o real, no entanto, como qualquer acesso – esse seria sempre de alguma maneira
limitado. O capítulo inicial do Mímesis de Erich Auerbach dá uma boa ideia disso ao
contrapor o realismo homérico com o realismo do antigo testamento:
Os dois estilos [O homérico e o bíblico respectivamente], na sua oposição, tipos básicos: por um lado, descrição modeladora, iluminação uniforme, ligação sem interstícios, locução livre, predominância do primeiro plano, univocidade, limitação quanto ao desenvolvimento histórico e quanto ao desenvolvimento histórico e quanto ao humanamente problemático; por outro lado, realce de certas partes e escurecimento de outras, falta de conexão, efeito sugestivo do tácito, multiplicidade de planos, multivocidade e necessidade de interpretação, pretensão à universidade histórica, desenvolvimento da apresentação do devir histórico e aprofundamento do problemático.18
Ao se defender dos ataques contra a “convenção”, Wood começa a chegar perto do
que ele entende pela relação entre a literatura (a ficção) e o realismo. Ele fala que a literatura
precisa de artifícios (palavra menos desvalorizada que convenção) para se aproximar do real e
que talvez seja necessário, para continuar desenvolvendo a sua questão, “trocar a sempre
problemática palavra ‘realismo’ pela ainda mais problemática palavra ‘verdade’”19. Dessa
forma, Wood pensa, poderemos incluir livros como A Metamorfose de Kafka ou Fim de
Partida, de Beckett. Ele diz que esses livros “não são representações de prováveis ou típicas
atividades humanas, mas são, todavia, textos excruciantemente verdadeiros”20. Embora eu não
17 Ibidem. pp.176-177. [tradução minha] 18 AUERBACH, Erich. Mimesis: A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2009. p.20. 19 WOOD, James. How fiction works. Londres: Vintage Books, 2009. p.180. [tradução minha] 20 Ibidem. p.180. [tradução minha]
17
ache necessária a troca, é compreensível a proposta de Wood (que não abandona o realismo
inteiramente) de fazê-la para facilitar o entendimento do que ele compreende por uma
literatura realista e para que se consiga excluir definitivamente uma compreensão de realismo
como uma simples “cópia” (se é que ela seja possível) da realidade através de determinadas
técnicas de sucesso comprovadas. Ao trazer textos que têm um quê fantástico, como A
metamorfose, ou de absurdo, como Fim de Partida, portanto, Wood parece dizer que não é
preciso tratar de coisas que aconteceriam, que são prováveis de acontecer, mas que dizem
respeito de alguma maneira à experiência da vida.
A história da literatura seria caracterizada, então, segundo Wood pela historia das
tentativas de apreensão da vida: “A maior parte dos grandes movimentos na literatura nos
últimos dois séculos invocou o desejo de capturar a ‘verdade’ da ‘vida (ou ‘o jeito que as
coisas são’), mesmo quando a definição do que é ‘realístico’ muda”21. E isso ficaria ainda
mais evidente quando olhamos para as críticas que os escritores dirigem às obras de seus
colegas sempre mencionando inverdade, incapacidade de capturar a vida, ou a tal cegueira do
escritor diante da vida. Wood diz, através de Alain Robbe-Grillet: “Todos escritores
acreditam que são realistas. Nenhum deles se autodenomina abstrato, ilusionista, quimérico,
fantástico”22.
Essa essência da literatura que James Wood tanto prega, e com que eu também
concordo, seria a própria pulsão que funda o fazer literário. E que o produto dessa pulsão faria
muito mais que simplesmente tentar nos mostrar o mundo através das suas lentes (coisa que
ele certamente faz): ela nos permitiria experienciar o mundo. E isso se mostraria nos
momentos mais cotidianos quando lemos um livro, uma cena, um poema e somos tocados por
esse texto, por esse trecho, de uma forma que ele “nos atinge com a sua verdade, que nos
move e nos ampara, que abala a casa do hábito até às suas fundações.”23 Em suma, nas
apaixonantes palavras de Wood:
Realism, seen broadly as truthfulness to the way things are, cannot be mere verisimilitude, cannot be mere lifelikeness, or lifesameness, but what I must call lifeness: life on the page, life brought to different life by the highest artistry. And it cannot be a genre; instead, it makes other forms of fiction seem like genres. For realism of this kind – lifeness – is the origin. It teaches everyone else; it schools its own truants: it is what allows magical realism, hysterical realism, fantasy, science fiction, even thrillers, to exist. It is nothing like as naïve as its opponents charge; almost all the great twentieth-century realist novels also reflect on their own making, and are full of artifice. All the greatest realists, from Austen to Alice Munro, are at
21 Ibidem. p.182. [tradução minha] 22 Ibidem. p.183. [tradução minha] 23 Ibidem. p.184. [tradução minha]
18
the same time great formalists. But this will be unceasingly difficult: for the writer has to act as if the available novelistic methods are continually about to turn into mere convention and so has to try to outwit that inevitable ageing. The true writer, that free servant of life, is one who must always be acting as if life were a category beyond anything the novel had yet grasped; as if life itself were always on the verge of becoming conventional.24
*
Espero ter exposto de maneira razoável aquilo que havia na obra de Wood que me
incitou a começar a busca pelas relações entre o real e a literatura. Tentei mostrar aqui o
decisivo de seu pensamento na hora em que comecei a pensar a literatura como uma
experiência do real, como ele deu o pontapé inicial nesse caminho. Mas também é necessário
ressaltar que, talvez por não se propor a aprofundar questões teóricas, esse livro tenha fortes
limitações (mas é possível chamar ele de limitado não sendo o objetivo dele aprofundar-se
nessa questão?). Por não levar muito adiante as reflexões que ele incita e por fazer questão de
não sair dos exemplos práticos da literatura, sem se aventurar pela filosofia, por exemplo,
deixa de pensar criticamente muitas ideias que lança descompromissadamente.
Concordo, em espírito, com a ideia de que a literatura é fundamentalmente realista,
que está a todo o momento lidando com a experiência do real e que essa experiência mexe
com a gente. Porém, há o fato de que muitas vezes Wood fala de realismo25 sem em momento
algum pensar criticamente a ideia da realidade que ele possui. Parece que ele pensa no real
como se fosse algo já dado e que o papel da literatura se reduziria a apenas tentar “se adequar”
a realidade. A falta de um desenvolvimento maior dessa questão deixa um grande buraco em
seu pensamento. Não que seja uma falha (já que, como disse, ele parece não se propor a fazer
isso), mas talvez seja esse ponto (fundamental), nessa concepção simplista do que seja o real,
que mais me afaste de Wood. Essa falta de uma reflexão mais aprofundada e essa visão
simplista do que seja o real26 é que me fez procurar (e encontrar) outros interlocutores para
essas questões.
24 ibidem. pp.186-187. 25Como no trecho em que, já citado acima, Wood fala que o realismo é “uma veracidade ao modo como as coisas são”. 26 A fim de ter como um guia provisório para esse trabalho, o que penso como real, ainda que essa mesma concepção deva ser trabalhada com maior afinco.
19
2 O “é isso” barthesiano
Tenho pensado algumas vezes se a literatura não merecia ser considerada uma
empresa de conquista verbal da realidade. (...). Tão logo se transpõe a etapa da
adolescência (...) descobre-se que cada livro realiza a redução ao verbal de um
pequeno fragmento da realidade, e que a acumulação de volumes em nossa
biblioteca vai parecendo cada vez mais com um microfilme do universo.
Julio Cortázar
Dentre esses interlocutores que acabei encontrando – Auerbach, Costa Lima, Barthes,
etc. –, aquele que talvez tenha chegado mais perto das minhas próprias reflexões, ainda que
por vias sinuosas, foi Roland Barthes. Mesmo não sendo um teórico graúdo preocupado em
justificar e demonstrar de maneira clara e distinta muitas das coisas que pensa – esse papel na
minha genealogia pessoal estaria reservado a Costa Lima –, há nos seus escritos uma leveza
que contamina e mostra muito mais do que tantos autores quaisquer que estejam preocupados
em justificar qualquer dedo que levantam.
E, se me permitem um adiantamento, a consonância que encontro com o pensamento
de Barthes está na maneira em que ele vê a experiência literária. Enxergando esta como uma
experiência em que sentimos uma sensação fulminante de um “é isso”. O que isso significa
fica mais evidente não quando fala de textos literários, mas quando, em A Câmara Clara, fala
de fotografia. Ao falar dela diz que “o que a fotografia reproduz ao infinito só ocorreu uma
vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se existencialmente.” 27 Mas o
que isso implica é que:
Nela o acontecimento jamais se sobrepassa para outra coisa: ela reduz sempre o corpus de que tenho necessidade ao corpo que vejo; ela é o Particular absoluto, a Contingência soberana, fosca e um tanto boba, o Tal (tal foto, e não a foto), em suma a Tique, a Ocasião, o Encontro, o Real, em sua expressão infatigável. Para designar a realidade, o budismo diz sunya, o vazio; mas melhor ainda: tathata, o fato
27 BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. p.13.
20
de ser tal, de ser assim, de ser isso; tat quer dizer em sânscrito isso e levaria a pensar no gesto da criancinha que designa alguma coisa com o dedo e diz: Ta, Da, Ça! Uma fotografia sempre se encontra no extremo desse gesto; ela diz: isso é isso, é tal! mas não diz nada mais; uma foto não pode ser transformada (dita) filosoficamente, ela está inteiramente lastreada com a contingência de que ela é o envoltório transparente e leve. Mostre suas fotos a alguém: essa pessoa logo mostrará as dela ‘Olhe, este é meu irmão, aqui eu sou criança’; etc.; a Fotografia é sempre um canto alternado de “Olhem”, “Olhe”, “Eis aqui”; ela aponta com o dedo um certo vis-à-vis e não pode sair dessa pura linguagem dêictica.28
O “é isso” acaba sendo a única reação possível diante de uma fotografia de uma coisa
qualquer e que após essa sua “mostração” não haveria mais como ir além. A fotografia
fundamentalmente só pode ser isso, não pode ser explicada nem interpretada, pode apenas
apontar para esse particular absoluto que mostra uma parcela (uma parcela e de apenas uma
maneira) do real, um isso, que se for interpretado, descrito, etc., já será reduzido para longe do
seu brilho instantâneo29. “É isso” que como veremos mais adiante, Barthes encontrava
originalmente na literatura.
Esse movimento que ele vê como fundamental nos textos30 que encontra e que gosta
está em perfeita consonância com a sua própria estratégia de escrita31. Esta menos preocupada
em demonstrar de maneira clara e distinta o caminho de pensamento que percorreu do que
escrever de uma maneira em que o sucesso da reflexão dependa de, nas palavras do próprio a
respeito de Fragmentos de um discurso amoroso32, “se ao menos alguém puder dizer: ‘Como
isso é verdade!”33 Interessa, portanto, mais uma identificação do leitor com o texto. Que ele,
o leitor, – parafraseando novamente o Costa Lima parafraseando o Benjamin – consiga
reconhecer nos textos de Barthes aquilo que ele fala. Não é um movimento simples, em que
simplesmente se aceitaria tudo aquilo que Barthes dissesse. É um pouco mais sutil que isso, já
28 Ibidem. pp.13-14. 29 O que 1) não quer dizer que a fotografia, ao ser recebida, não esteja já de alguma forma determinada por uma hermenêutica que já-desde-sempre estaria atuando, ou seja, é uma condição a priori; 2) talvez seja importante – e talvez me distancie de Barthes aqui – tentar entender como seria possível conciliar essa recepção do “é isso”, essa recepção “pura” (entre muitas aspas) com uma aceitação daquilo que chamamos de crítica (literária, artística, filosófica). Uma postura que no próprio ato de falar do seu objeto já impõe uma segunda camada hermenêutica ao selecionar certos traços, ler esses traços de uma determinada maneira, relacioná-los com determinados elementos externos e que num mesmo movimento faz reluzir o objeto original de uma maneira nova, mas que nessa novidade ao mesmo tempo se distanciaria talvez do objeto original numa recepção não crítica (penso que talvez seja possível pensar nessas duas camadas hermenêuticas pelas categorias de ‘inconsciente’ e ‘consciente’, respectivamente, mas me parece que é uma saída mais fácil do que provável). A questão, enfim, seria entender como funciona, o que está em jogo, quando se faz crítica sem cair no simplismo de dizer que o objeto crítico é um outro, uma versão reduzida (como aponta o Barthes), mas que dê conta da diferença (ou poderíamos dizer différance) que é produzida, que ali surge e que não estaria presente antes da intervenção crítica. 30 E textos num sentido amplo, num sentido em que uma fotografia também entraria nessa rubrica. 31 Mas essa estratégia que aparece com mais força na última década de sua vida. 32 Momento em que, em minha opinião, essa estratégia chega ao seu ponto máximo de intensificação. 33 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.XVIII.
21
que ele não simplesmente aceita tudo, mas transfere o crivo de verdade de uma adequação
entre o seu discurso e o objeto-em-si para um reconhecimento do objeto por parte de um
terceiro (mas que, no entanto, para esse terceiro, não necessariamente existiria/ou seria visível
aquilo que Barthes fala antes do contato com o texto de Barthes). O crivo deixa de ser o
objeto-em-si para ser um outro34. O caminho escolhido por Barthes é perigosíssimo – e não
tem como não ser, nesses tempos –, justamente por estar se arriscando a dizer qualquer coisa
sem se amparar nos métodos tradicionais de se fazer teoria, estes postos em cheque
constantemente desde o romantismo e que levaram a certa exaustão dos discursos teóricos que
vemos hoje em dia35.
*
O pensamento desse “semiólogo”36 é bem conhecido, talvez sendo um dos intelectuais
franceses da geração de 1960 mais lido. Por isso mesmo, pela dispersão que é a sua obra – e
que, pela coerência à radicalidade da sua reflexão, não poderia ter sido de outro modo –, não
encontraremos um texto do Barthes que defina exatamente como ele vê a relação entre uma
obra (ou as obras) e a realidade, que é o tema que me (nos) interessa aqui. Tudo o que
encontramos são breves menções indiretas (que, no entanto, vão se tornando mais frequentes
na ultima década em que viveu), mas que jamais se preocupam em dar uma palavra final
sobre como se dá essa relação. Pretendo aqui, portanto, analisar alguns desses momentos em
que Barthes tematiza essa questão e tentar relacionar isso com a ideia da literatura ser
fundamentalmente realista.
*
Começando37 por uma das suas obras mais conhecidas e mais influentes, apesar de ser
das menores em tamanho (é a aula inaugural da sua cadeira de semiologia literária no Collège
34 Podemos atribuir essa “falta de preocupação” (que não é uma falta de preocupação de fato) com o objeto em si à influência que a Crítica da Razão Pura exerceu sobre todo o pensamento pós-kantiano que sempre buscou formas de lidar com as coisas, ainda que não se conheça elas. 35 Barthes não é pioneiro nisso (salvo, talvez, na sua estratégia particular – embora aí mesmo se veja uma dívida muito grande a Nietzsche e a Kierkegaard), já que todos os grandes pensadores do século XX, como Heidegger, Benjamin e Derrida, lidaram com essa questão de como pôr o seu discurso teórico após as desconstruções que este sofreu desde o romantismo até as filosofias dos já mencionados Kierkegaard e Nietzsche. 36 Ponho essas aspas, pois, apesar de esse ser seu título “mais comum”, uma rápida olhada na sua obra mostra que seus interesses vão da sociologia à linguística, da literatura à filosofia, sem se preocupar em se fixar em qualquer um desses saberes. 37 Em relação à literatura, ao menos, já que já começamos a falar de Barthes pela fotografia.
22
de France), pois temos em Aula o instante em que Barthes se põe com uma clareza rara e
chega a afirmar que a literatura é “absolutamente, categoricamente realista: ela é a realidade,
isto é, o próprio fulgor do real”38. É importante aqui o fato de que Barthes se corrige e diz que
a literatura é o fulgor, mas aguardemos um pouco.
Momentos depois, retomando uma enumeração que tinha estabelecido a mimesis como
uma das três forças da literatura que ele trataria nessa aula, Barthes fala que “a segunda força
da literatura é sua força da representação” e que “desde os tempos antigos até as tentativas da
vanguarda, a literatura se afaina na representação de alguma coisa. O quê? Direi brutamente:
o real”39. Para Barthes, então, uma das pretensões da literatura seria representar a realidade.
No entanto, pretensão esta que ele logo rechaçará como impossível de ser atingida pela
literatura. Isto é: de realizar uma representação do real. A literatura não teria como
representar o real não por uma incapacidade sua, mas porque qualquer representação40 da
realidade seria impossível e no caso da literatura, especificamente, isso se daria pelo fato de
que não haveria um paralelismo41 entre o real e a linguagem. A impossibilidade de capturar a
realidade em sua plenitude é o que faz com que essa pretensão caia por terra, já que “não se
pode fazer coincidir uma ordem pluridimensional (o real) e uma ordem unidimensional (a
linguagem)”42. A literatura, assim como qualquer forma de (tentativa de) representação,
jamais conseguirá dar conta de todos os níveis em que a realidade se dá e talvez essa
impossibilidade de representá-la em palavras é que produza “uma história da literatura, que
seria a história dos expedientes verbais, muitas vezes louquíssimos, que os homens usaram
para reduzir, aprisionar, negar ou pelo contrário assumir o que é sempre um delírio, isto é, a
inadequação fundamental da linguagem ao real.”43
É fundamental notar, porém, que essa impossibilidade a que Barthes alude não é de
uma impossibilidade total da representação, mas de uma impossibilidade da total
representação do real. Se não fosse possível, não seria possível a literatura produzir fulgores
do real, ou seja, produzir brilhos instantâneos, mas breves, daquilo que seria a realidade. A
literatura, ao produzir esses fulgores, estaria permitindo apenas aquilo que seria possível,
representações parciais (“particulares absolutos”; “contingências soberanas”) e instantâneas
(“é isso!”) – como vimos acima na fotografia – do real, sem nunca dar conta dele em sua
totalidade.
38 BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2007. p.18. 39 Ibidem. p.22. 40 No sentido literal do termo. 41 O que não quer dizer que não haveriam pontos de contato ou que um se originasse do outro. 42 BARTHES, Roland. Aula. São Paulo: Cultrix, 2007. p.22. 43 Ibidem. p.22.
23
*
O momento, porém, em que encontramos esse pensamento do “é isso” mais
desenvolvido em relação à literatura é no livro/curso A preparação do romance. Pensado
como um curso que tenta dar voz ao (seu) desejo de querer-escrever um romance, este gênero
que:
permitiria dizer aqueles que amo (Sade, sim, Sade dizia que o romance consiste em pintar aqueles que amamos) e não dizer-lhes que os amo (o que seria um projeto propriamente lírico); espero, do Romance, uma espécie de transcendência do egotismo, na medida em que dizer aqueles que se ama é dar testemunho de que eles não viveram (e frequentemente sofreram) para nada.44
Para, porém, dar conta dessa tarefa, Barthes, partindo da ideia de que “a ‘literatura’ (...) se faz
sempre com a vida”45, resolve tentar pensar o início do romance (do seu romance) refletindo
sobre a possibilidade da anotação, esta que daria para ele o material (i.e.: a vida) que poderia
constituir o romance. Um duplo problema, um nó que não vai poder ser desatado por
completo. A primeira questão (que vai ocupar grande parte do curso) é a possibilidade da
anotação, já que “considerar como possível (não irrisória) uma prática de anotação é já aceitar
como possível uma volta (em espiral) do realismo literário.” 46 Para tratar dessa questão,
Barthes tentará explorar à forma japonesa de poesia haicai que seria a “forma exemplar de
Anotação do Presente = ato mínimo de enunciação, forma ultra breve, átomo de frase que
anota (marca, cinge, glorifica: dota de uma fama) um elemento tênue da vida “real”, presente
concomitante.47” Ao longo do curso serão então comentados diversos haicais que serviram de
exemplos da estrutura de anotação do real que ele está tentando dar conta nesse primeiro
momento. O segundo problema, que só pode ser brevemente aludido no final do curso, é
sobre a passagem da anotação fragmentária ao romance. A intenção era tentar trabalhar com a
centelha que teria feito com que Proust desse partida à escrita de Em busca do tempo perdido.
A alusão, porém, falará mais de certos elementos que diferenciariam o haicai do romance do
que propriamente dessa passagem de um ao outro.
A forma do haicai é uma forma que para Barthes, ainda mais por ser uma anotação
que já põe em questão o seu laço com o mundo, pode exercer exemplarmente o papel da
44 BARTHES, Roland. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». In : Le Bruissement de la Langue. Paris: Éditions du Seuil, 1984. pp.344-345 [tradução de Leyla Perrone-Moisés] 45 BARTHES, Roland. A preparação do Romance I: da vida à obra. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.36. 46 Ibidem. p.37. 47 Ibidem. p.48.
24
anotação. Mas que, por razões que vislumbraremos mais adiante, será superado pelo romance,
apesar de já em seu seio possuir o que Barthes chama de “enigma da escritura”, onde “sua
vida tenaz, seu caráter desejável, vem do fato de que nunca podemos separá-la do mundo, ‘um
pouco de escritura separa do mundo, muita nos traz de volta a ele”48; ele, o haicai, será
provisório, insuficiente. Mas ainda assim ele teria alguma força, como no haicai abaixo do
Bashô que Barthes comenta falando sobre a força que este pode ter em fazer suscitar
indiretamente a própria coisa sobre a qual o haicai fala:
O vento de inverno sopra Os olhos dos gatos
Piscam49
Sem nos adentrarmos exageradamente pelo haicai, visto que esse não é o objetivo
(tratarei aqui apenas aos aspectos que me interessam), ao longo de todo esse livro Barthes fará
uma verdadeira anatomia do Haicai, falando de sua forma, de como o seu formato 7-5-7
permitiria, pelo seu espaço curto, dar conta de uma determinada parcela da realidade50, ou
como o seu assunto (o tempo que faz51) e além disso, esse sim um assunto que interessa, a
reação que o haicai causa, que Barthes chamará hora de tilt, hora de momento do “é isso”.
De certa forma é sobre essa ideia do tilt que repousa a possibilidade de se pensar o
realismo em Barthes. Se o que não queremos falar aqui é de um realismo que pense na
literatura se adequando a uma realidade pré-configurada, determinada, e que apenas pediria
que o papel da literatura fosse de uma simples adequação do que se escreve às coisas mesmas,
48 Ibidem. p.61. 49 ibidem. p.73. 50 “Talvez a decisão (no ato de leitura, do pequeno satori) venha do fato de que a métrica encontra determinada parcela da realidade, faz aí um nó e a detém; é o momento em que o real é levantado por um 5-7-5. A métrica é o operador que detém a descida ao real.” (Ibidem. p.155) 51 Onde há inclusive nessa seção a belíssima passagem de Barthes falando desse assunto. Diz ele: “Quanto a mim, sempre pensei que o Tempo que faz é um assunto (uma quaestio) subestimado. Mas outrora (fascinado pelos problemas semiológicos, no sentido estritamente estruturalista): tempo-que-faz = fático exemplar (= fático puro, pois não coloco em jogo lugares de linguagem, cf. Flahault). Portanto, eu insistia na comunicação fazendo-se através de um vazio (uma insignificância) de enunciado � Tempo que faz: falso referente que permite comunicar, entrar em contato, quando se trata de sujeitos que usualmente: 1) não se conhecem; 2) sentem que não são da mesma classe, da mesma cultura; 3) não podem suportar o silêncio; 4) querem se falar sem se chocar, sem risco de desagradar, de entrar em conflito; 5) ou, no outro extremo, amam-se tanto que o dizem pela própria delicadeza da insignificância; por exemplo, conversas numa família que se ama e se reúne (de manhã): cf. Proust, À sombra das raparigas em flor, citação livre feita por Charlus acerca de Madame de Sévigné e sua filha, La Bruyère, ‘Du coeur’: ‘Estar junto das pessoas que amamos, falar com elas, não falar com elas, tanto faz’ � Observar em comum o tempo que faz = esse tanto faz do falar/não falar do amor. Afeições absolutas cuja defecção, pela morte, realiza o mais atroz dilaceramento, podem assim, puderam mover-se, viver, respirar na insignificância suave da conversa: o Tempo que faz exprime então um aquém da linguagem (do discurso) que é a própria base do amor: dor que sentimos de não poder nunca falar do Tempo que faz com o ser amado. Ver a primeira neve e não poder lhe falar dela, guarda-la para si.” (Ibidem. pp.78-79.)
25
é preciso pensar a realidade de outra forma. O real para Barthes é incapturável, como já
vimos em Aula; portanto, o papel da literatura jamais pode ser atingir uma “veracidade ao
modo como as coisas são tanto pelo fato de essa ser uma tarefa impossível por si só, quanto
pelo fato de que mesmo que fizessem o impossível, como alguém poderia atestar isso se
jamais temos um acesso total ao real? Fugindo da busca por uma experiência plena do real,
Barthes aposta numa experiência plena no real. Foge de um discurso que busca compreender
totalmente o real para um que tenta simplesmente experimentá-lo parcialmente, um fulgor, e
isso se daria através dessa sensação do tilt. Barthes vai tentar falar, então, dessa experiência
irredutível que aconteceria na leitura e que não poderia ir além de um “é isso”.
O haicai seria capaz de provocar esse efeito, pois ele nos surpreende com um gesto, “o
momento mais fugitivo, o mais improvável e o mais verdadeiro de uma ação, isto é, algo que
é restituído pela anotação, produzindo um efeito de ‘É isto!’ (= Tilt), mas algo em que não
teríamos pensado, que não teríamos pensado em olhar na sua tenuidade”52. O tilt seria então
uma sensação de um estalo que nos tocou em algum momento por um breve instante, como se
nos acordasse e nos mostrasse, lembrasse que sim, isso diz tudo. E para isso o haicai sempre
tratará de coisas irredutíveis, particulares, individuais, sem nunca cair em abstrações,
metáforas ou generalidades, pois se ele quer de alguma forma dar conta de uma singularidade
do mundo, sem se preocupar com a totalidade, a sua linguagem precisa ser concreta (cf. sobre
tangibilia/tangibile adiante). Comparemos alguns versos de Verlaine:
Os longos soluços Dos violinos Do outono53
Com um haicai:
A criança Passeia o cão
Sob a lua de verão54
Como se vê, no poema de Verlaine ainda que se esteja sendo bem concreto, “soluços”,
“violinos”, há aí uma tendência à abstração, já que há generalidades em funcionamento, os
violinos do outono, eles se repetem e soluçam sempre. O haicai por sua vez é único, singular,
52 Ibidem. p.103. 53 Ibidem. p.106. 54 Ibidem. p.107.
26
não há aí um evento que seria um retrato que se repetiria. Ele é completamente contingente e
particular e por isso mesmo completamente irredutível a qualquer metáfora, pensamento,
interpretação.
Barthes vai dizer, portanto, que o haicai é uma escrita da percepção. Mas quando fala
em percepção ele não quer dizer percepção no sentido tradicional:
É preferível dar ao fenômeno perceptivo seu ‘estilo zen’ (sua herança zen): no budismo zen, há estrofes chamadas ‘ge’ ou ‘ghata’, que dizem o que se viu ou experimentou no momento em que o olho mental se abriu (satori): por exemplo, os pinheiros, os bambus, a brisa refrescante � ‘Alguma coisa cai! Não é outra coisa’ (definição exemplar do Incidente do haicai: aquilo que cai, que produz uma dobra, e, no entanto, não é outra coisa).55
E será introduzido aqui mais um elemento dos haicais pertencente à ordem da percepção: a
tangibilia (algo que pode ser tocado). Um Tangibile será simplesmente uma coisa no haicai
que será concreta e fresca (ou seja, não clichê, desgastado pela tradição) e que provocará pelo
leitor ao passar por ele “um flash do referente, espécie de visão subliminar: a palavra faz ver
rapidamente”56. Mas é preciso que fique claro que essas reações, as forças dos tangibiles e de
outra coisas tantas que falamos na leitura de Barthes sobre os haicais não são jamais absolutas,
são impressões que provém dele e que em outro leitor poderiam muito bem ser outras. Isso
fica claro quando Barthes comenta, bem pé no chão em relação a esse haicai:
Dia de Ano Novo A escrivaninha e os papéis
Estão como no ano passado57
Que apesar de parecer banal, ao lê-lo pensa que:
Eu teria podido anotar isso, numa manhã de Ano Novo, pensando fortemente que é o dia de Ano Novo, ativando em mim o “pequeno simbolismo” que me torna atento, pensativo e perturbado diante dos aniversários; eu me vejo (hipótese) indo bem cedo (quando tudo dorme, depois do réveillon) à minha mesa de trabalho e constatando: ‘...’ 58
55 Ibidem. p.115. 56 Ibidem. p.117. 57 Ibidem. p.119. 58 BARTHES, Roland. A preparação do Romance I: da vida à obra. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.119.
27
Vê-se como esse pensamento, essa reação de Barthes, é absolutamente particular59.
Para alguém que não tem esse hábito do “escritório” esse haicai não diria simplesmente nada
e não seria nem um pouco tangível. E é justamente essa subjetividade, assumida, que garante
a autenticidade, assumi-la permite não fazer com que a recepção de um texto seja limitada a
uma ou algumas recepções apenas. E permite que continue fundando a relação da literatura
numa relação de singularidade que não automatize o tilt – embora isso talvez fique mais claro
apena mais adiante.
O tilt , se até agora não ficou claro, é uma reação contrária a certos costumes ocidentais,
como a interpretação, por exemplo60. Isso quer dizer que quando lemos um haicai, sobre ele
não há nada a dizer, não é possível imputar qualquer sentido sobressalente no haicai, pois
fazê-lo seria “hipertrofiar o detalhe”, porque “no haicai, não há instância de verdade. O haicai
não amplia, ele tem um tamanho exato”61 . O tilt vai à direção contrária dessa ânsia
interpretativa, ele é, de acordo com Barthes: “a captura instantânea do sujeito (que escreve ou
lê) pela própria coisa”62 e isso não estaria restrito aos haicais. Para Barthes, haveria uma
extensão dessa postulação para a literatura, “pois a literatura, em seus momentos perfeitos (o
eidético da literatura), tende a fazer dizer: ‘É isso, é exatamente isso!”63.
Mas que não se confunda esse momento com uma simples tautologia. O processo para
chegar no “é isso” estaria bem próximo, embora não idêntico, da parábola nietzschiana que se
encontra na abertura do Zaratustra: a das três metamorfoses.64 No caso, conta-se sobre as três
metamorfoses que o espírito passaria. Na primeira metamorfose o espírito seria um camelo e
com isso assentiria a tudo sem questionamento, aceitaria todas as cargas sem nada dizer,
apenas assentindo (paralelo: lê o haicai, o toma sem reflexão como aquilo que está escrito –
tautologia tola); na sua segunda metamorfose ele se transforma num leão que teria como seu
poder dizer não e que rejeitaria o imediato (paralelo: lê-se o haicai, mas começa-se a
questionar a leitura literal, abrir espaço para interpretações); a terceira e última
metamorfose do espírito seria o formato de criança, aquela que poderia dizer “sim!” outra vez,
59 “Essa tenuidade da linguagem do haicai, certamente em relação com este fenômeno flagrante: o mais das vezes, impossível dizer por que tal haicai me agrada, combina comigo, por que ‘funciona’, faz ‘tilt’ + intuição de que aquilo não agrada forçosamente aos outros. Em todo caso, para delinear um esboço de explicação do ‘bom’ haicai, sou sempre obrigado a me referir, não a um Belo em si, mas a uma disposição absolutamente pessoal: a mais fina das especificações individuais” (Ibidem. p.171) 60 O que também não quer dizer que se exclui a tradição interpretativa que se tem no ocidente, mas que ela não é a única reação possível diante de um acontecimento qualquer. 61 BARTHES, Roland. A preparação do Romance I: da vida à obra. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.163. 62 Ibidem. p.164. 63 Ibidem. p.166. 64 Barthes, no caso, usa de uma parábola zen para explicar a situação, diz ela: “num primeiro momento: as montanhas são montanhas; segundo momento (digamos de iniciação): as montanhas não são mais montanhas; terceiro momento: as montanhas voltam a ser montanhas” (Ibidem. p.167)
28
mas, diferente do camelo, não é um sim de assentimento, mas um sim criativo (paralelo:
volta-se a encarar o haicai como aquilo que ele é, com aquela experiência irredutível mas
agora lê-se aquilo na irredutibilidade que é).
*
No final de seu curso, aquele que seria o momento de falar sobre a transição do haicai
para o romance, Barthes, pela falta de tempo, abandona seus propósitos iniciais e se detém
apenas na demonstração da presença da escrita da anotação (categoria da qual o haicai faria
parte) nos romances de Joyce e Proust e como essa nota moderna teria como diferencial “algo
que se relaciona com a Verdade”65. Diz Barthes, em relação às epifanias Joycianas, que elas
estão relacionadas à qüididade (whatness) das coisas, ou seja, bem próximo do haicai, mas
que, por outro lado, não seriam experiências apenas da ordem da percepção. Elas são
experiências que “podem também ser [além de um é isso!] de plenitude, de paixão (...), ou
vulgares, desagradáveis”66, ou seja, são momentos que vêm em alguma medida com algum
afeto que acompanha essa qüididade e que, consequentemente nos fazem experienciar
também esses afetos.
No caso de Proust, essa epifania se radicaliza ainda mais, não sendo simplesmente um
“é isso” com uma afecção. Em Proust, esse momento “epifânico” não está centrado em um
desvelamento da qüididade, mas àquilo que está apenas indiciado na epifania joyciana, tendo
seu centro mesmo na verdade do afeto. E o leitor, aquele que lê no meio da sua leitura, num:
momento de uma história, de uma discrição, de uma enunciação, nó repentino do cursus da leitura, que adquire um caráter excepcional: conjunção de uma emoção que submerge (até as lágrimas, até a agitação) e de uma evidência que imprime em nós a certeza de que aquilo que lemos é a verdade (foi verdade).67
E nesse momento de verdade:
a própria Coisa é atingida pelo Afeto; nada de imitação (realismo), mas coalescência afetiva; estamos aqui, historicamente, no pré-socratismo, num outro pensamento: dor e verdade estão no ativo (...) Momento de verdade = Momento do Intratável: não se pode nem interpretar, nem transcender, nem regredir; Amor e Morte estão ali, é tudo o que se pode dizer.68
65 Ibidem. p. 206. 66 Ibidem. p. 208. 67 Ibidem. pp.215-216. 68 Ibidem. p.221..
29
Mas, para Barthes, isso não é exclusividade de Proust, pois após esse parágrafo a frase
seguinte diz: “E é a própria palavra do haicai” 69, ou seja, há aí uma relação nebulosa que
Barthes não entra em detalhes.
*
Algumas questões se impõem, porém, após a leitura desse texto, talvez até pela sua
própria natureza de ser um curso: onde estaria a necessidade de superação do haicai pelo
romance, se no fim ele equipara as três formas, haicai, epifania e momento de verdade? E há
também um momento em que Barthes usa o termo verdadeiro como se o momento de
verdade que um texto providencia na sua leitura fosse de alguma parte superior a um
momento real (de tilt) como recepção. Quanto à primeira pergunta, realmente não fica claro
no texto a diferença de valor entre essas três formas que a epifania e o momento de verdade
talvez fossem mais valorosos por ultrapassarem a mera percepção, indo em direção a uma
verdade do afeto (sugerido em Joyce e realizado em Proust). Quanto à segunda questão,
Barthes não chega a elaborar propriamente uma distinção do que eles sejam – apenas os põem
como opostos na frase “Porque é verdadeiro (e não apenas real ou realista?)” 70 – pois se este
(o real), parece, se referir a uma experiência meramente perceptiva, “contradição entre duas
categorias71: contradição breve, fulgurante, espécie de flash lógico cuja rapidez não tem
tempo de fazer sofrer.”72 (caso que parece ser o do haicai na maior parte das vezes – que este
diria respeito ao mundo, à vida, mas que não remeteria a uma experiência tão intensa quanto a
produzida pelo romance proustiano) e aquele (o verdadeiro) estaria ligado, de alguma forma,
também à uma experiência afetiva que causaria um “arrebatamento emotivo, grito visceral (...)
no momento de verdade, o sujeito (que está lendo) toca nu o ‘escândalo’ humano: que a morte
e o amor existem ao mesmo temor”73. Nesse caso, essa experiência se daria no romance. No
entanto, me parece lícito perguntar até que ponto não podemos ter essa experiência no haicai
também e até que ponto é possível ter qualquer experiência perceptiva (e lembremos aqui que
Barthes é autor de um pequeno livro chamado O prazer do texto que tematiza justamente a
relação afetiva que se tem com textos) isoladas de uma experiência afetiva, até que ponto não
69 Ibidem. p. 221. 70 Ibidem. p. 218. 71 Categorias que Barthes havia instaurando, dizendo que o espaço-tempo do haicai é o Ma japonês, ou seja, o momento entre, o espaçamento entre duas categorias (Barthes no caso usa os pares instante/lembrança, movimento/imobilidade e contingência/circunstância). 72 BARTHES, Roland. A preparação do Romance I: da vida à obra. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.100. 73 Ibidem. p.220.
30
podemos nivelar haicai, epifania e “momento de verdade” e atribuir a diferença à
sensibilidade de Barthes?
Um final provisório
She would try then not to think too strenuously about her whole life. She would try to live life one day at a time, like an alcoholic – drink, don’t drik, drink. Perhaps she would take drugs.
Lorrie Moore, Willing
Escrever sobre como a literatura forma o nosso mundo, engrandece, faz ele valer a
pena. Este foi aqui meu alvo, ainda que talvez tenha apenas conseguido dar um início a essa
trama. A literatura não é nunca, para mim, apenas uma diversão qualquer74, ela é antes de
tudo aquilo que vai dar forma, vai dar sentido a muito disso que acontece. A literatura é uma
carta de amor à vida, a nossa vida, como Barthes fala. O amor está no fazer, faz-se por amor
[à vida]. A literatura nos mostra o mundo, mas não só o mundo como o (re)conhecemos,
mostra um mundo que não seria revelado sem ela e que talvez sempre esteve lá.
Poderia simplesmente dizer que a literatura nos permite (como o cinema, as artes
plásticas, os quadrinhos, o futebol, o trabalho de um burocrata-qualquer, a ideologia [esquerda,
direira, religiosa]) ver o mundo, não só ver, experienciá-lo, senti-lo e expandir também todas
essas outras formas de ver/sentir (que também aumentarão todos os outros modos de ser). É,
portanto, também uma experiência sempre outra, sempre uma que não a nossa, que não a que
conhecemos ou que já foi convencionada. A literatura75 nos permite sentir na pele, talvez com
mais força que qualquer outro meio, essa experiência do outro. Ela mexe conosco, pois, entre
muitos “pois”, ela consegue nos mostrar o real de uma forma que nunca tínhamos pensado
antes, ela nos faz reconhecer em algo que nunca pensamos ou sabíamos: que a vida está ali
(um ali que não para de se multiplicar e se diferenciar), que a vida é isso.
A questão que tentei tratar aqui, portanto, está longe de ser exaurida. Além de ter
apenas mencionado de relance alguns autores eminentes, como é o caso de Auerbach e de
74 O que não diminui a importância do prazer, o prazer é fundamental nessa dinâmica. 75 E aqui talvez seja possível dizer que não só a literatura, mas todas as artes.
31
Costa Lima. O primeiro com o seu monumental Mimesis: essa história da literatura que ele
põe como uma história das representações da realidade no ocidente e o segundo que numa
inspiração auerbachiana tenta entender a evolução do conceito de mimesis e que tenta
retrabalhá-lo a partir de um contexto contemporâneo. Mas prova suficiente da
inesgotabilidade desse tema pode ser vista apenas olhando internamente. Exemplo disso são
as inúmeras questões que surgiram ao longo do trabalho mostrando a todo o momento que o
buraco é mais embaixo. No entanto, me parece de suma importância começar a dar os passos,
ainda que esses passos não tenham um chão firme onde pisar, ainda que esses passo sejam
ainda muito tímidos.
32
REFERÊNCIAS
AUERBACH, Erich. Mimesis: A Representação da Realidade na Literatura Ocidental. São Paulo: Perspectiva, 2009. BENJAMIN, Walter. “Primeiro Esboço | Passagens Parisienses <I>”. In: Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009. BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. ______________. Fragmentos de um discurso amoroso. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ______________. Aula. São Paulo: Cultrix, 2007. ______________. A Preparação do Romance I: da vida à obra. São Paulo: Martins Fontes, 2005. COSTA LIMA, Luiz. Mímesis: Desafio ao Pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. NIETZSCHE, Friedrich. Assim Falava Zaratustra. Petrópolis: Vozes, 2008. PORTELLA, Eduardo. Teoria da Comunicação Literária. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970. WOOD, James. How fiction works. Londres: Vintage Books, 2009