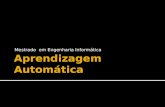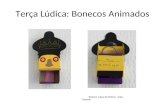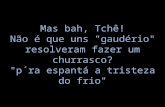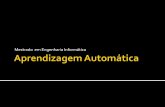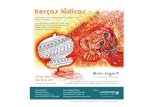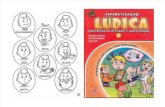Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar · que dá valor e tira benefícios da...
Transcript of Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar · que dá valor e tira benefícios da...
-
Prtica de Ensino Supervisionada em Educao Pr-Escolar
Joana Cristina da Conceio Campos Morgado Gonalves
Relatrio Final de Estgio apresentado Escola Superior de Educao de
Bragana para obteno do Grau de Mestre em Educao Pr-Escolar
Orientado por
Maria Angelina Sanches
Bragana
2015
-
I
Dedicatria
minha me,
pela coragem e fora que nos transmite.
-
II
Agradecimentos
Este trabalho resultado de um ano de muito esforo. Conciliar os estudos,
aulas, exames, estgio, o trabalho e a vida familiar nem sempre foi fcil. A todos
aqueles que me apoiaram neste percurso quero manifestar o meu agradecimento.
Em primeiro lugar agradeo minha orientadora Professora Doutora Angelina
Sanches, pela disponibilidade, ateno dispensada, pacincia e dedicao.
s educadoras cooperantes, Ana Lusa e Laurinda Teresa pela total
disponibilidade e apoio.
s minhas colegas de trabalho, Ana Rita, Ins e, em especial, Lcia por toda a
amizade, incentivo e apoio.
s instituies que to bem me acolheram e que tornaram possvel este trabalho.
s crianas que participaram neste estudo e sem as quais este trabalho no teria
sido possvel.
Ao meu filho Rafael pelo seu sorriso. Desculpa pelos minutos em que no te
dediquei toda a ateno que merecias.
minha famlia, em particular, os meus pais e minha irm por me
incentivarem a adquirir toda a minha formao ps-licenciatura. Por serem um exemplo
de fora e de apoio incondicional, mesmo quando a vida nem sempre fcil.
Ao meu marido, Lucas, pelo apoio, compreenso e encorajamento, durante esta
fase.
-
III
Resumo
Considerando a relevncia que o ldico pode assumir no processo de
aprendizagem das crianas procuramos, neste relatrio, centrar a reflexo sobre as
oportunidades promovidas ao nvel da ao educativa pr-escolar para as crianas
aprenderem atravs do brincar.
Nesta linha, procurmos aprofundar conhecimentos que nos permitissem
perceber modos de entender a criana e a infncia, o processo de aprendizagem e de
construo da cidadania, bem como o papel do ldico nestes processos e as linhas de
orientao curricular para a ao educativa pr-escolar.
Do ponto de vista das opes metodolgicas, recorremos investigao-ao
enquanto estratgia de estudo, possibilitando-nos assumir o papel de observador
participante, o que nos possibilitou compreender melhor a nossa ao e ir reajustando-a
para poder apoiar a progresso das crianas e atender curiosidade manifestada. O
principal objetivo centrou-se em aprofundar de conhecimentos sobre como articular o
ldico com a abordagem integrada das diferentes reas e domnios de contedo
curricular.
Os resultados deixam perceber a importncia a atribuir organizao do
ambiente educativo, no sentido de uma continuada melhoria, bem como aos processos
interacionais para apoiar, respeitar e valorizar a atividade ldica das crianas. Os dados
relevam, ainda, a importncia de sensibilizar os pais para a valorizao do brincar
enquanto meio de aprendizagem das crianas da faixa etria pr-escolar.
Palavras-chaves: Educao pr-escolar; ao educativa; crianas, ldico e
aprendizagem.
-
IV
Abstrat
Considering the importance that the playful can assume in the learning process
of children we seek, in this report, to focus reflection on the opportunities promoted at
the level of the pre-school educational activity for children to learn through play.
In this line, we have tried to deepen knowledge that allow us to realize the child
understand modes and childhood, the learning process and the construction of
citizenship, as well as the role of playfulness in these processes and curricular
guidelines for pre-school educational activity.
From the point of view of methodological options, we resort to action research
as a strategy, enabling us to assume the role of watcher participant, which allowed us to
better understand our action and readjust it to support the progression of children and
meet the curiosity manifested. The main goal focused on deepening knowledge on how
to articulate the playful with the integrated approach of the different areas and areas of
curricular content.
The results show the importance to be attributed to the Organization of the
educational environment in the sense that an ongoing improvement, as well as to
interactional processes to support, respect and enhance the recreational activity of
children. The data reveals also the importance of sensitizing parents to the value of play
as a means of learning of children of pre-school age.
Keywords: Pre-school education; educational action; kids, playful and learning.
-
V
ndice Geral
Dedicatria......................................................................................................................... I
Agradecimentos ................................................................................................................ II
Resumo ........................................................................................................................... III
Abstrat ............................................................................................................................ IV
Introduo ......................................................................................................................... 1
I Fundamentao terica ................................................................................................ 3
1. As crianas e a infncia: olhares e perspetivas ......................................................... 3
2. Os Direitos das Crianas ........................................................................................... 5
3. As crianas como construtoras de conhecimento e cultura ...................................... 6
4. Aprendizagem da cidadania: desafios para a educao de infncia ......................... 8
5. O papel do educador no processo educativo ........................................................... 12
6.(Re)pensando a importncia do ldico na educao de infncia ............................. 14
6.1. A educao de infncia como espao ldico e aprendizagem ......................... 14
6.2. O ldico no processo de aprendizagem da criana: cruzamento de perspetivas ... 17
6.3. Orientaes Curriculares: ludicidade e aprendizagem na educao pr-escolar
................................................................................................................................. 21
II- Opes metodolgicas ............................................................................................... 27
1. Contextualizao e objetivos do estudo .................................................................. 27
1.1. A investigao-ao como opo metodolgica .............................................. 28
1.2.Tcnicas e instrumentos de recolha de dados.................................................... 30
1.3. Organizao e anlise dos dados ...................................................................... 33
III - Caracterizao dos contextos de prtica educativa ................................................. 35
1. Contexto de creche .................................................................................................. 35
1.1.Contexto Institucional ....................................................................................... 35
1.2. O grupo de crianas .......................................................................................... 36
1.3.Organizao do ambiente educativo ................................................................. 36
1.4.A organizao do tempo A rotina diria ........................................................ 38
1.5. Descrio e anlise da prtica educativa .......................................................... 38
2. Contexto de educao pr-escolar .......................................................................... 41
2.1. Contexto institucional ...................................................................................... 41
2.2. O grupo de crianas .......................................................................................... 42
-
VI
2.3. A organizao do ambiente educativo ............................................................. 44
2.4. Organizao do tempo A rotina diria .......................................................... 44
2.5. O espao/sala .................................................................................................... 46
2.6. Espao exterior ................................................................................................. 53
2.7. Quadros reguladores do quotidiano pr-escolar ............................................... 54
IV - Descrio e anlise da ao educativa em contexto Jardim-de-Infncia ................ 57
1. Observar e descobrir: a brincar fazer cincia .......................................................... 57
2. O jogo como estratgia de aprendizagem das regras de trnsito ............................ 66
3. O brincar no tempo de atividades nas reas da sala ................................................ 67
3.1.Representao de papis.................................................................................... 69
4.Explorao do espao exterior ................................................................................. 72
5. Dedicando um dia ao brinquedo ............................................................................. 76
V- Reflexo Final ........................................................................................................... 81
Bibliografia ..................................................................................................................... 85
-
VII
ndice de Figuras
Figuras 1 e 2: rea da casa e dos jogos 1 ....................................................................... 37
Figuras 3 e 4: rea da garagem e do escorrega 1 ........................................................... 37
Figura 5: Planta da sala Pr-escolar 1 ............................................................................. 48
Figura 6: Mesas de trabalho em grupo 1 ........................................................................ 49
Figura 7: rea da casa 1 ................................................................................................. 50
Figura 8: rea dos jogos 1 .............................................................................................. 50
Figura 9: rea dos carros 1............................................................................................. 51
Figura 10: rea do computador 1 ................................................................................... 51
Figura 11: rea da biblioteca 1 ...................................................................................... 52
Figura 12: rea das cincias 1 ........................................................................................ 53
Figuras 13 e 14: Parque infantil 1 ................................................................................... 54
Figura 15: Colher a terra para brincar e poder semear 1 ................................................ 58
Figuras 16, 17 e 18: Sementeiras e crescimento de plantas 1......................................... 58
Figura 19: Observao com lupas 1 ............................................................................... 63
Figura 20, 21 e 22: descoberta do meio local 1 .......................................................... 64
Figura 23 e 24: Experincia de fazer sabonetes 1 .......................................................... 65
Figura 25: Experincia de fazer bolas de sabo 1 .......................................................... 65
Figura 26: Brincadeiras na rea da garagem 1 ............................................................... 71
Figuras 27 e 28: Explorao do espao exterior 1 .......................................................... 73
Figuras 29 e 30: Explorao de brinquedos 1 ................................................................ 74
Figuras 31, 32 e 33: Explorao de novos brinquedos 1 ................................................ 74
Figura 34, 35 e 36: Dia da famlia 1 ............................................................................... 76
Figura 37 e 38: Dia do brinquedo 1 ................................................................................ 78
Figuras 39, 40 e 41: O Panda e a Dr. Brinquedo 1 ........................................................ 79
file:///C:/Users/a/Desktop/REl%20.PES%20Defendidos%202015/3_Joana_Relatrio%20Final%20verso%20prof%20(Reparado).docx%23_Toc438055049
-
VIII
ndice de Tabelas
Tabela 1: Previses sobre flutua ou afunda 1 ................................................................. 61
Tabela 2: reas de atividade preferidas pelas crianas 1 ............................................... 68
Tabela 3: Categorizao de jogos 1 ................................................................................ 75
Tabela 4: Brinquedos preferidos de pais e filhos 1 ........................................................ 77
ndice de grficos
Grfico n 1 - Habilitaes Acadmicas 1 ...................................................................... 43
-
Introduo
O presente trabalho surge no mbito do Mestrado em Educao Pr-Escolar
ministrado pela Escola Superior de Educao de Bragana e inscreve-se na reflexo
sobre a prtica profissional, que desenvolvemos e sobre a qual procuramos ampliar
conhecimentos ao nvel da Educao Pr-Escolar.
De acordo com o estabelecido na Lei-Quadro da Educao Pr-Escolar (Lei
n5/97, de 10 de fevereiro) este nvel educativo definido como a primeira etapa da
educao bsica e complementar da ao educativa da famlia, com a qual deve
estabelecer cooperao, com vista a favorecer o desenvolvimento da criana a nvel
pessoal e social. Por sua vez, as Orientaes Curriculares para a Educao Pr-Escolar
[OCEPE] (Ministrio da Educao/Departamento de Educao Pr-Escolar [ME/DEB],
2002) preconizam que deve enveredar-se por uma pedagogia baseada na cooperao e
valorizar o carcter ldico de que se revestem muitas aprendizagens, pois o prazer de
aprender e de dominar determinadas competncias exige tambm esforo, concentrao
e investimento pessoal (p.18).
O jardim-de-infncia cada vez mais o local onde as crianas passam um grande
nmero de horas ativas, pelo que cabe ao educador a responsabilidade de oferecer
condies para que as crianas se sintam protegidas, integradas e desafiadas a participar
nas atividades propostas, mas tambm nas quais pode assumir o papel de construtora de
conhecimentos. Sendo o brincar uma das atividades principais para uma criana
pareceu-nos fundamental perceber de que modo as atividades ldicas/jogo/brincadeira
podem contribuir para o desenvolvimento das crianas.
Em termos de estrutura o trabalho encontra-se organizado em cinco captulos.
No captulo I, integramos a fundamentao terica, na qual procuramos
compreender de que modo a infncia vista pela sociedade e qual o seu papel na
mesma. Abordamos ainda os direitos da criana, relevando que estes passam pelo
direito a viver num ambiente social e familiar rico que a protege e acolhe, respeitando a
sua fragilidade e o seu papel na sociedade. Neste contexto entende-se a criana como
construtora de conhecimento e de cultura e como cidado com direitos e deveres
(Dahlberg, Moss, Pence, 2003).
A abordagem dos tpicos anteriormente referidos conduzem-nos a esclarecer
qual o papel do educador no processo educativo.
-
Introduo
2
Trata-se de aspetos que nos parecem fundamentais para perceber de que forma
uma prtica educativa que inclua o ldico/jogo/brincadeira permite favorecer o
desenvolvimento e a aprendizagem das crianas da faixa etria pr-escolar. Nesta linha
tentamos perceber de que forma a educao de infncia pode ser vista como um espao
que d valor e tira benefcios da atividade ldica para a construo e desenvolvimento
de aprendizagens, tendo em conta a perspetiva de autores como Piaget, Vygotsky,
Bruner e Froebel.
No Captulo II, descrevemos as opes metodolgicas, contextualizando a
abordagem investigativa pela qual enveredamos, sendo esta de natureza qualitativa, os
objetivos e questes de pesquisa bem como os procedimentos de recolha e anlise da
informao.
No captulo III procedemos caracterizao dos contextos educativos em que
desenvolvemos a prtica educativa, incidindo num primeiro momento sobre o contexto
de creche e num segundo sobre um contexto de jardim-de-infncia.
No captulo IV, descrevemos e analisamos a informao recolhida sobre a prtica
educativa, dando conta de um conjunto de experincias de aprendizagem que
desenvolvemos ao longo do ano letivo 2014/2015.
Por ltimo, inclumos as consideraes gerais, refletindo sobre a globalidade da
prtica educativa desenvolvida e os dados emergentes da mesma.
-
3
I Fundamentao terica
Neste captulo abordamos um conjunto de tpicos relacionados com a infncia, a
educao pr-escolar e a atividade ldica, no sentido de mobilizar conhecimentos que
nos ajudem a fundamentar melhor a ao educativa e investigativa que desenvolvemos.
Assim, comeamos por refletir sobre modos de entender a infncia e as crianas
no contexto atual, os seus direitos e perspetivas de atendimento. A seguir, debruamo-
nos sobre a importncia do ldico no processo de ensino aprendizagem das crianas e
sobre as orientaes curricular para a etapa educativa pr-escolar.
1. As crianas e a infncia: olhares e perspetivas
A construo de uma sociedade prspera est ligada ao investimento que se faz
nas crianas, nos primeiros anos de vida, e, por conseguinte, aos modos como
entendido o seu papel enquanto elementos da mesma. Nesta linha, importa lembrar que,
como afirma Fernandes (2009), as crianas tm um espao e um tempo que, apesar das
especificidades culturais, sociais, econmicas, configuradoras de complexidades e
dissemelhanas significativas entre os seus elementos, marcam uma etapa de vida para
qualquer indivduo e, determinam tambm a organizao de qualquer sociedade (p.25).
Merece ainda considerar, como tambm defende a autora (2005), a necessidade de
considerar as crianas como atores sociais e a infncia como grupo social com direitos,
para o que o movimento de reconceptualizao da infncia, iniciado na dcada de 80 do
sculo XX, tem vindo a contribuir atravs de estudos na rea da sociologia da infncia.
Quando falamos de crianas, no nos reportamos ideia, mas a pessoas, que so ativas,
sobretudo no seu quotidiano de vida. Nesta linha de pensamento Dahlberg, Moss e
Pence (2003) alertam para o modo como se encara e conceitua a criana e a infncia,
considerando que a natureza dessa perspetiva influencia a prtica pedaggica promovida
nas instituies dedicadas primeira infncia. Sendo, nestas idades (0 a 6 anos) que se
integra a nossa formao e se incluiu a nossa ao educativa, importa tomarmos em
considerao esta e outras perspetivas que podem ajudar-nos a melhor compreender
como pensar e orientar a prtica educativa em ordem construo de respostas
formativas de qualidade.
Segundo os autores (idem) a criana deve ser vista como co-construtora de
conhecimento, identidade e cultura, e no como mera reprodutora dos mesmos. No
-
Fundamentao Terica
4
sentido de ilustrar essa perspetiva, citando Malaguzzi (1993)1, Dahlberg, Moss e Pence
(idem) sublinham a importncia de enveredar-se por uma imagem da criana como rica
em potencial, forte, poderosa, competente e, mais que tudo, conectada aos adultos e s
outras crianas (p. 68). Neste sentido, os autores (idem) alertam para a influncia que
as mudanas sociais tm vindo a exercer na vida das crianas, como a que diz respeito
integrao noutras instituies, para alm da famlia, contribuindo para o
reconhecimento da infncia como um importante perodo de vida. Nesse processo no
pode ainda, deixar de levar-se em conta que viver nas sociedades de hoje, significa que
as crianas tm de se ajustar a alto grau de complexidade, diversidade e contnua
mudana com que se apresentam. Nesta linha, como tambm defendem Dahlberg, Moss
e Pence (idem):
a pedagogia da primeira infncia pode ser entendida como permitindo s
crianas assumir a sua verdadeira identidade, sua identidade essencial, e a
reproduo de conhecimento e de valores culturais, anteriormente
predeterminados pela religio e, posteriormente, pela cincia objetiva e pela
razo, supostamente desprovidas de valor (p. 77)
Pressupe-se que cada um, desde a infncia, se envolva na assuno da
responsabilidade de fazer escolhas e tomar decises, tornando-se agente moral de si
prprio.
A criana passa assim, a ser considerada cada vez mais, como agente/construtor
dos seus prprios conhecimentos e da sua identidade. Pretende-se que conquiste
autonomia para dar a sua opinio, apresentar os seus pontos de vista e guiar as suas
aprendizagens. Para tal, requer-se que a criana, desde tenra idade, possa iniciar-se no
assumir de responsabilidade em relao a si prpria e sociedade, em funo das suas
possibilidades. Dahlberg, Moss e Pence (2003) referem que tais factos exigem muito da
pedagogia, no sentido de criar um ambiente educativo que favorea a reflexo crtica,
que estimule a criatividade e a responsabilidade, e que ponha os relacionamentos em
primeiro lugar, sendo o conhecimento, a identidade e a cultura (re)constitudos atravs
da relao com os outros, num processo de co-construo.
No mbito da sociologia da infncia investiga-se a criana como um agente
social e defende-se que deve ser protagonista da sua prpria vida. Por isso, importa
reconhecer-se que, como preconizam Cunha e Gonalves (2015), as crianas so,
assim, hoje, produto e produtores de cultura, tm papis e funes (reais e simblicas)
1 A ideia expressa por Malaguzzi refere-se ao modo de entender as crianas segundo o modelo curricular Reggio Emlia, promovido no mbito da educao pr-escolar.
-
Fundamentao Terica
5
nas dinmicas familiares, nas dinmicas da vida privada e pblica, e nos novos cenrios
das relaes humanas (p.20).
Partilhando desta perspetiva, no podemos deixar de atribuir um olhar atento s
respostas educativas proporcionadas s crianas, no sentido de poderem viver
experincias educativas positivas do ponto de vista do seu bem-estar, afirmao e
progresso, considerando nesse processo os direitos que legalmente lhes so
reconhecidos. No sentido de melhor compreender essa dimenso procedemos, a seguir,
abordagem deste tpico.
2. Os Direitos das Crianas
Toda e qualquer criana devem ter direito a viver bem a sua infncia. Mas o que
ser que isto significa? Ter direito infncia ter direito a viver num ambiente familiar
e social ricos que permitam o desenvolvimento da criana a nvel intelectual e fsico.
Sendo a criana um ser, que pela sua idade se apresenta vulnervel, deve usufruir de
cuidados e de proteo social.
Se focarmos a nossa ateno no que dizem as Naes Unidas no documento
Conveno sobre os Direitos das Crianas (1989) podemos ver que os direitos das
crianas assentam em quatro pilares fundamentais. O primeiro diz respeito no
discriminao, ou seja o direito a desenvolver o seu potencial; o segundo faz referncia
ao interesse superior da criana, esta deve ser pensada em primeiro lugar em todas as
decises que lhe estejam estritamente ligadas; o terceiro pilar foca-se no direito
sobrevivncia e desenvolvimento, no direito ao acesso a servios bsicos e igualdade
de oportunidades; o quarto pilar indica que a criana deve ter voz ativa, deve ser ouvida
em relao a tudo que lhe diga respeito. Pelo referido podemos ver que a criana tem
direitos, mas tambm que lhe so incumbidas responsabilidades. Todavia, no basta que
as sejam reconhecidos os direitos da criana, importante que estes sejam tornados
efetivos no seu quotidiano. Assim, e no que se refere participao da criana,
Fernandes (2009)2 alerta que, muitas vezes, esta se apresenta como algo ensinado na
escola, como uma abstrao, sem qualquer significado praxeolgico no quotidiano das
crianas (p. 44), aspeto que, em nosso entender, deve merecer a ateno de todos, no
sentido de que as crianas possam aprender a participar participando. Neste mbito,
importa ainda considerar que, como afirma Carmo (2014), a aprendizagem da
participao, ser tanto mais interiorizada quanto precoce for (p. 174).
2 A autora retoma aqui o pensamento de Hart (1992).
-
Fundamentao Terica
6
Centrando de novo a nossa ateno no que nos diz a Conveno sobre os
Direitos da Criana, nos artigos 13, 14, 28 e 29 fcil perceber que, desde cedo, o
ser humano deve ter direito descoberta, a dizer o que pensa, e expressar-se livremente,
liberdade de pensamento, a viver em sociedade junto com outras pessoas e, acima de
tudo, ter direito educao. A uma educao que tenha objetivo desenvolver a sua
personalidade, os seus talentos e aptides intelectuais, fsicas e socio-afetivas.
Nesta linha, como defende Fernandes (2009), importante enveredar por um
paradigma que associe direitos de proteo, proviso e participao de uma forma
interdependente, ou seja, () um paradigma impulsionar de uma cultura de respeito
pela criana cidad: de respeito pelas suas vulnerabilidades, mas de respeito tambm
pelas suas competncias (p. 48). Da que o promover uma proteo geradora de
dependncia e de falta de poder pode ter implicaes negativas no desenvolvimento da
criana, limitando o exerccio do seu direito participao. Retomando a ideia de
Verhellen (1997), Fernandes defende que a melhor estratgia para aumentar a
competncia das crianas ser atravs da sua participao e envolvimento (p. 48).
Assim, e para que possa ser consolidada uma imagem de infncia participativa,
torna-se necessrio, corroborando a opinio da autora (idem), que os processos de
participao estejam presentes de forma sistemtica na organizao do seu quotidiano,
sendo um dos passos iniciais e fundamentais o desenvolvimento de uma cultura de
respeito pelas opinies da criana (p. 49). Nesse sentido, importante proporcionar-lhe
informao que lhe permita a formulao de opinies adequadas e criar oportunidades
para expressar-se, explorar problemas e dvidas, superar ansiedades e conhecer os
resultados das suas decises.
3. As crianas como construtoras de conhecimento e cultura
A infncia portuguesa tem vindo a sofrer profundas mudanas a nvel cultural,
como aponta Sarmento (2008) realando duas dimenses fundamentais: na primeira
destaca o aumento de crianas a frequentarem instituies educativas logo desde o pr-
escolar, o que conduz a uma infncia mais escolarizada; na segunda fala-nos da
presena dos adultos nos espaos culturais infantis, uma vez que as crianas se
encontram em espaos, por eles, supervisionados e pelo envolvimento das crianas em
jogos e brincadeiras pr-estruturadas sem superviso adulta, como por exemplo, nos
jogos eletrnicos e na internet.
-
Fundamentao Terica
7
As duas dimenses apontadas pelo autor levam-nos a perceber que no
desenvolvimento das culturas infantis esto cada vez menos presentes as brincadeiras e
jogos espontneos entre as crianas sem superviso de um adulto.
O desenvolvimento das culturas infantis est menos enraizada em prticas
espontneas de interao com pares, em jogos, brinquedos e brincadeiras inventados ou
adaptados pelas crianas e em espao tempos de regulao autnoma, -
configuradores de uma ordem social das crianas (Ferreira, 2004 citado em Sarmento
2008) e mais ancorada em contextos estruturados e prticas sociais programadas.
No que diz respeito relao que o adulto estabelece com criana, de ter em
conta que, como defendem Dahlberg, Moss e Pence (2003), ela como aprendiz, um
co-construtor ativo (p. 72). ainda de considerar que a aprendizagem uma atividade
cooperativa e comunicativa, na qual as crianas constroem conhecimento, do
significado ao mundo, junto com adultos e, igualmente, importante com outras
crianas (idem, ibidem).
Assim, o conhecimento emerge num processo de construo social, no qual as
crianas se apesentam como agentes ativos, integrando experincias e interpretando-as,
de acordo com as suas possibilidades e o apoio de que usufrui. Da a importncia a
atribuir ao ambiente educacional em que se inclui. Neste mbito, Malaguzzi (1999)
alerta para as potencialidades que as crianas possuem de aprender e para a importncia
de usufrurem de ambientes que lhes facilitem tirar partido delas e, por conseguinte,
favorecerem o seu desenvolvimento. Nesta linha, o autor (idem) lembra que o que as
crianas aprendem no ocorre como resultado automtico do que os lhes ensinado,
mas, que isso se deve em grande parte prpria realizao crianas como
consequncia das suas atividades e de nossos recursos (p. 76). de considerar, como
tambm afirma o autor (idem) que quanto mais ampla for a gama de possibilidades que
oferecemos s crianas mais intensas sero as suas motivaes e mais ricas as suas
experincias (p. 90). Para promover um ambiente educativo que se apresente nesta
linha, Malaguzzi (idem) sugere que devemos ampliar a variedade de tpicos e
objetivos, os tipos de situaes que oferecemos e o seu nvel de estrutura, os tipos e a
combinao de recursos e materiais e as possveis interaes com objetos, companheiros
e adultos (ibidem). O relacionamento e a afetividade que se estabelece com as crianas
merecem ser tambm levados em considerao, pois influenciam a sua motivao e as
aprendizagens que realizam.
-
Fundamentao Terica
8
Perfilhando estas ideias, importa promovermos esforos para assegurar s
crianas oportunidades de assumirem um papel ativo na construo do seu
conhecimento e da sua cultura, podendo ter voz ativa, ouvir e ser ouvidas, relacionar-se
e interagir com pares e outros membros da instituio e da comunidade. Estamos,
portanto, perante uma imagem da criana, como pessoa ativa e competente, que como
cidad tem direitos que devem ser respeitados. Esta imagem de criana remete para uma
pedagogia participativa que, no nosso pas, tem vindo a ser, particularmente, difundida
por Oliveira-Formosinho (2007).
4. Aprendizagem da cidadania: desafios para a educao de infncia
Desde finais dos anos 90 do sculo XX, que o conceito de cidadania tem vindo a
ganhar destaque nos documentos orientadores das polticas de educao e de formao
(Azevedo, coord., 2007) do nosso pas.
O conceito de cidadania aquele em que h um envolvimento permanente, em
que a pessoa/cidado tem plena posse dos seus direitos civis e polticos e participa em
iniciativas exercendo os seus direitos e deveres. Como refere Vasconcelos (2007) ser
cidado pressupe identidade e pertena mas, tambm, o sentido solidrio de
participao numa causa (casa) comum (p.110).
Para o exerccio da cidadania necessrio, como aponta Maj (2002), que o
cidado conhea o meio em que est inserido e tambm tenha noo dos problemas
globais. Deste modo necessrio viver com valores que conduzam ao bem-estar geral
para que possa haver diminuio das desigualdades sociais.
Estando o ser humano desde que nasce inserido numa sociedade com regras, a
famlia e a escola devem ter um papel fundamental na educao para a cidadania. Como
revela Vasconcelos (2007, citando Oliveira Martins) a escola um locus fundamental
de educao para a cidadania, de importncia cvica fundamental, no como uma
antecmara para a vida em sociedade mas constituindo o primeiro degrau de uma
caminhada que a famlia e a comunidade enquadram (p.111).
Neste processo no podemos descurar o papel primordial da famlia. Como
salienta Vasconcelos (2007) a famlia o primeiro espao de afeto e segurana, por tal,
considerada como o primeiro agente de educao para a cidadania. A autora (idem)
refere que seja qual for o tipo de famlia, tradicional, monoparental, acolhimento ou
outra, o que fundamental que a famlia seja exemplo de participao na vida cvica,
de ateno ao que a cerca, de abertura e solidariedade (p. 112).
-
Fundamentao Terica
9
Quando a criana, por vrias razes, passa a frequentar o jardim-de-infncia este
deve proporcionar s crianas um alargar de fronteiras. Deve conduzir as crianas a
serem cidados ativos para que a sociedade do futuro possa ser mais rica que a atual.
O jardim-de-infncia como preconiza Vasconcelos (2007) enquanto organizao
social participada deve proporcionar s crianas as suas primeiras experincias a nvel
democrtico. A criana ao integrar um grupo passa a tornar-se um entre outros, passa
a ter de viver, trabalhar e desempenhar tarefas de forma participada e cooperada. Para a
autora (idem) o jardim- de-infncia deve integrar a criana e respeit-la, aceitando os
valores que esta traz da famlia e contribuindo para o desenvolvimento da sua
autoestima, qualquer que seja a sua raa, religio ou se a criana tiver necessidades
educativas especificas:
O jardim-de-infncia, formando as crianas a nvel pessoal e social, educando o
seu sentido tico e esttico, prepara-as para uma efetiva prtica de cidadania:
aprendem a importncia do respeito, como difcil negociar diferentes pontos de
vista mantendo a amizade, aprendem acerca da diversidade e da igualdade de
oportunidades, da paridade entre sexos, da diversidade de culturas, da
importncia de cuidar do ambiente e da sade, interiorizando um sentido de
responsabilidade social (Vasconcelos, 2007, p.113).
Por tudo o que foi anteriormente mencionado, torna-se fundamental ter em
considerao a cidadania no que diz respeito aos processos educativos e formativos de
cada pessoa. Carneiro (2003) prope cinco dimenses essenciais para a construo de
uma cidadania mais ativa e capaz: cidadania democrtica; cidadania social; cidadania
paritria; cidadania intercultural e cidadania ambiental. Passamos de seguida a refletir
sobre cada uma delas.
No que diz respeito cidadania preciso considerar que a aprendizagem dos
valores democrticos pode e deve, como j referido anteriormente, acontecer em
diferentes contextos, como na famlia, na escola, em associaes e at em programas de
televiso. Como refere Paixo (2000) diz respeito a todas as instituies de
socializao, de formao e de expresso da vida pblica mas, naturalmente, cabe aos
sistemas educativos desenvolverem, nas crianas e nos jovens, os saberes e as prticas
duma cidadania activa (p. 11). Se olharmos o definido na Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei n. 49/2005, de 30 agosto) podemos ver que o direito educao se
traduz entre outros no direito democratizao da sociedade:
O sistema educativo um conjunto de meios pela qual se concretiza o direito
educao, que se exprime pela garantia de uma permanente aco formativa
orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso
social e a democratizao da sociedade (Captulo I, artigo 1., ponto 2).
-
Fundamentao Terica
10
Entende-se por cidadania social aquela que capaz de responder a um conjunto
de direitos e obrigaes que possibilita a participao, de forma igual, de todas as
pessoas de uma comunidade e seus padres bsicos de vida. O estado em que se
encontra a cidadania social afeta a cidadania civil e a cidadania poltica. assim,
fundamental como refere Carneiro (2003) privilegiar o desenvolvimento de um tipo de
cidadania social que parta de uma ideia concreta de justia e que permita unir esforos
para ajudar os mais fracos e carenciados a terem acesso aos recursos e s competncias
necessrias para terem uma vida digna. Pelo mencionado considera-se fundamental que
a escola e a famlia conduzam os seus educandos ao desenvolvimento de competncias
que no futuro lhes permitam serem capazes de viver em sociedade.
A promoo de uma cidadania paritria fundamental na educao para a
cidadania e importante para um democracia correta e justa. A escola tem um papel
fundamental nesta conquista uma vez que esta o local onde as crianas passam maior
parte do seu tempo ativo. Esta deve ento assumir-se como um espao rico e
impulsionador de recursos, um local onde a solidariedade, o respeito, a justia e a
responsabilidade so incutidos e trabalhados todos os dias. Como refere Vasconcelos
(2007) o jardim-de-infncia um locus fundamental de cidadania pois nele as
crianas se desenvolvem a nvel pessoal, social, tico e esttico. As meninas e os
meninos devem ter iguais oportunidades a nvel de vivncias.
Os educadores devem ser sensveis a estas temticas e trabalhar com as crianas
a aceitao das diferenas tnicas, sexuais e a equidade pois isto fundamental para o
progresso das sociedades. Refletindo sobre esta questo, Sanches (2012) alerta para o
papel transformador que pode ser assumido pela escola, requerendo-se desenvolver
esforos para tornar efetivas respostas facilitadoras de maior equidade e justia social.
Requer-se ainda que sejam garantidas, a todos, oportunidades de acesso a uma educao
de qualidade, bem como o sucesso de todos, em funo das competncias individuais,
no quadro de respeito pela diferena e de uma justa igualdade de oportunidades.
A sociedade multicultural uma realidade que sempre esteve presente nas
sociedades e que tende a aumentar, com a abertura de fronteiras, a livre circulao de
cidados entre alguns pases, bem como com os novos surtos de imigrao que se tm
verificado e dos quais os meios de comunicao nos tm vindo a dar conta. A
diversidade cultural deve ser entendida pelo lado positivo que representa, em termos de
enriquecimento das pessoas e dos contextos em que se integram. Como afirma Carneiro
(2003) a cidadania intercultural outro meio de afirmar a cultura de tolerncia e de paz
-
Fundamentao Terica
11
onde a construo identitria no tem forosamente de se fazer contra os outros
diferentes (p.267), quer isto dizer que as diferenas culturais devem ser vistas como
um enriquecimento para as sociedades a nvel cultural e lingustico. A convivncia das
diferentes culturas num mesmo espao contribui ainda para o fomentar do respeito, da
paz, da solidariedade e da justia. A cidadania ao nvel intercultural deve, tal como as
dimenses de cidadania anteriormente referidas, ser trabalhada em contexto escolar,
considerando que cada vez mais as escolas acolhem crianas de diferentes culturas.
Os mtodos de ensino devem ir a favor, e no contra, este reconhecimento de
respeito pelo outro, que pode ser diferente de si. Os professores que, por dogmatismo,
matam a curiosidade ou o esprito crtico dos seus alunos, em vez de os desenvolver,
esto a ser mais prejudiciais do que teis. Esquecendo que funcionam como modelos,
com esta sua atitude arriscam enfrentar as inevitveis tenses entre pessoas, grupos e
naes. O confronto de ideias e pensamentos, atravs do dilogo e da discusso crtica,
um dos instrumentos indispensveis educao do sculo XXI (p.77). A educao
tem o papel primordial a prestar s crianas e aos jovens para que melhor possam
entender o mundo em que se integram e o significado de ajuda, compreenso,
solidariedade e autonomia.
A cidadania ambiental definida por Nova (1994) como um processo
permanente, no qual as comunidades ganham conscincia do meio que as rodeia e
adquirem conhecimentos, valores e determinao para intervir individual ou
coletivamente na resoluo de problemas ambientais. Por este motivo necessrio que
as geraes, atuais e futuras, tenham conscincia que, tal como refere Carneiro (2003),
uma prtica de cidadania ativa tem de ter em considerao as questes ambientais e os
cidados tm de ser defensores e agentes da sua preservao.
Neste contexto Morgado et al. (2000, citado por Costa & Gonalves, 2004)
refere que a educao ambiental deve ser vista como um instrumento para
consciencializar a sociedade sobre os problemas ambientais, como forma de alterar os
valores, as mentalidades, as atitudes e de um assumir a educao ambiental como
fazendo parte da formao de cada um. Torna-se assim, fundamental que a educao
ambiental ganhe um lugar nas prticas curriculares. Segundo os autores:
A educao para a cidadania visa pois o desenvolvimento de uma conscincia
cvica como elemento fundamental no processo de formao de cidados
responsveis, crticos, activos e intervenientes, tal como no processo de
educao ambiental, que pressupe igualmente uma elevada conscincia social
activa (Costa & Gonalves, 2004. p.38).
-
Fundamentao Terica
12
Importa, assim, favorecer um processo de aprendizagem em que as crianas
possam desenvolver atitudes que apontem para uma relao tica com a natureza.
Consideramos que todas as dimenses de cidadania devem ser tidas em conta e
abordadas de forma articulada, ajudando a formar o cidado que as sociedades de hoje
requerem. Este cidado deve ser capaz de melhor se conhecer a si prprio, aos outros e
ao meio em que vive, e de intervir, a nvel individual ou cooperativo, na promoo e
melhoria da qualidade de vida para cada um e para todos. Todavia, merece ter em conta
que, como afirma Sarmento (2012), no se trata de um processo que a criana concretize
sozinha, depende do adulto para a construo do universo de referncias, de direitos e
de condies sociais em que pode ocorrer a cidadania plena (p. 49). ainda de
considerar que h muito poucos anos que a cidadania da criana tem vindo a ser
reconhecida e proclamada e tem vindo a estar ameaada e comprometida (idem).
5. O papel do educador no processo educativo
A imagem do profissional de educao de infncia, semelhana da que,
anteriormente, defendemos de criana, integra-se numa perspetiva socioconstrutivista, a
qual, corroborando a ideia apresentada por Freitas-Lus (2012), pode caraterizar-se
como a de um companheiro de viagem e de aprendizagem (p. 55), que a autora
carateriza como:
Algum que promove a participao e que valoriza a cultura e o diverso.
Algum que escuta, observa, regista, reflete o quotidiano educativo. Algum que
cuida dos seus propsitos pedaggicos, por um lado, mas tambm procura
garantir que estes no anulem as iniciativas e propsitos da criana. Algum que
reserva espao para a escuta e oferece autonomia criana para que esta
concretize o seu extraordinrio projeto de vida (idem, ibidem).
Cabe ao educador a tarefa de organizao do ambiente educativo que se requer
propcio ao bem-estar, ao e ao desenvolvimento da autonomia e iniciativa das
crianas, num clima de respeito pelos seus direitos, entre os quais se incluem o de
brincar. Importa, considerar que proporcionar um ambiente rico em oportunidades
ldicas e de aprendizagem no quer dizer dispor de materiais de jogo caros, mas sim
que se possibilite criana explorar as diferentes linguagens que a brincadeira faculta
(musical, corporal, dramtica, plstica e grfica), fazendo com que possam desenvolver
a sua criatividade e imaginao. Deve, assim, pensar-se o espao como um ambiente
rico em materiais e em oportunidades para tirar partido deles. A planificao deve ter
um controlo consciente do tempo para que promova diferentes tipos de agrupamento
das crianas (em grande grupo, pequeno grupo e individual) e, por conseguinte,
-
Fundamentao Terica
13
oportunidades diversas de interao. Neste processo importa considerar que como se
afirma nas OCEPE (ME/DEB,2002):
a relao individualizada que o educador estabelece com cada criana
facilitadora da sua insero no grupo e das relaes com as outras crianas. Esta
relao implica a criao de um ambiente securizante que cada criana conhece
e onde se sente valorizada (p.35).
Malaguzzi (1999) sublinha a importncia da criao de um clima de
relacionamento, simultaneamente real e simblico, no qual os papis de adulto e de
criana so complementares: fazem perguntas uns aos outros, ouvem e respondem (p.
79). Por sua vez, Eduards (1999), tomando tambm por base os princpios do modelo
Reggio Emlia, acentua o papel do educador centrado na criao de oportunidades de
descoberta, baseado no dilogo, na ao conjunta e na co-construo do conhecimento
da criana. Da que, como refere o autor (idem) tratar-se de uma tarefa complexa,
delicada e multifacetada, envolvendo e exigindo muitos nveis de conhecimento e auto-
exame contnuo (p. 161). Tal pressupe que os educadores prestem ateno e observem
a atividade das crianas, pois s assim podero ajud-los a encontrarem questes e
recursos que os ajudem a envolver-se em atividades ou projetos mais envolventes e
complexos. Nesta linha, de considerar que a interao com as crianas enriquece e
estimula a sua ao e pensamento.
O jogo espontneo o contexto natural para a aprendizagem e atravs dele o
educador pode encorajar, verdadeiramente, a iniciativa e o progresso da criana. Da
que os momentos de brincadeira das crianas devem ser valorizados e observados.
Como defende Ferreira (2010) ao observarmos as crianas a brincar, podemos obter
informaes essenciais a seu respeito, relacionadas com a formao pessoal e social, a
expresso e comunicao e o conhecimento do mundo. Todavia, Librio (2000, citando
Bruner) afirma que os educadores gastam pouco do seu tempo a ajudar as crianas a
brincar. Por sua vez, Kishimoto (2010) refere que a pouca qualidade da educao
infantil pode estar estritamente ligada falta de observao, registo e planeamento.
No que se refere a estas dimenses, prev-se nas OCEPE (ME/DEB, 2002), que
os educadores recorram a uma pedagogia estruturada, promovendo uma organizao
sistemtica e intencional da ao pedaggica, devendo planear o seu trabalho e avaliar o
processo e os seus efeitos no desenvolvimento e aprendizagem das crianas. Todavia,
tal como tambm se refere no documento, deve levar-se em conta o carcter ldico de
que se revestem muitas aprendizagens, bem como que o prazer de aprender e dominar
-
Fundamentao Terica
14
determinadas competncias exige tambm esforo, concentrao e investimento
pessoal (p. 18).
Vasconcelos (2009), alerta para os riscos de uma escolarizao precoce das
crianas, recorrendo ao Relatrio da OCDE, Starting Strong II (2006), que aconselha
os pases a manter as caratersticas de uma educao de infncia que tome como ponto
de partida o jogo e a expresso livre da criana (p. 19-20). Questo que segundo a
autora (idem) se coloca com acuidade no contexto portugus, para o que contribui, entre
outros fatores enunciados, os seguintes:
o risco de os educadores de infncia verem adulterado o seu papel enquanto
gestores do currculo, face excessiva regulamentao e ao mercado de
materiais educativos, frequentemente de pouca qualidade e centrados em
aprendizagens acadmicas de carcter tradicional (idem, p. 20).
Tambm Gaspar (2010) aponta para preocupaes semelhantes, mas apontando
o brincar como meio de superar esses problemas.
Trata-se de aspetos que nos merecem reflexo, no sentido do desenvolvimento
de uma prtica educativa que integre uma orientao em que o jogo/brincar das crianas
seja entendido como um meio de aprendizagem. Essa preocupao atravessou a nossa
ao e a pesquisa que sobre ela desenvolvemos e da qual damos conta neste relatrio.
6.(Re)pensando a importncia do ldico na educao de infncia
6.1. A educao de infncia como espao ldico e aprendizagem
O brincar uma das formas mais comuns de manifestao do comportamento
humano, no entanto, durante muito tempo esta atividade no foi valorizada a nvel
educativo. Todavia, tem-se verificado uma mudana de comportamentos/pensamentos
em relao ao brincar e sua importncia para o desenvolvimento de uma criana
(Gomes, 2010).
Segundo Ferreira (2004) desde a revoluo romntica do sculo XVII que se
assiste no Ocidente a uma construo social do brincar, encontrando nos saberes da
biologia e na psicologia do desenvolvimento, bem como na expanso de um mercado e
bens para a infncia e nas polticas de proteo criana, os fundamentos
legitimadores de uma definio sociopedaggica da criana que faz do brincar o
suporte essencial, positivo, espontneo e natural do seu desenvolvimento (p. 197)3.
3 A autora retoma aqui ideias de Chamboredon & Prvot (1973, 1975), Brougre (1995) e Ferreira (2000).
-
Fundamentao Terica
15
Entendido como algo intrnseco natureza da criana o brincar visto como
forma de uma atividade ldica, livre, altamente imaginativa e no produtiva
economicamente. O brincar foi, tradicionalmente, entendido como uma atividade de-
faz-de-conta em que as crianas representando aes reais e relaes entre pessoas, se
vo socializando com a vida adulta. Como reao a esta ideia, surgem outras
perspetivas, discutindo as relaes de distino ou conexo entre brincar, jogar e
trabalhar (Ferreira, 2004). Segundo Macedo (2005) pode entender-se que o jogar o
brincar num contexto de regras e com um objetivo predefinido, onde se ganha ou se
perde. No jogo as delimitaes como as regras so condies fundamentais para sua
realizao, podendo entender-se como uma brincadeira organizada, convencional, com
papis e posies definidas. Gomes (2010) faz tambm referncia a mudanas de
pensamento em relao ao brincar e sua importncia para o desenvolvimento da
criana. Por sua vez, Ferreira (idem) sublinha que, quer o brincar, quer o jogar requerem
interaes que orientam reflexivamente as aes das crianas e que semelhana de
qualquer outra relao social:
entende-se o brincar como uma forma de comunicao cultural, em que as
crianas so capazes de criar um entendimento mtuo acerca da natureza dos
objetos, dos espaos, pessoas em presena e actividades (), criando um
contexto de negociao e aco que constitui o brincar ao faz-de-conta ().
Mais (), brincar tambm uma oportunidade para as crianas se expressarem
relativamente s suas relaes sociais, de as interpretarem e de refletirem acerca
da natureza do seu papel, dos parceiros e das relaes entre os dois e uma
oportunidade para as reinterpretarem e transformarem (p. 201).
Brincar , ainda, como refere a autora (idem) uma oportunidade para fazer
amigos. Da ser importante observar como a dinmica de um jogo pode conduzir e
ajudar a construir amizades, com base em caratersticas pessoais, interesses ou
perspetivas comuns. Pode tambm entender-se o brincar como meio de alicerar ordens
sociais, permitindo aprender acerca dos sistemas cognitivo e afetivo de uma cultura
particular. Para Ferreira (2004) isto significa avanar para uma outra conceo do
brincar. A autora (idem, citando Denzin, 1971) sublinha que quando so deixadas a si
prprias, as crianas no brincam, elas trabalham para construir ordens sociais (p.
2006). Entre esses trabalhos surgem assuntos como desenvolver a linguagem para
comunicar, defender e apresentar os seus pontos de vista e construir regras de entrada e
sada em grupos sociais emergentes. As crianas entendem estes aspetos como
preocupaes srias e fazem uma clara distino entre as suas brincadeiras e o seu
-
Fundamentao Terica
16
trabalho. Assim, como refere Ferreira (2004), o que os educadores esperam e desejam
que nos espaos e tempos pr-escolares as crianas brinquem. Pode considerar-se que
brincar torna-se uma espcie de passaporte que permite compreender a
indissociabilidade entre a cultura de pares, a organizao do grupo de crianas e a
construo da(s) sua(s) ordem(ens)social(ais) (p. 207).
Importa ainda ter em considerao que brincar e jogar so aes que identificam
as crianas e que so fundamentais para o conhecimento do mundo sua volta e de si
prprias. Ao expressar-se pelo brincar do sentido ao que fazem, atribuem significado
s suas emoes e aos seus sentimentos, o que nos leva tambm a reconhecer a
importncia de acompanhar e observar esse processo. Leva-nos ainda a atribuir valor s
oportunidades ldicas de que usufruem as crianas na educao pr-escolar.
Nesta linha, no pode deixar-se de ter em conta alguns constrangimentos que a
vida moderna apresenta. preciso lembrar que se h uns anos atrs as crianas
brincavam livremente nas ruas, com o crescimento e urbanizao dos grandes centros
urbanos isto deixou de acontecer. As crianas passaram a estar, cada vez mais,
enclausuradas em casa, onde brincam sozinhas ou com irmos. Os jogos ditos
tradicionais deram lugar aos jogos eletrnicos e as brincadeiras de grupo perderam
espao para o isolamento.
Quando a criana se encontra confinada ao espao casa esta deixa de se
socializar, de criar grupos de convvio e brincadeira. Por conseguinte, nas suas
brincadeiras no precisa respeitar regras ou partilhar com outros tempos e espao de
jogo. Assim, fundamental que, quando a criana integra o jardim-de-infncia, possa,
em conjunto com colegas e educador, participar na organizao do espao e do tempo,
bem como na definio das regras de vida em grupo. Por isso, o espao deve ser
pensado e organizado de modo a que as crianas possam brincar/jogar, sob formas de
agrupamento diversas. Kishimoto (2007) defende que o jogo deve ser visto como um
pedao de cultura que a criana pode alcanar e que a manipulao de brinquedos
leva a criana ao e representao, a agir e a imaginar(p. 68).
Para Carvalho (1993) a forma natural de aprender da criana atravs da
atividade de contedo ldico (pp. 101-102). Tambm para Gomes (2010) mais do que
uma ferramenta o brincar uma condio essencial para o desenvolvimento da criana
(p.45). Ao brincar as crianas esto a desenvolver a ateno, a memria, a imitao, a
imaginao e a explorar a realidade. Esto ainda a interiorizar regras de vida em
sociedade e a viver diferentes papis sociais, bem como a estimular a curiosidade, a
-
Fundamentao Terica
17
desenvolver a confiana, a autonomia, a linguagem, o pensamento e a concentrao.
O brincar/jogar deve, acima de tudo, ser visto como uma forma descontrada da
criana aprender, construindo conhecimentos como tratando-se de um jogo que pode
fazer sentido para a criana. Como referem Cunha e Gonalves (2015), ao expressar-se
atravs do brincar, a criana d sentido ao que faz, atribui significado aos seus
sentimentos, s suas emoes e sua corporeidade (p. 22). Isso representa que
devamos atribuir importncia e procurar conhecer os sinais emitidos por cada criana no
decurso das suas brincadeiras e jogos, em grupo e individuais.
6.2. O ldico no processo de aprendizagem da criana: cruzamento de perspetivas
Foram vrios os autores que nos seus estudos sobre a aprendizagem e
desenvolvimento da criana atriburam ateno ao ldico (brincar/jogo) como meio de
construo de conhecimento, merecendo-nos reflexo as perspetivas de Piaget,
Vygotsky, Bruner e Froebel.
Jean Piaget um dos tericos mais conhecidos da rea do desenvolvimento
cognitivo podendo facilmente salientar-se na sua teoria a relao entre o
desenvolvimento cognitivo e o ldico. Para caraterizar os desenvolvimento da criana
define um conjunto de estdios: sensrio motor (0 a 2 anos); intuitivo ou pr-operatrio
(2 a 7 anos); operaes concretas (7 a 11 anos) e operaes formais (11 a 16 anos)
(Vieira & Lino (2007). Neste trabalho incidimos apenas sobre os dois primeiros estdios
pois nessas idades que incidiu a nossa ao e formao.
Assim, no que se refere ao estdio sensrio motor, este carateriza-se por uma
atividade cognitiva baseada na ao imediata e na experincia atravs dos sentidos.
Observa-se uma centrao da criana no seu prprio corpo, de esquemas prticos de
pensamento e no conhecimento do meio atravs de aes que exerce sobre ele. A
construo de conhecimento apoiada em percees e movimentos, ou seja, de
coordenaes sensoriomotoras. Para isso, importa que proporcionem brinquedos e jogos
sensoriais que lhe permitam construir estruturas de conhecimento que sero a base para
o estdio seguinte.
No estdio intuitivo ou pr-operatrio, que se situa entre os 2 e os 7 anos de
idade, no qual se inserem as crianas em idade pr-escolar, o pensamento sofre uma
transformao qualitativa em funo das alteraes da ao (Vieira & Lino, 2007). Este
estdio carateriza-se como da inteligncia intuitiva, do surgimento da linguagem, o
desenvolvimento da funo semitica (ou funo simblica),dos sentimentos
-
Fundamentao Terica
18
interindividuais espontneos e das relaes sociais de submisso ao adulto (Piaget,
2000, in Vieira & Lino 2007, p. 208). No tendo a criana, nesta idade, noo do mundo
real, para criar brincadeiras vai misturando o real com o irreal. Atravs da ao a
criana vai desenvolver a funo simblica, o que lhe permite, construir imagens
mentais e descodificar smbolos e signos (Piaget 1990). As estruturas mentais so, neste
estdio, amplamente intuitivas, livres e altamente imaginativas. Piaget (2000), de
acordo com Vieira e Lino (2007), observa que:
A criana que brinca s bonecas refaz a sua prpria vida, mas corrigindo-a de
acordo com a sua ideia, revive todos os prazeres e conflitos, mas resolvendo-
os, e, sobretudo, compensa e completa a realidade graas fico. Em suma,
o jogo simblico no um esforo de submisso do sujeito real, mas, pelo
contrrio, uma assimilao deformante do mundo real (p. 208).
A criana, nestas idades, recria e representa a realidade atravs do jogo
simblico, recorrendo a objetos do seu quotidiano e interpretando papis de adultos.
No que se refere ao jogo, Piaget (1975) classifica os jogos que a criana
apresenta em trs tipos: jogos de exerccio, jogos simblicos e jogos de regras. Os jogos
de exerccios so os primeiros a aparecer e so mais evidentes nos dois primeiros anos
de vida. So exerccios ldicos que correspondem a uma espcie de simples
funcionamento por prazer. Com o desenvolvimento, a frequncia destes jogos diminui e
aparecero outros jogos. Os jogos simblicos so brincadeiras em que um objeto
qualquer representa um objeto ausente. Tal acontecimento s ocorre a partir dos dois
anos de idade, quando a criana j est no estdio pr-operacional. Ainda para Piaget, os
jogos de regras consistem em combinaes sensoriomotoras ou intelectuais e so
reguladas, quer por um cdigo transmitido de gerao a gerao, quer por acordos
momentneos. Este um jogo caracterstico do indivduo socializado.
Para Vygotsky os elementos fundamentais da brincadeira so: a situao
imaginria, a imitao e as regras. Para Pimentel (2007), quando uma criana brinca,
cria uma situao imaginria na qual assume um papel que pode ser, inicialmente, de
imitao de um adulto observado. Assim, ela traz consigo regras de comportamento que
esto implcitas e so culturalmente constitudas. Tal como refere Pimentel (2007) se a
criana no pode agir como um adulto, pode fazer de conta que o faz, criando situaes
imaginrias em que se comporta semelhana do comportamento adulto (p.227).
Nesta perspetiva, a brincadeira de faz-de-conta permite, criana executar uma
tarefa mais avanada do que o normal para a sua idade.
-
Fundamentao Terica
19
Vygotsky defende que a ludicidade e a aprendizagem formal funcionam como
mbitos de desenvolvimento. Pimentel (2007) considera que:
tal como ocorre na atividade de aprendizagem, o jogo gera zonas de
desenvolvimento proximal porque instiga a criana, cada vez mais a ser capaz de
controlar o seu comportamento, experimentar habilidades ainda no
consolidadas no seu reportrio, criar modo de operar mentalmente e de agir no
mundo que desafiam o conhecimento j internalizado, impulsionando o
desenvolvimento de funes embrionrias de pensamento (p. 226)
A importncia da brincadeira de faz-de-conta est na criao de uma nova
relao entre o pensamento e o real. Segundo Vygotsky (idem) a criana avana
essencialmente, atravs da atividade ldica. Se a criana no pode agir como um adulto
recorre ao jogo de faz-de-conta para faz-lo, no qual se comporta semelhana do
adulto. No jogo so empreendidas pela criana aes coordenadas e organizadas
dirigidas a um fim e, por isso, antecipatrias e promotoras do funcionamento intelectual.
Neste mbito importa lembrar que como sublinha Pimentel (2007) a fora motriz da
ludicidade, o que a faz ser to importante no complexo processo de apropriao de
conhecimentos, a combinao parodoxal de liberdade e controlo ( p. 227).
Como refere Pimentel (idem) para os tericos da corrente histrico-cultural, na
qual Vygotsky se inclui, o jogo a atividade principal da criana pr-escolar, ou seja,
o mediador por excelncia das principais transformaes que definem o seu
desenvolvimento (p. 228). Isto porque o objetivo do jogo exercitar e desenvolver as
foras que nele existem (idem). Em qualquer jogo existe uma situao imaginria, que
motiva a criana a satisfazer necessidade, que, por outros meios, pode no suprir,
propondo-se a enfrentar os desafios que se lhe apresentam, segundo os objetivos e as
regras do jogo, controlando o seu comportamento e agindo num nvel superior de
capacidade.
Segundo Gaspar (2010) o brincar vygotskiano uma atividade que cria zonas
de desenvolvimento prximo e, ao faz-lo, cumpre a promove a aprendizagem e o
desenvolvimento, cumprindo a funo mais nobre da educao de infncia (p. 8). A
autora (idem) acrescenta, referindo que por serem um espao de brincar que a creche
e o jardim-de-infncia se constituem como espaos de aprendizagem e
desenvolvimento, sendo esta sua especificidade que lhes d identidade (ibidem).
Todavia, preciso ter em conta que, como tambm afirma Gaspar (idem), nem todo o
brincar tem esta qualidade. Por isso, uma pedagogia eficaz pode entender-se a que
promove um jogo capaz de favorecer o despertar de foras que se encontram em
-
Fundamentao Terica
20
maturao, estando prxima do nvel de desenvolvimento potencial. Por outro lado,
importante que o educador reconhea o valor do brincar e atribuir-lhe significado.
Requer tambm considerar que possvel ativar o desenvolvimento das crianas desde
que para tal se usem os meios adequados aos seus estilos cognitivos e necessidades
(Librio, 2000).
Bruner outro autor que apresenta um importante contributo para a
compreenso do valor do brincar e do jogo no processo de aprendizagem e
desenvolvimento da criana. Preocupado com a especificidade do pensamento da
criana o autor prope, de acordo com Kishimoto (2007), que a narrativa pode ajud-la
a dar sentido ao mundo e s suas experincias, pelo que importa inclu-la no seu
quotidiano. No mbito da educao de infncia a narrativa est presente na
conversao, no contar e recontar de histrias, na expresso gestual e plstica, na
brincadeira e nas aes que resultam das vrias linguagens (idem, p. 258). Bruner v a
atividade ldica como uma oportunidade de explorao e de inveno onde a criana o
sujeito ativo e faz alteraes e substituies de acordo com os seus interesses e a sua
imaginao. O autor defende que o jogo deve ser visto como um meio importante de
desenvolvimento da linguagem, valorizando a interao para promov-lo (Kishimoto,
2007). Defende ainda que a criana necessita de mediao para a compreenso de
conceitos. Importa considerar que, por exemplo, brincar a ver a livros com suporte do
adulto um exemplo de andaime (idem, p. 260). importante que os educadores
compreendam que o suporte do adulto deve ser dado como resposta iniciativa da
criana (p. 260).
No que se refere caraterizao do processo de desenvolvimento cognitivo da
criana, Bruner, conforme referem Librio (2000), estabelece trs estdios que
correspondem a trs modos diferentes de aprendizagem: o ativo em que predomina a
ao; o icnico em que aprende por imagens ou gravuras e o simblico, em que aprende
atravs de palavras ou nmeros.
Uma outra referncia importante, encontra-se na pedagogia de Froebel, que
pressupe a criana como um ser criativo e prope a educao pela auto-atividade e
pelo jogo (Kishimoto & Pinazza, 2007). Para Froebel a criana aprende pela ao e por
ela expressa intenes. Considera que as brincadeiras so o primeiro recurso no
caminho da aprendizagem. No so apenas diverso, mas uma forma de criar
representaes do mundo concreto com a finalidade de entend-lo. Segundo Froebel:
-
Fundamentao Terica
21
Brincar a mais alta fase do desenvolvimento infantil do desenvolvimento
humano neste perodo. a representao auto-activa do interno representao
da interna necessidade e impulso (Kishimoto & Pinazza, 2007, p.48).
Froebel considera que o jogo e, no s um meio de desenvolvimento cognitivo,
mas tambm uma forma de desenvolver a linguagem e a motricidade. Considera
importante a experincia de fazer, de experimentar, de usar as mos e o corpo. Froebel
adotou a ideia do aprender a aprender, ou seja, que o ponto de partida da
aprendizagem seriam os sentidos e o contato que estes criam com o mundo, as
informaes exteriores que se recebem. Portanto, a educao teria como fundamento a
perceo. Ele no descartava totalmente o ensino direcionado, mas s era apologista
desse ensino caso o aluno no apresentasse o desenvolvimento esperado. Assim, a
pedagogia de Froebel pode ser considerada como defensora da liberdade.
6.3. Orientaes Curriculares: ludicidade e aprendizagem na educao pr-escolar
Nas Orientaes Curriculares para a Educao Pr-Escolar esto contempladas
reas de contedo e, neste ponto, iremos abordar cada uma delas: Formao Pessoal e
Social; Expresso e Comunicao; Conhecimento do Mundo.
A rea da Formao Pessoal e Social, sendo uma rea transversal e integradora,
pretende segundo as OCEPE trabalhar a educao para os valores, a independncia, a
autonomia, os relacionamentos com os seus pares e com os adultos, a partilha do poder,
desenvolver a identidade, adquirir uma aceitao multicultural e trabalhar no sentido de
uma educao para a cidadania. Qualquer um destes contedos pode ser trabalhado
atravs de jogos e brincadeiras em que as crianas vo adquirindo diferentes noes e
conceitos. Tal como referem as Metas de Aprendizagem para a Educao Pr-Escolar
(ME/DEB, 2010), convm lembrar que estas aprendizagens se situam num processo
em construo, que est intimamente relacionado com o tipo e a qualidade de
experincia de vida em grupo que so proporcionadas no jardim-de-infncia e com o
modo como so abordados dos diferentes contedos (rea de Formao Pessoal e
Social, introduo).
No Domnio das Expresses podem diferenciar-se quatro vertentes, a expresso
motora, a expresso dramtica, a expresso plstica e a expresso musical. No que se
refere Expresso Motora as OCEPE, (ME/DEB, 2002) preconizam que se deve
proporcionar s crianas momentos de exercitao da motricidade global e fina, de
-
Fundamentao Terica
22
forma que as crianas vo dominando melhor o seu corpo. Nesta rea o ldico/jogo
conduz ao desenvolvimento de competncias, como correr, saltar, pular, rodopiar, atirar,
sentar, manipular a criana e ao desenvolvimento da criana a nvel motor, social e
pessoal. Neto (2009) afirma que o jogo pode alcanar um sentido pedaggico atravs do
seu carter universal, proporcionando ambientes ldicos com situaes de aprendizagem
em que a criana consegue assimilar conceitos (p.24). No que diz respeito Expresso
Dramtica as OCEPE, (ME/DEB, 2002) coloca este domnio como um meio da criana
se descobrir a si prpria e ao outro. Estas defendem que na interao com outra ou
outras crianas, em actividades de jogo simblico, os diferentes parceiros tomam
conscincia das suas reaces, do seu poder sobre a realidade, criando situaes de
comunicao verbal e no verbal (p.59). Podemos assim perceber que este domnio
trabalhado de modo ldico, recorrendo a jogos e brincadeiras com uso de materiais
diversos pode proporcionar criana a aquisio de competncias diversas. A
brincadeira de faz-de-conta assume no jardim-de-infncia um papel fundamental, pois,
muitas vezes a criana recria situaes do quotidiano ou situaes imaginrias. Gomes
(2011) preconiza:
O jogo uma componente essencial da actividade dramtica sintetizada na
expresso conhecida do faz de conta e que implica fazer para se conhecer.
Este desdobramento noutro ser ou noutra coisa o ingrediente essencial da
atividade ldica e traz associadas as noes de diferente, de dinmico, de
criativo e divertido (p.152).
A Expresso Plstica , tal como as expresses anteriormente referidas, um
domnio que pode ser trabalhado de modo integrado. As crianas podem despertar a
imaginao, explorando diferentes materiais e tcnicas de modo livre ou orientado.
Cabe ao educador proporcionar criana momentos educativos variados, divertidos e
ricos em materiais que estimulem a imaginao da criana e a levem a querer
experimentar novas tcnicas sozinha ou em grupo. No deve a expresso plstica ser
vista apenas como desenhar, no tirando valor ao desenho, mas, deve ser uma rea onde
a criana tenha contacto com a arte, para ampliar o seu conhecimento do mundo e
desenvolver o seu sentido esttico. A Expresso Musical passa no s por cantar ou
tocar, esta deve proporcionar s crianas momentos diversos em que a criana possa
cantar, tocar, danar, escutar e criar. Deve ter a possibilidade de explorar cada uma das
vertentes anteriormente referidas, para tal cabe ao educador ser um incentivador e
motivar as crianas a quererem adquirir competncias nesta rea. A Expresso Musical
pode ser fortemente trabalhada, atravs do ldico, do jogo, da brincadeira, recorrendo a
-
Fundamentao Terica
23
materiais diversos como instrumentos musicais, materiais reciclveis, jogos de roda,
danas, reproduo de sons e rudos entre outros.
Na rea da Expresso e Comunicao esto includos o Domnio das
Expresses, o Domnio da Linguagem Oral e Abordagem Escrita e o Domnio da
matemtica.
A linguagem um dos primeiros meios de socializao da criana. Urra (2010),
defende que o desenvolvimento da linguagem nas crianas muito rpido, estas na fase
da educao pr-escolar so j capazes de fazer frases simples e de comear a formar
imagens mentais das coisas, o que as leva a compreender alguns conceitos. Cabe ao
educador estimular o desenvolvimento da linguagem, quer atravs de dilogos sobre
temticas do quotidiano da criana e de assuntos do seu interesse, quer atravs da
realizao de jogos e brincadeiras.
As crianas comeam a fazer as suas primeiras tentativas de escrita quando
tentam imitar a escrita dos adultos e fazem garatujas. O educador deve permanecer
atento a estas tentativas e juntamente com a criana registar o que ela tentou escrever.
Deve ainda ser ler e registar os relatos das crianas sobre as suas vivncias para que
comecem a ganhar conscincia da diferena entre a linguagem oral e a escrita. Como
preconiza Fernandes (2005), referindo que o educador deve assumir perante o grupo o
estatuto de um modelo de actos litercitos: lendo, escrevendo, pensando e demonstrando
prazer (p. 10).
Segundo as Orientaes Curriculares para a Educao Pr-escolar (1997)
indiscutvel que a linguagem oral e a abordagem escrita devem iniciar-se na educao
pr-escolar. O nvel de desenvolvimento da linguagem oral da criana vai interferir com
o seu iniciar na linguagem escrita, pelo escrito o educador deve proporcionar s crianas
momentos de dilogo em que possa exprimir-se livremente. Como refere Sim-Sim
(1998), a entrada para a escola e a exposio a contextos mais alargados, favorece o
enriquecimento lingustico da criana (p. 30).
O educador deve estar disponvel para ajudar a criana, falando com ela,
estimulando-a e criando laos para que ela espontaneamente interaja consigo e com os
seus pares. Ao educador cabe ainda criar momentos ricos, dinmicos e cativantes que
sejam capazes de prender a ateno das crianas e de as manter motivadas na
concretizao das atividades. O recurso a momentos ldicos e a situaes de jogo e
brincadeira atravs de trava-lnguas, lengalenga, canes, rimas e adivinhas, em que as
crianas tenham de fazer gestos, repetir e at representar, podem ser momentos
-
Fundamentao Terica
24
importantes para o desenvolvimento da linguagem. Como refere Sim-Sim, (2008) os
jogos que trabalham a conscincia fonolgica so geralmente bastante apreciados pelas
crianas, exactamente pelo seu carcter ldico (p.55). A autora afirma ainda que as
atividades de carcter ldico devem ser desenvolvidas com frequncia no contexto da
educao pr-escolar.
No que diz respeito ao domnio da matemtica a organizao do espao/sala
pode servir para que a criana adquira noes matemticas como perto/longe,
dentro/fora assim comea a encontra a lgica que lhe permite classificar objetos.
Os quadros reguladores (presenas, tempo, aniversrios) podem tambm ser
bons aliados para a aprendizagem da matemtica. No quadro das presenas, por
exemplo, as crianas podem contar quantos colegas esto e quantos faltam e assim, ir
interiorizando a noo de nmero e adquirindo o conceito de conjuntos. Com o quadro
de aniversrios e com a sequncia de atividades desenvolvidas ao longo do dia a criana
vai construindo a noo do tempo. Ao educador cabe ter a agilidade para perceber que
utilidade dar aos materiais que tem dentro da sala e entender que a sua maioria permite
trabalhar/adquirir noes matemticas. Damas, Oliveira, Nunes e Silva (2010)
mencionam que:
A utilizao orientada de materiais Manipulveis Estruturados, coloca as
crianas em situaes cada vez mais complexas envolvendo-as,
progressivamente, numa linguagem matemtica e libertando-as de eventuais
mecanismos a que podero estar habituadas. Estas experincias, alm de
despertarem um grande entusiasmo, permitem que as crianas permaneam
ativas, questionadoras e imaginativas, conforme a sua prpria natureza (p. 5).
Quando a criana brinca com materiais manipulveis est desenvolver noes
matemticas.
Piaget defende que o jogo/brinquedo ao ser usado em situaes pedaggicas
ligadas matemtica permitir criana desenvolver a sua capacidade de raciocnio
lgico e tambm a noo de nmero. O ldico aliado aprendizagem da matemtica
pode ser o meio de as crianas gostarem desta rea. O jogo deve assim, ser visto como
um processo de aprendizagem. Tal como sublinha Moura (1990):
O jogo na educao matemtica tem uma intencionalidade, ele deve ser
carregado de contedo. E um contedo no pode ser apreendido pela criana
apenas no manipular livremente objetos. preciso jogar e ao faz-lo que se
constri o contedo a que se quer chegar (p. 65)
As Orientaes Curriculares para a Educao Pr-Escolar apontam a
manipulao de objetos como forma de apoiar/ajudar o desenvolvimento de
-
Fundamentao Terica
25
conhecimentos e capacidades matemticas no domnio dos nmeros, da geometria e da
medida. Salienta a importncia dos jogos e de materiais manipulveis. Os domins, os
jogos de encaixes, os blocos lgicos, os puzzles so materiais teis para trabalhar o
domnio da matemtica.
Kishimoto (2007), defende a mesma ideia referindo que o jogo tem um papel
importante na aprendizagem da matemtica na medida em que permite:
introduzir uma linguagem matemtica que pouco a pouco ser incorporada aos
conceitos matemticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com
informaes e ao criar significados culturais para os conceitos matemticos e
estudo de novos contedos (p.85).
Quanto rea do Conhecimento do Mundo pretende-se despertar nas crianas a
sua curiosidade natural e o seu desejo de saber. Nesta rea sero trabalhados
conhecimentos relativos ao meio local onde a criana se encontra inserida, saberes sobre
o mundo e iniciada a sensibilizao s cincias. Esta pretende ainda trabalhar noes
ligadas histria, geografia e meteorologia. Pretende-se aqui destacar a importncia
do desenvolvimento e explorao de noes ligadas s cincias e da forma como podem
ser trabalhadas essas noes. Todos os conhecimentos ligados a esta rea podem como
refere Martins et. Al. (2009) ser trabalhados de modo a incentivar a experimentao,
mas, sem deixar para trs o lado ldico que deve estar presente na educao pr-escolar,
considerando que os desafios colocados incentivam a experimentao e a pesquisa,
sem menosprezar o carcter ldico de que se revestem as aprendizagens em idade pr-
escolar (p. 5).
-
26
-
Opes Metodolgicas
27
II- Opes metodolgicas
Neste captulo pretendemos descrever as opes metodolgicas que orientam
este trabalho. Comeamos por explicar quais os motivos que levaram escolha da
temtica as questes e os objetivos de estudo, os intervenientes, as opes
metodolgicas e as tcnicas e instrumentos utilizados.
1. Contextualizao e objetivos do estudo
Considerando que a atividade ldica natural no ser humano e que tem como
finalidade divertir e dar prazer, no pode ser esquecido que, enquanto a criana brinca
ou joga, desenvolve habilidades fsicas e cognitivas. Como refere Lopes (2004):
A essncia da ludicidade reside nos processos relacionais e interaccionais que o
Humano protagoniza ao longo da sua existncia, atribuindo aos seus
comportamentos uma significao ldica. As manifestaes da ludicidade ao
emergirem da essncia do prprio ser do Humano, elas so (a ludicidade) o
prprio ser que nelas se revela numa diversidade de comportamentos e de
objectos que podemos identificar como distintos, nomeadamente, brincar, jogar,
recrear, lazer e construir artefactos ldicos e de criatividade (p. 13).
Nesta perspetiva e reconhecendo a importncia do ldico apontamos como
questes de partida:
Ser que as metodologias educativas promovidas ao nvel da ao
educativa pr-escolar se constituem facilitadoras do brincar?
Como se apresenta a organizao do espao educativo pr-escolar em
relao s oportunidades de brincar?
Que estratgias promover para que os pais reconheam o papel da
ludicidade no processo educativo pr-escolar?
Em conformidade com as questes de partida anteriormente referidas traamos
os seguintes objetivos:
Identificar metodologias que se tornem facilitadoras da valorizao do
brincar no processo ensino/aprendizagem.
Analisar o papel da organizao do espao/sala na sua relao com as
oportunidades de as crianas brincarem.
Refletir sobre possveis modos de sensibilizao dos pais/famlia para o
papel que a ludicidade assume na aprendizagem das crianas da faixa
etria pr-escolar.
-
Opes Metodolgicas
28
Nesta linha de pensamento, ao nvel da ao educativa que promovemos
atribumos particular ateno organizao e modos de concretizao das atividades
promovidas, quer por iniciativa do adulto, quer por iniciativa das crianas, bem como
organizao dos espaos e dos materiais do espao interior e exterior.
Partimos, assim, do pressuposto que as oportunidades de brincar e a valorizao
do brincar como meio de descoberta e construo de saberes carecem de ateno e
investimento. Reconhecendo a complementaridade que requer a ao educativa pr-
escolar com as famlias e profissionais que asseguram a dinamizao de tempos no
letivos passados pelas crianas na instituio pressupe tambm a necessria articulao
entre todos para que sejam asseguradas oportunidades de as crianas experienciarem um
processo formativo em que as possibilidades de brincar se tornem efetivas e valoradas
do ponto de vista da sua aprendizagem e desenvolvimento.
1.1.A investigao-ao como opo metodolgica
A estratgia metodolgica em que apoiamos o desenvolvimento da ao
educativa e investigativa de que d conta este relatrio, foi a alguns autores caraterizam
de investigao-ao (Mximo-Esteves, 2008; Sousa, 2005).
Para realizar um projeto de investigao-aco, segundo Mximo-Esteves (idem)
necessrio efetuar um conjunto de procedimentos, de acordo com os objetivos do
mesmo: encontrar um ponto de partida, coligir a informao de acordo com padres
ticos, interpretar os dados e validar o processo de investigao (p.79). Trata-se de
aspetos a que procurmos atender e recorremos a diferentes procedimentos para os levar
a cabo e poder investigar e refletir sobre a nossa prtica educativa.
Comemos por aprofundar conhecimentos atravs de diversas consultas
bibliogrficas, quer quanto problemtica em estudo, quer s metodologias de recolha e
anlise a informao, bem como por conhecer as caratersticas do contexto de
interveno. Inscrevendo-se o nosso estudo numa perspetiva de investigao qualitativa
(Bogdin & Biklen, 2013), enveredmos pelo recurso a tcnicas e procedimentos de
recolha de informao que nos permitissem analisar e interpretar a informao
necessria para encontrar resposta s questes e objetivos formulados.
Discutindo questes ligadas escolha da metodologia, Sousa (2005) lembra
que, como so as metodologias que devem depender, adaptar-se e servir os propsitos
da investigao e nunca o contrrio, as estratgias metodolgicas passaram a servir as
necessidades da investigao e no as dificuldades, gostos ou tendncias dos
-
Opes Metodolgicas
29
investigadores (p. 32). Por sua vez, Mximo-Esteves (2008) sublinha, que a
investigao-ao, semelhana da investigao qualitativa, um processo dinmico,
interativo e aberto, que pode ser reajustado mediante as anlises efetuadas e o que est a
ser estudado.
Por conseguinte, entendemos que esta seria a metodologia que melhor se
adaptaria ao trabalho que pretendamos desenvolver, uma vez que nos permitiria registar
e analisar dados que nos ajudassem na compreenso dos modos de pensar, agir e de
interagir das atitudes e atender a informao de natureza diversa. Permitia-nos ainda
recorrer observao participante, o que se torna fundamental numa ao investigativa
que incide sobre a prpria ao e que, por isso, possibilita ir reorientando a prtica
educativa em ordem a uma continuada melhora da resposta formativa proporcionada.
Ao nvel da prtica educativa comemos por observar as crianas e o ambiente
educativo atentamente. Desta forma recolhemos dados que nos permitiram atribuir um
olhar reflexivo e crtico forma como se apresentava e como poderiam ser criadas
oportunidades alternativas de valorizao da ludicidade.
Com base nesse dados e reviso da bibliografia delinemos um plano de
investigao e ao, constituindo-se como elemento orientador do processo, mas
flexvel integrao de dinmicas e informaes que pudessem emergir no decurso da
prtica educativa. Nesta linha, corroboramos a opinio de Sousa (2005), quando o autor
afirma que:
Uma investigao um procedimento que procura encontrar qualquer coisa.
Quando se parte para uma investigao dever-se- saber para onde se vai, ou
seja, o que que se vai procurar. A formulao do problema a definio
daquilo que se procura: a resposta para esse problema (p. 44).
Ao iniciar um trabalho de pesquisa o educador/professor confronta-se com
muitas dvidas e algumas angstias, pelo que, como refere Mximo-Esteves (2008),
importante refletir sobre algumas atitudes a tomar, que a autora carateriza como: focar
ou selecionar o que investigar; tornar familiar o estanho; utilizar um dirio, dar tempo
ao tempo e ser realista. Importa deter-nos sobre cada estas ideias para melhor
compreendermos o sentido que lhe atribudo.
Em primeiro lugar preciso ter em conta que a investigao deve focar aspetos
especficos da prtica educativa, pelo que requer selecionar, ou seja, decidir o que
escolher investigar. Dai as primeiras dificuldades surgem em torno de decidir o que
escolher investigar, aspeto com o qual nos confrontamos e que durante algum tempo foi
motivo de reflexo.
-
Opes Metodolgicas
30
No que se refere a tornar o familiar estranho significa, de acordo com a autora
(idem), que se torna importante que o professor:
aprenda a ver no interior do que lhe familiar e indiferente, procurando
descobrir o que sustenta a sua rotina, e desocultar o que se esconde sob gestos,
que sem refletir, dia a dia repete; a inteno desse olhar atento e p das aes que
pratica (p. 85)
Importa utilizar um