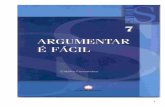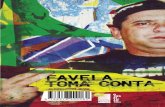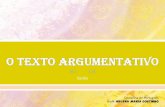4. A “narcopolítica” e a favela - dbd.puc-rio.br · tentador para o pesquisador argumentar...
Transcript of 4. A “narcopolítica” e a favela - dbd.puc-rio.br · tentador para o pesquisador argumentar...
4. A “narcopolítica” e a favela
Neste capítulo buscamos analisar um território bastante sui generis do espaço
metropolitano carioca e que, ao mesmo tempo em que se constitui como ponto
articulador da dinâmica comercial de estupefacientes, também se coloca como local
de confronto/contestação – político e/ou armado – dentro da disputa territorial própria
da cidade do Rio de Janeiro. Obviamente estamos nos referindo às favelas, de origem
bastante antiga, mas que hoje, mais do que nunca, estão organicamente envolvidas e
se envolvendo nos desdobramentos sociopolíticos do narcotráfico. Redirecionando
nosso olhar para as favelas cariocas, este capítulo, inicialmente, versará sobre a
conformação da complexa rede de informações e de pessoas que constitui um dos
pilares centrais referentes ao crescimento e a hipertrofia do tráfico de drogas no Rio
de Janeiro, em outras palavras, analisaremos qual o papel desempenhado pelas
favelas, na sua interligação reticular com as instituições totais, para o enorme
fortalecimento e a consequente legitimação do “narcopoder” organizado carioca. Não
podemos deixar de explicitar que nosso interesse teórico em analisar a favela reside
no fato de que estes locais são considerados também centros de poder do narcotráfico
carioca, conjuntamente com as instituições totais. Desta forma, não poderíamos reter
nosso estudo apenas nas análises transescalares que envolvem as instituições totais,
sendo fundamental o exame mais minucioso destes locais de grande concentração e
articulação do poder do narcotráfico.
De início apresentaremos uma rápida exposição acerca da formação inicial das
favelas cariocas, para, em seguida, desenvolvermos o nosso real objetivo: evidenciar
a intensa e consolidada relação reticular estabelecida entre os integrantes das facções
criminosas situados nas instituições totais e seus comparsas entrincheirados nas
favelas.
É nosso objetivo também discutir de que maneira a favela reage ao domínio
exercido pelo narcotráfico, haja vista que a grande maioria da população favelada não
tem qualquer ligação com os criminosos. Assim sendo, acreditamos que o espaço da
89
favela seja alvo de disputa entre diferentes agentes – o poder policial, a população
local, os criminosos rivais – que acabam por (re)criar este espaço sob diferentes
matizes, configurando uma interessante diversidade territorial.
4.1. A crise habitacional e a Reforma Urbana: em busca do controle socioespacial
Em meados da passagem do século XIX para o século XX, período em que a
economia brasileira realizou a sua transição da fase mercantil-exportadora para a fase
capitalista-industrial, o Rio de Janeiro viu se agravar bastante a crise de moradia em
função da grande quantidade de imigrantes pobres nacionais e estrangeiros (ABREU,
s/d). Segundo Abreu (s/d, p. 4)
O acirramento da crise é sentido no tempo e no espaço. O Grande contingente populacional que afluía à cidade concentrava-se junto ao Centro, onde se localizavam as possibilidades de trabalho. Considerando-se as freguesias antigas do Centro e seu entorno imediato, temos que, entre 1872 e 1890 o conjunto da sua população total se multiplica por dois, enquanto o número de domicílios não apresenta incremento correspondente, mas, pelo contrário, se reduz devido ao fato de novas atividades dos setores secundário e terciário ocuparem espaços entre usados como habitação.
Neste contexto, a partir da segunda metade do século XIX, a cidade assiste à
proliferação de habitações coletivas, como estalagens e cortiços, que, posteriormente,
se tornarão os principais alvos das medidas médico-sanitárias e higienistas
empreendidas pelo poder público. Desta forma, “com o agravamento da questão
sanitária estas moradias foram colocadas no foco da política habitacional e sanitária e
na mira do discurso e da ação higienista. A crise da moradia tornou-se uma questão
de higiene.” (ABREU, s/d. p. 4). Coaduna-se a toda esta situação de extremo déficit
habitacional a Reforma Urbana, empreendida pelo então prefeito do Distrito Federal,
Sr. Francisco Pereira Passos. A reforma levada a cabo por Pereira Passos modificou
radicalmente não apenas a estrutura e a forma urbana da cidade, através da imposição
de rigorosas normas urbanísticas para a construção em todo o Distrito Federal,
dificultando em muito a ocupação legalizada (ABREU, s/d), mas também alterou
90
significativamente o modo de relacionamento de diversas camadas da sociedade com
o seu espaço imediato, principalmente por intermédio da imposição do “mundo da
ciência”, do mundo da ordem, do núcleo civilizado ao restante da população pobre da
cidade (MELLA, 2003). Destarte, Mella (2003. p. 112) afirma que
As ações e intervenções dos agentes da ordem expressaram-se por meio do aumento e do aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de controle social, fundamentados, sobretudo, numa racionalidade sanitarizadora que se aplicava tanto ao combate de doenças físicas quanto à repressão a possíveis “desvios”, ou “doenças morais”.
É possível perceber, portanto, que a reforma da cidade, não se restringindo
apenas às formas arquitetônicas e às normas urbanísticas, apoiada numa lógica
estritamente cartesiana, busca reafirmar a superioridade moral e ideológica da elite
da sociedade carioca “formal” em relação à população desfavorecida nos termos de
uma deslegitimação autoritária de todas as suas formas de expressão, como a
perseguição às rodas de samba e aos modos de convivência, ou pela demolição dos
cortiços, e, até mesmo, a “caça” aos meios de diversão, através da proibição do jogo
do bicho. Particularmente no que tange a este último, Mella (2003. p. 115) escreve
que
A repressão ao jogo do bicho mereceu, assim, uma especial atenção das autoridades desde os primórdios da República, sendo inscrita em um movimento mais amplo de patologização do crime. Esta postura, adotada sobretudo pelas autoridades policiais, expressou-se por meio da caracterização do hábito do jogo como um vício, ou como uma doença da alma. A preocupação com a exploração e a prática dos jogos ilícitos devia-se à possibilidade de terem resultados sociais imprevisíveis.
Esta incessante busca de controle do espaço urbano e da sociedade por parte
do poder público teve repercussões socioespaciais diversas. Os trabalhadores, que
vieram em grande número à cidade, atraídos pelos empregos gerados pelas obras, não
encontraram espaço para a sua reprodução e, consequentemente, promoveram a
multiplicação “de um habitat que já vinha se desenvolvendo na cidade e que, por sua
informalidade e falta de controle, simbolizava tudo o que se pretendeu erradicar da
91
cidade. Este habitat foi a favela.24” (ABREU, s/d. p. 10. grifos nossos). A partir de
então a reprodução das favelas ganha bastante intensidade e esta forma de habitação
passa a ocupar os morros e os terrenos baixos e alagadiços não valorizados, se
constituindo num fenômeno incontrolável25. Abreu (s/d. p. 11) nos ensina que a
favela
Ocupa outros morros da área central, como o Morro de São Carlos [...]; e penetra firmemente na zona sul, ocupando os morros de Vila Rica, por cima do Túnel Velho, em Copacabana [...]; do Pasmado, em Botafogo e da Babilônia, no Leme [...]. Invade também uma série de localidades suburbanas algumas das quais localizadas a grande distância, como é o caso de Madureira.
Em vista do que foi apresentado, estamos plenamente de acordo com o
posicionamento de Mella (2003. p. 114) quando ele escreve que
As reformas urbanas realizadas de forma autoritária impõem à sociedade uma única possibilidade de futuro, sugerido como o possível, o planejado. A sociedade, por outro lado, vivencia, pelas diversas alternativas que a singularidade humana cria, a possibilidade de seguir outros caminhos rumo a diferentes alternativas de futuro.
Na tentativa de se inserir numa nova organização socioespacial que a cidade
buscava criar e consolidar, a população pobre carioca ousou desafiar a estrutura
urbana formal ao se instalar em habitações improvisadas nas encostas e nos terrenos
alagadiços, tornando visível (e preocupante) para as elites a sua existência. É bastante
tentador para o pesquisador argumentar acerca da construção da favela como o outro
da cidade formal, e, principalmente, se qualificando como o outro da sociedade
formal. Entretanto, ainda que esse profundo antagonismo favela x cidade (“asfalto”),
favelado x morador “do asfalto” possa trazer fortes implicações para o futuro da
metrópole carioca, um futuro extremamente fragmentado, como veremos a seguir,
seria incoerente recorrermos a uma abordagem de “cidade partida” (VENTURA,
24 Segundo o autor supracitado, “a favela já surgira na cidade na última década do século passado [século XIX], quando os morros da Providência e de Santo Antônio, localizados na área central e nos fundos das guarnições militares e policiais, haviam sido ocupados por praças retornados de Canudos e suas famílias.” (ABREU, s/d. p. 10). 25 Tendo em vista os objetivos deste texto, não consideramos relevante desenvolver um estudo mais profundo acerca do fenômeno favela. Para uma reflexão mais aprofundada sobre a origem, a persistência e a proliferação das favelas recomenda-se a leitura da obra de Campos (2005).
92
2004), enxergando a dicotomia favela-“asfalto” como dois espaços separados,
intolerantes e desconectados. A verdade é que estamos diante de um mesmo espaço
que apresenta distintas formas de produção e de reprodução, mas que se mantém em
constante e ininterrupta interação, perfazendo uma das mais interessantes e
complexas realidades urbanas, em que formal x informal, legal x ilegal, ordenado x
desordenado se constroem mutuamente.
É válido frisarmos que não estamos fazendo uma leitura naturalista da favela,
enxergando-a como sinônimo do atraso, de arcaico, enquanto a cidade é tomada pelo
progresso, pela vida civilizada. Nossa intenção é evidenciar a constituição de dois
espaços distintos no que tange tanto à sua gênese quanto aos seus futuros
desdobramento e, principalmente, expor a profunda correlação existente entre estes
dois espaços. Antes, contudo, é importante fazermos algumas ponderações a respeito
deste antagonismo que se instituiu no Rio de Janeiro.
Ao afirmarmos a formação de uma nova organização socioespacial em virtude
da imposição vertical de uma nova estrutura urbana, estes dois termos – organização
e estrutura – complementares nos levam a pensar que, segundo Morin (1998. p. 205),
“A ideia de organização emergiu nas ciências sob o nome de estrutura. Mas estrutura
é um conceito atrofiado, que remete mais para a ideia de ordem (regras de
invariância) que para a de organização”. Portanto, a reforma urbana realizada no Rio
de Janeiro foi nada mais do que uma busca pela concretização de uma nova ordem,
segundo uma lógica cartesiano-racionalista, paradigmática dos novos tempos, da nova
vida, de novos símbolos, enfim de um pretenso novo Rio de Janeiro. Entretanto,
conforme afirma Morin (1998. p. 207) “nas organizações, a presença e a produção da
desordem (degradação, degenerescência) são inseparáveis da própria organização.”
(grifo nosso). Não foi de outra forma que a desordem, o informal se estabeleceram e,
dialeticamente, fizeram transparecer na paisagem carioca as imagens de uma outra
(des)organização.
É ainda válido não esquecermos que a favela não é apenas resultado objetivo
de uma política urbana “elitista”, mas é também fruto da atividade imaginativa do
homem. Castoriadis (1992. p. 90) nos ensina que
93
O homem é primeiramente psiquê. Homem, psiquê profunda, inconsciente. E o homem é sociedade. Ele é apenas na e pela sociedade e sua instituição e pelas significações imaginárias sociais, que tornam a psiquê apta para a vida. E a sociedade é sempre também história. (grifos do autor).
Portanto, quando estamos nos referindo à favela, estamos não apenas
pensando-a como um espaço resultado de uma determinada conjuntura político-
econômica enfrentada pela cidade, mas também como um espaço construído pelo
homem através de seu imaginário social-histórico.
Dando sequência em nosso estudo é inevitável a constatação de que a favela e
condomínios exclusivos co-habitam em ritmo crescente. Se, por um lado, as favelas,
lideradas pelas facções narcotraficantes, intentam uma territorialidade solidamente
construída, tanto pelo poder financeiro quanto pelo poder bélico, tornando a favela
um legítimo enclave narcopolítico, por outro lado, diferentes segmentos sociais
buscam refúgio em domínios privados, vigiados por seguranças particulares, grades,
cercas elétricas, câmeras e todos os objetos restantes que o aparato de segurança
disponível puder oferecer. Neste ínterim, observamos uma desestabilização do espaço
público, cada vez mais soterrado pelo descaso e pela falta de acompanhamento da
sociedade, se tornando um mero resquício de suas utilidades, como ponto de encontro
e confraternização ou como local de arguição e resolução de questões do interesse
público.
4.2. O temor do encarceramento generalizado para a (sobre)vivência do espaço público.
O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido como uma cidade de profundas
belezas naturais e de grandes contrastes sociais. Este grande apelo das paisagens
naturais acaba, muitas das vezes, por obscurecer outros importantes aspectos da
cidade pela excessiva estetização da paisagem carioca. Barbosa e Silva (s/d) alegam
que essa estetização é abstrata “pois oculta diferenças socioespaciais sensíveis”,
94
diferenças estas que se fazem sentir cotidianamente através dos noticiários e dos
jornais retratando fatos e imagens da violência.
Dentre as grandes paisagens, naturais e humanizadas, que marcam a cidade do
Rio de Janeiro talvez as que chamam mais a atenção de qualquer espectador seja a
combinação, quase que exclusiva do Rio de Janeiro, entre a favela e a cidade dita
formal, seja nos bairros pobres, seja nos de classe média ou alta. Num simples flaneur
pelas ruas é inevitável a observação da contigüidade em que estes dois espaços,
próximos e, simultaneamente, distantes, se encontram, encerrando uma das
características mais marcantes desta cidade. Souza (2008. p. 60) corrobora nossa
opinião, afirmando que
Essa proximidade das favelas dos bairros abastados varia bastante de cidade para cidade; tal traço é particularmente evidente no caso do Rio de Janeiro, em que a maioria das favelas se situa no próprio núcleo metropolitano, mas é menos claro em Belo Horizonte e ainda menos em outras cidades, como São Paulo e Curitiba, em que o padrão espacial de segregação é bem distinto daquele do Rio, com a maior parte das favelas situada na periferia.
Todavia a proximidade física entre a favela e o “asfalto” esconde profundas
diferenças, simbolizadas por alguns limites e fronteiras, revelando a grande distância
que as separa.
Evidentemente estamos, mais uma vez, fazendo referência à fragmentação do
tecido sócio-político espacial da cidade, com os nítidos traços de uma absoluta
segregação residencial. Não podemos esquecer que a fragmentação apresentada neste
texto é espacial “e não setorial, como é o caso nos trabalhos que tomam o termo
‘fragmentação’ como uma espécie de sinônimo de ‘aumento das disparidades
socioeconômicas’ e como contraponto à globalização.” (SOUZA, 2008. p. 57/58).
Esta fragmentação proposta por Souza (2008) nos conduz ao questionamento de
como favela e “asfalto” se comunicam, interagem, dialogam; sobre quais seriam os
meios utilizados para esse intercâmbio; e quais seriam os resultados socioespaciais
desse encontro.
Em nosso entendimento, o que se verifica hoje, parafraseando Castoriadis, é o
fenômeno do encarceramento generalizado, ou por opção (como a auto-segregação
95
residencial e o cercamento do espaço público) ou por imposição (nos territórios do
cárcere legal e ilegal). O espaço público é mantido sob cárcere com a justificativa de
preservação – preservando-o da própria população que, é, em última instância, a
única que pode assimilar e fazer uso de sua utilidade –, a população das classes média
e alta se trancafia em suas fortalezas monitoradas 24 horas, para se proteger dos
inimigos externos, a população pobre é enclausurada nos seus próprios locais de
moradia, para não perturbarem o bom andamento da ordem pública. Sem contar os
loucos, doentes e os fora-da-lei que são, há bastante tempo, alvo de dominação por
parte do Estado. Dessa forma, observamos hoje em dia, na era do controle, que
confinar não é mais apenas tarefa exclusiva dos espaços disciplinares de
confinamento. São formas de confinamento de intensidades diferentes, como veremos
a seguir.
Ainda que a liberdade seja um direito universal, nos parece que hoje estamos
presenciando o desejo de uma “liberdade cerceada”, uma “liberdade segura”, onde
diferentes camadas da sociedade buscam no confinamento espacial garantias para
uma (sobre)vivência. Também nessa perspectiva Souza (2008) escreve que os
condomínios educam “não para a liberdade, para o diálogo, para o respeito à
diferença, para a solidariedade, mas sim para o ódio de classe (não raro amalgamado
com o ódio racial), para o elitismo arrogante, para o temor e o desinteresse [...] em
face dos diferentes.” (p. 74). Não nos prolongaremos, por enquanto, nesse tema, mas,
nesse momento, é necessário percebermos que enquanto alguns clamam por grades e
cercas para se proteger das classes “perigosas”, outros são forçosamente inseridos
num amplo espectro carcerário, onde tem suas palavras, gestos, atitudes e, até mesmo,
sua circulação são limitados pelas ordens da narcopolítica. Esse encarceramento
ampliado se encaixa na vida das populações faveladas, como veremos mais a frente,
significando (sobre)viver sob o constante signo da fronteira, ou melhor, do limite,
seja imposto pela narcopolítica ou pela sociedade.
Acreditamos ser interessante iniciarmos esta etapa de nosso estudo com um
melhor entendimento do que podem ser os limites e/ou as fronteiras estipuladas entre
favela e “asfalto”, já que no Rio de Janeiro estes dois espaços procuram deixar
bastante evidente as suas dessemelhanças.
96
Inicialmente, “somos confrontados com a noção de limite: traçamos limites ou
esbarramos em limites. Entrar em relação com os seres e as coisas é traçar limites ou
se chocar com limites.” (RAFFESTIN, 1980. p. 164). Nesta passagem, Raffestin nos
mostra que o estabelecimento de limites é algo inerente à vida humana em sociedade,
logo somos seres “limitadores” por natureza, estabelecemos e demarcamos nossos
territórios como uma forma necessária ao desenvolvimento da vida humana, portanto
“não há por que se admirar, pois o limite é um sinal ou, mais exatamente, um sistema
sêmico utilizado pelas coletividades para marcar o território: o da ação imediata ou da
ação diferenciada.” (RAFFESTIN, 1980. p. 165). O mesmo autor nos adverte que
limites e fronteiras não podem ser tomados como sinônimos, mas os limites contêm
as fronteiras, que ao longo da história acabou ganhando a conotação política dos
Estados nacionais. Desta forma, “transparentes ou ostensivamente cercadas, as
fronteiras refletem o exercício da dominação ou da autoridade de um povo em
particular.” (MOURA 2000. p. 86). Portanto, o
Limite é [...] uma classe geral, um conjunto cuja fronteira é um subconjunto. Ainda aí é particularmente estranho que só a fronteira tenha uma conotação política enquanto, de fato, todo limite possui uma, nem que seja só pelo fato de ele ser sempre a expressão de uma manifestação coletiva, direta ou indireta. (RAFFESTIN, 1980. p. 166).
Com o crescente anseio por segurança e proteção, diversas camadas sociais
buscaram o estabelecimento de nítidos limites entre o espaço público e o seu espaço
privado. Diretamente correlacionado com o intenso processo de “condominiarização”
praticado no Rio de Janeiro, que será destacado nas páginas seguintes, é interessante
percebermos como o abandono e a ausência da participação humana no espaço
público é também uma repercussão do grave quadro de violência atual, materializado
pelo recrudescimento de todos os tipos de barreiras à presença humana, desde o
mobiliário urbano até as praças e monumentos históricos.
Primeiramente, entendemos o espaço público como o espaço que tem uma
relação direta com a vida pública. Para que isso seja possível é fundamental a
possibilidade de co-presença de indivíduos e que estes estejam aptos a apresentar sua
razão sem obstáculos, confronta-la com a opinião pública e instaurar um debate
97
através de uma linguagem comum. (GOMES, 2006). O espaço público deve ser
compreendido como o lugar onde se debatem as questões de interesse do público,
desde que não haja qualquer empecilho à participação de qualquer pessoa. Portanto
torna-se imprescindível o estabelecimento de normas “a despeito de todas as
diferenças e discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que aí circulam e
convivem, ou seja, as regras do convívio e do debate devem ser absolutamente
respeitadas.” (GOMES, 2006. p. 162). Portanto, segundo o mesmo autor (2006. p.
162) , o espaço público “é o lugar das indiferenças, ou seja, onde as afinidades
sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que sejam, devem se submeter
às regras de civilidade.”.
Ao entendermos o espaço público desta forma26, estamos abrindo caminho
para a compreensão do espaço como um elemento indispensável à construção da
democracia e dos marcos da cidadania, como bem sugere Gomes. É justamente
caminhando por esse viés que podemos acreditar que a expansão do encarceramento,
simbolizada por um sentimento de claustrofilia, é uma das mais profundas sequelas
sociais proporcionadas pela violência. Se o espaço público, conforme argumenta
Gomes (2006. p. 163), refere-se a “uma área onde se processa a mistura social”, ou
melhor ainda, onde diferentes classes sociais, com perspectivas e interesses diferentes
“nutrem-se da co-presença, ultrapassando suas diversidades concretas e
transcendendo o particularismo, em uma prática recorrente da civilidade e do
diálogo”, então a cidade do Rio de Janeiro se encontra em maus lençóis, uma vez que
o exercício do diálogo, da interação pública é cada vez mais submerso pelas ondas do
individualismo, do privado e da intolerância.
O recuo do espaço público, portanto, pode ser visto como uma grave
consequência do atual quadro de insegurança pública, muito em função da associação
direta espaço público-espaço do conflito. (VALVERDE, 2003). Essa constatação vai
26 É salutar não deixarmos escapar a ideia de que o espaço público também é, ou deveria ser, “um lugar de conflitos, de problematização da vida social, mas sobretudo é o terreno onde esses problemas são assinalados e significados. Por um lado, ele é uma arena onde há debates e diálogo; por outro lado, é um lugar das inscrições e do reconhecimento do interesse público sobre determinadas dinâmicas e transformações da vida social.” (GOMES, 2006. p. 164). Assim, além de valorizarmos a real serventia social do espaço público, também estamos alertando para o preocupante reduzido grau de seu uso para os fins apresentados.
98
ao encontro do temor de Zaluar, ainda na década de 80, quando verificava a extrema
distancia entre a democracia e a realidade das populações pobres cariocas, pois da
forma como o quadro da violência se desenha “corremos o risco de assistirmos de
longe, mas paralisados pelo medo, ao processo que transforma a quadrilha organizada
num poder central nas favelas, onde já expulsa moradores incômodos, mata rivais,
altera redes de sociabilidade e interfere nas organizações.” (1994. p. 51).
4.3. O crescimento da violência e o encontro da favela com o “asfalto”
Ao observarmos a cidade do Rio de Janeiro percebemos que os limites
impostos entre a favela e o “asfalto” não pareciam estar muito visíveis para uma
grande parte da população da cidade – apesar de alguns governantes tentarem cercar
as favelas com muros, num nítido golpe de satisfação das elites que preferem cercar o
problema para não vê-lo do que enfrenta-lo – se configurando em barreiras muito
mais simbólicas do que efetivamente concretas, visíveis27. Essas barreiras seriam
justificadas pelo crescente processo de expansão da violência urbana28 em que mais e
mais pessoas estariam sujeitas a sofrer as consequências das diversas práticas
criminosas.
A princípio, esses dois espaços se auto-segregaram desde o início, sendo
desnecessária a construção de qualquer objeto divisor, como muros ou cercas.
Moradores do “asfalto” desconfiavam, ou por desconhecimento ou por pré-conceito,
de qualquer movimento oriundo das favelas; os governantes, pelo menos depois do
período eleitoral, ignoravam a população favelada durante os seus mandatos; o poder
27 É importante salientarmos que hoje em dia as facções narcotraficantes vêm impondo determinados obstáculos (trilhos de trem, pedaços de concreto, carros abandonados etc.) nas entradas das favelas com o objetivo de impedir e/ou dificultar a entrada das forças policiais. Ainda que o intuito não seja efetivamente a separação, é inegável a conotação simbólica que esses objetos adquirem para a população como um todo. 28 Entendemos a violência urbana como a representação de “um complexo de práticas legal e administrativamente definidas como crime, selecionadas pelo aspecto da força física presente em todas elas, que ameaça duas condições básicas do sentimento de segurança existencial que costumava acompanhar a vida cotidiana rotineira – integridade física e garantia patrimonial.” (MACHADO DA SILVA, 2008. p. 36)
99
público pouco, ou muito pouco, se inseriu nas questões locais das favelas. Destarte
favela e “asfalto” endossaram o discurso ideológico-segregador de que os opostos não
podem ser complementares, mas, apenas, ou suficientemente distantes ou
propriamente contrários, fazendo supor que seriam um par antagônico de primeira
grandeza, concretamente duas realidades que se opõem em todos os sentidos, desde a
perspectiva simbólica até a dimensão material. Conquanto grande parte da população
favelada necessitasse dos postos de trabalho encontrados na “cidade”, optando,
muitas vezes, pelos locais mais próximos ao emprego, e, por outro lado, a população
do “asfalto” necessitasse do trabalho dessas pessoas, essa relação era extremamente
“fria”, uma pura relação capitalista de, por um lado, manutenção da sobrevivência e,
por outro, do lucro. É bem verdade que em meados dos anos 40, o relacionamento das
favelas com a cidade dita “formal” pode até ser considerado como amistoso, com a
classe média recorrendo ao morro para se divertir, por exemplo, entretanto
acreditamos que essa relação era muito mais em função do menor distanciamento
social e econômico entre as classes pobres e as classes abastadas, do que efetivamente
uma relação de solidariedade e de proximidade que suprimisse a desconfiança
presente nos olhos das elites.
Nos parece que no decorrer dos anos, com o esvaziamento político da cidade e
a seguida estagnação econômica, esse “distanciamento” se tornou ainda mais longo,
ainda mais sentido. Como já mencionado anteriormente, a passagem da década de
1980 para os anos 1990 assistiram a um recrudescimento do quadro da violência
urbana no Rio de janeiro. Desta forma, Leite (2000) afirma que
Ao longo dos anos 90, entretanto, o Rio de Janeiro adquiriu o perfil de uma cidade violenta. Assassinatos, roubos, assaltos, seqüestros, arrastões nas praias, brigas de jovens em bailes funk e confrontos armados entre quadrilhas rivais ou entre estas e a polícia ganharam as ruas de uma forma inusitada por sua freqüência, magnitude, localização espacial, potencial de ameaça e repercussão na mídia local e nacional.
Neste contexto, emerge uma leitura acrítica da situação carioca feita pelas
lideranças policiais civis e militares, bastante aceita pelas elites e muito mais
divulgado pela imprensa, que vociferava por segurança, por ordem, por uma
disciplinarização, em que a violência contra as camadas “perigosas” da sociedade
100
seria um recurso necessário para pôr fim ao trágico quadro violento (LEITE, 2000).
Por conseguinte, a partir de então multiplicaram-se as antinomias “Formal e informal.
Legal e ilegal. Civilização e barbárie. Ordem e violência. Evidente que tal clivagem
expressa um modo de olhar para a cidade que identifica e denomina características
como particulares a determinados lugares/paisagens.” (BARBOSA & SILVA, s/d).
Quase que automaticamente, a favela se tornou sinônimo de esconderijo e procriação
do banditismo e aos pobres favelados foi atribuída toda a culpa pelas mortes, pelos
assaltos e pelo intenso fortalecimento do tráfico de drogas. Porém, Souza (2008. p.
60) adverte que “as favelas estão muito longe de ser os únicos espaços que servem de
suporte logístico para o tráfico de drogas de varejo [...].”. Ainda assim, é inegável que
as favelas se tornaram importantes pontos de venda de drogas. O próprio Souza
afirma que
Para além dos exageros e deformações preconceituosas do discurso midiático usual que superenfatiza e superexpõe as favelas ao mesmo tempo em que quase silencia sobre o papel dos espaços não-segregados, como apartamentos de classe média –, por três razões principais [...] [assumem] importância muito grande no comércio de tóxicos nas cidades brasileiras: além de serem mananciais de mão-de-obra barata e descartável, sua localização e sua organização espacial interna são, via de regra, extraordinariamente vantajosas para a instalação do comercio de drogas ilícitas. (2008. p. 60. grifos do autor)
Todavia a segregação espacial simbólica de outrora se transfigurou, ao longo
do tempo, numa segregação socioespacial concreta, visível e declarada a todos29.
Como é de se imaginar, hoje em dia, a segregação socioespacial está na ordem do dia
em nossa cidade, sendo bastante recorrente a ideia de que a cidade está dividida,
marcada por diferentes áreas de fronteira, em que a circulação ou o contato
interpessoal são regulados. Em tempos de globalização a fronteira vem sendo cada
vez mais vista como algo retrógrado, símbolo de momentos passados, devendo ser
suplantada pelo incansável fluxo de informações e de pessoas. Desta forma, “a
29 É interessante mencionar que dentro da própria favela são tecidos limites entre diferentes localidades. Alvito (1998) em seus trabalhos de campo na favela de Acari identificou que determinadas localidades dentro da favela não eram frequêntadas por outros moradores, que demarcavam simbolicamente fronteiras que raramente eram ultrapassadas. Ventura (1994) também aponta para a construção de barreiras entre a favela de Parada de Lucas e de Vigário Geral, em que moradores de ambas as favelas eram proibidos de atravessar o local que demarcava a fronteira entre as favelas, conhecido sugestivamente como “Vietnã”.
101
fronteira tornou-se um símbolo claustrofóbico de limites, enquanto sua ruptura, a
abertura para fluxos que não só aproximam lugares como ampliam possibilidades de
inserção numa mesma dinâmica global.” (MOURA 2000. p. 86). No entanto, a
fronteira ainda persiste em diversos casos, se configurando como um artifício comum
quando o objetivo é separar, segregar ou conter. Todavia, entendemos que fronteira
não é a ideia mais apropriada quando nos referimos à relação favela-“asfalto”, posto
que esse relacionamento é real e em muitos poucos casos ele é, de fato, regulado;
sendo, talvez, mais adequado quando nos referimos à relação entre favelas dominadas
por facções rivais. Favela e “asfalto” não estão separados, mas, pelo contrário, estão
em constante interação pelos diferentes indivíduos que circulam por ambos os locais.
Portanto acreditamos que a cidade esteja passando por um momento de grande
segregação socioespacial, com as áreas de contato favela-“asfalto” em situação de
precariedade em termos qualitativos sociais, ou seja, marcada por um grande desgaste
socioespacial das relações entre as respectivas populações.
É curioso que entre essa aparente segregação socioespacial, que em nada se
assemelha a uma propalada cidade partida, também é percebida pelos nossos jovens
entrevistados. Todos afirmaram que a cidade não se encontra dividida, uma vez que
moradores do asfalto e da favela frequentando diversos locais comuns, contudo
percebem a existência de uma “fronteira simbólica” entre “asfalto” e favela,
manifestada pelo medo. Um de nossos entrevistados ao afirmar que a população do
asfalto tem medo da favela porque “no asfalto é mais tranquilo, não tem guerra. O
tráfico é sem armas.”, nos sinaliza que um dos elos de aproximação entre favela-
“asfalto” é justamente a prática do narcotráfico, que se sustenta nas favelas a partir do
lucro obtido com as vendas de entorpecentes para consumidores do “asfalto”.
A repartição do espaço da cidade do Rio de Janeiro30, ou a fragmentação do
tecido sociopolítico-espacial nos dizeres de Souza (2008), entre os condomínios
fechados e as favelas territorializadas pelas facções narcotraficantes reflete a 30 Esse fenômeno não pode ser restrito ao Rio de Janeiro, pois são também bastante numerosos os condomínios fechados na região metropolitana de São Paulo, na cidade de Curitiba ou Belo Horizonte, pra ficar apenas nesses três exemplos. Entretanto nos referimos somente à cidade o Rio de Janeiro, por se tratar de nosso principal “laboratório vivo”, onde desenvolvemos toda nossa pesquisa. Não obstante, o Rio de Janeiro também apresenta a peculiaridade de conter suas regiões mais pobres ao lado das regiões mais ricas, tornando as ponderações aqui apresentadas ainda mais instigantes e enriquecedoras.
102
consolidação do medo de convivência, por um lado, e a exposição dos frágeis elos de
solidariedade espacial existentes nesta cidade, por outro lado. Destarte, segundo Lima
(2009)
Os riscos da popularização desse tipo de habitat parecem, a julgar pelo comportamento de muitos, empalidecer diante daquele benefício que, ao longo das décadas, veio assumindo uma centralidade cada vez maior no imaginário da classe média: o oferecimento de proteção e segurança contra a violência urbana.
É sintomático que a criação dos condomínios ocorra em meados da década de
70, quando os problemas relativos à proliferação da criminalidade começam a vir à
tona. Desta forma, é possível observar que além “da justaposição de territórios
ilegais31 controlados por grupos criminosos rivais entre si” estão ocorrendo, também,
Territorializações de autoproteção das camadas mais privilegiadas, situando-se, entre esses dois extremos, aqueles espaços (bairros comuns da classe média, áreas comerciais, espaços públicos) que, por serem mais desprotegidos ou não estarem diretamente territorializados por nenhum grupo social, apresentam-se mais expostos a diversos tipos de criminalidade violenta. (SOUZA, 2008. p. 72)
Ainda que este texto não tenha como objetivo discutir a “condominiarização”
do espaço público da cidade, é inevitável não dedicarmos algumas linhas a esta
modalidade de (in)convivência. Entendendo os condomínios fechados como produtos
e produtores da segregação espacial e da desagregação urbana, afirmamos que o Rio
de Janeiro passa a experimentar a consolidação de diversas fronteiras, materializadas
em grades e guaritas, simbolizando o anseio de algumas parcelas da população por
isolamento, distanciamento das pessoas que consideram perigosas. Não seria correto
afirmamos a existência de uma espécie de apartheid socioespacial, como o ocorrido
na África do Sul, dada a grande interação desses espaços com o restante da cidade,
seja através da aproximação das classes favorecidas em busca de drogas, seja pela
participação da população favelada em diversas ocupações por toda a cidade, seja
ainda pela vida cotidiana em que pouco se distingue moradores do “asfalto” e
31 Em nosso entendimento ocorre um equívoco na denominação proposta por Souza, uma vez que entendemos que territórios não são passiveis de serem ilegais, já que todos são, obrigatoriamente, construídos a partir das relações de poder, como o próprio autor propõe. Logo territórios ilegais, não seriam territórios, mas alguma outra coisa. Portanto acreditamos ser mais correta a denominação de territórios controlados por grupos ilegais.
103
moradores favelados, todavia a realidade se mostra, cada vez mais, preocupante, haja
vista a proliferação indiscriminada de “condomínios fechados”, até mesmo, nas
classes menos abastadas, que fecham logradouros públicos, contratam seguranças
particulares e restringem a livre circulação de transeuntes, configurando os chamados
“condomínios ilegais” (LIMA, 2009).
A cidade parece sobreviver com base em um novo pacto territorial, cujas
regras e normas são novas e estipuladas segundo as supostas necessidades de
segurança e afastamento. Portanto, conforme nos diz Valverde (2003. p. 4), “o
desenvolvimento dessas barreiras significa a existência de novos limites e fronteiras
que tornam ainda mais complexa a experiência urbana.”. Viver numa cidade cujo
espaço está fragmentado, ou melhor, cujo espaço está passando por uma intensa
fragmentação, pressupõe uma re-adaptação da vida cotidiana ao novo espaço que se
anuncia. Enquanto o espaço da cidade se transforma, uma nova sociedade também
esta sendo formada, assimilando que existem locais onde lhe é permitido entrar e
outros não, que determinados pontos da cidade são seguros e outros não, que certos
ambientes permitem uma sensação de maior segurança e em outros predomina a
certeza da insegurança. Portanto, o que de fato temos é uma nova imagem da cidade,
uma nova compreensão de seu espaço, de sua dinâmica, de sua identidade.
É claro que não podemos perder de vista que “a auto-segregação é uma
solução escapista” (SOUZA, 2008. p. 73), que em nada busca solucionar os
verdadeiros problemas da cidade, uma vez que
Representa uma fuga e não um enfrentamento, muito menos um enfrentamento construtivo. [...]. Se, de uma parte, os ‘condomínios exclusivos’ prometem solucionar os problemas de segurança de indivíduos e famílias de classe média ou da elite, de outra parte deixam intactas as causas da violência e da insegurança que o nutrem. (SOUZA, 2008. p. 73).
Se de um lado a cidade se vê às voltas com as construções dos condomínios,
legais ou ilegais, de outra parte se situam os enclaves territoriais do narcotráfico
representados pelas favelas, às quais são identificadas, para grande parte da sociedade
do “asfalto”, como legítimos territórios do medo. Corroborando essa ideia, Leite
(2008. p. 117) escreve que desde os anos 1980/1990 as favelas passaram a ser
104
encaradas pelo viés da violência e insegurança que trariam aos bairros próximos.
Destarte, “Atualmente, no repertório simbólico do Rio de Janeiro, o termo ‘favela’
abrange diversos outros territórios de pobreza (conjuntos habitacionais, loteamentos
irregulares, bairros periféricos etc.),” fazendo menção não apenas à precariedade das
construções e dos serviços públicos oferecidos, mas “sobretudo ao estigma da
marginalidade, desordem e violência que o recobre, transformando os favelados no
arquétipo das ‘classes perigosas’.”
Os valores e sentimentos negativos que foram imputados aos espaços pobres
da cidade, de uma maneira geral, consolidaram as ideias fundamentalmente
pejorativas que em muito colaboraram para a edificação de pré-conceitos e
estereótipos inibidores de qualquer tipo de solidariedade socioespacial, tornando
bastante “anêmica” e, até mesmo, indesejada, a relação favela-“asfalto”. Assim,
Ribeiro, escrevendo o prefácio da obra de Wacquant (2001), nos diz que
O recalcado pânico social das “classes perigosas” retorna ao imaginário coletivo na sua versão social-política e social-acadêmica, e participa da condenação do subproletariado urbano. Condenando-o à desqualificação, à invisibilidade e à inutilidade sociais, transforma-o de fração pobre do salariat em segmento marginal da sociedade. Condenando-o à exclusão da divisão social do trabalho e a viver em uma economia de pobreza, não raro alimenta-o com as práticas do capitalismo predatório das drogas e do roubo. [...]. Condenando-o ao cárcere de um ambiente social e cultural que incentiva e valoriza a prática da violência como único recurso simbólico, produz, especialmente para os jovens, a ilusão do reconhecimento social. (p. 14. grifos nossos).
Este trecho evidencia a preocupação de Ribeiro com o aliciamento de jovens
“iludidos” para atividades ilícitas, em busca de um reconhecimento social dentro da
própria favela, e aqui reside, em nosso entendimento, um importante ponto da
consolidação e expansão das práticas criminosas no Rio de Janeiro ao longo das
últimas décadas. Mormente envolvidos com tráfico de drogas, estes jovens, no
decorrer das décadas, assistiram ao crescimento e invasão dos entorpecentes pela
cidade. Em estudo realizado por Batista (2003) fica claro que é a partir dos anos
1970, quando aparecem as primeiras campanhas de “lei e ordem” tratando a droga
como inimigo interno, que se verifica o fortalecimento gradual do consumo de
105
cocaína entre a população jovem32. Destarte, “a disseminação do uso da cocaína traz
como contrapartida a especialização da mão-de-obra das comunidades periféricas na
venda ilegal da mercadoria.” (BATISTA, 2003. p. 84). Portanto ao mesmo tempo em
que aumenta o consumo ocorre também a massificação de jovens interessados em
trabalhar nas atividades relacionadas ao comércio de varejo de drogas ilícitas,
entretanto “aos jovens de classe média, que a[s] consomem, aplica-se o estereótipo
médico, e aos jovens pobres, que a[s] comercializam, o estereótipo criminal.”
(BATISTA, 2003. p. 84)33.
No período anterior à entrada da cocaína no comércio varejista ilegal da
cidade, as favelas se encontravam em situação de relativa tranquilidade. O tráfico
estava restrito à comercialização da maconha, sendo vendida pelos próprios membros
locais a uma clientela local, com rígidas normas de consumo – proibição de uso na
frente de crianças, por exemplo. Neste contexto, “embora andassem armados, os
traficantes usavam, no máximo, revólveres calibre 38, escondidos sob a camisa, fora
da vista. Armavam-se para se protegerem mas não tinham patrulhas organizadas de
defesa do território da favela [...].” (DOWDNEY, 2003. p. 27).
A classe média carioca, que entrou de cabeça no consumo de entorpecentes,
principalmente a partir dos anos 70, encontra nas favelas os pontos de venda (as
famosas “bocas de fumo”) de produtos ilegais, constituindo um movimento de
aproximação em direção as favelas, que, até então, não havia ocorrido. A incessante
busca pela cocaína, droga símbolo de status, traz para as favelas um novo público que
se mantinha distante, um público que passa a financiar o seu vício a partir da
utilização do trabalho de moradores locais, em sua maioria jovens na faixa dos 14-17
anos, que passam a figurar na divisão social (informal) do trabalho praticada dentro
32 Até a década de 1970, notadamente a partir dos anos 50, “o mercado de varejo de drogas ilegais no Rio de Janeiro era composto principalmente pela venda da maconha. A maconha, cultivada basicamente no nordeste, era consumida nas favelas, prisões e em algumas áreas de prostituição da cidade.” (DOWDNEY, 2003. p. 27). 33 É importante lembrarmos que em 1971, em plena ditadura militar, é promulgada a Lei n° 5.726, que equipara o comércio ilícito e o uso pessoal de entorpecentes, sem a necessidade de laudo toxicológico, que comprove a factibilidade da substância. Desta forma, Batista (2003. p. 88) afirma que “a Lei n° 5.726 transpôs para o campo penal as cores sombrias da Lei de Segurança Nacional e a repressão sem limites que era imposta aos brasileiros, no período mais agudo da ditadura militar. Esta lei sintetiza o espírito das primeiras campanhas de ‘lei e ordem’ em que a droga era tratada como inimigo interno.”
106
da hierarquia do narcotráfico34. Neste cenário, sobressaem as figuras de lideranças
locais,
Personagens historicamente importantes do lugar (principalmente assaltantes a mão armada, bicheiros ou pistoleiros/vigilantes) conhecidos como donos, [que] tiveram um papel importante nas relações sociopolíticas da comunidade, inclusive de manutenção mantendo a ordem pela violência ou ameaça de violência. (DOWDNEY, 2003. p. 28. grifos do autor.)
Nesse contexto, tanto os jovens de classe média quando os pobres são
duramente reprimidos pelas forças policiais, a diferença reside no fato de que os
jovens abastados financeiramente são tratados no âmbito privado/doméstico,
permanecendo poucos dias sob tutela do Estado; já os jovens pobres permanecem
durante longos períodos sob o controle das instituições do Estado.
Este aumento da repressão por parte do Estado parece ter sido um fenômeno de
âmbito, no mínimo, continental. Wacquant (2003) analisando o tratamento político
praticado pelos Estados Unidos nas últimas três décadas (1970, 1980 e 1990)
identifica a substituição gradual do Estado-providência por um Estado-penal e
policial, “no seio da qual a criminalização da marginalidade e a ‘contenção punitiva’
das categorias deserdadas faz as vezes de política social.” (p. 19/20). As
consequências desta política estatal de criminalização da pobreza conduzem a
sociedade americana, e carioca podemos acrescentar, a uma aceitação do uso de
métodos violentos, por parte das forças policiais, contra a população pobre, com o
suposto objetivo de garantir a ordem e exterminar o tráfico de drogas. As figuras 1 e 2
ilustram muito bem a adoção dessa política de segurança pública, apontando, na
primeira figura, o gradativo aumento das taxas de apreensões de armas de fogo e de
drogas ilícitas, ao longo das duas últimas décadas, e na segunda figura a atual
situação do sistema carcerário brasileiro no ano de 2007. Da mesma forma, essa
política se utiliza do recurso ao encarceramento35: os pobres nos territórios do
34 Mais uma vez é importante recorrermos ao trabalho de Batista (2003), quando ela afirma, com base em depoimentos de jovens detidos por atos relacionados ao tráfico de drogas em 1978, que o trabalho no tráfico, segundo os próprios jovens, é uma estratégia de sobrevivência, com base em um mercado de drogas já estruturado, altamente lucrativo e com uma clientela fica: as classes abastadas. 35 Wacquant (2003) afirma que a população carcerária dos EUA sofreu um aumento astronômico em poucos anos, em função da chamada política de “guerra à droga”, “política que desmerece o próprio
107
cárcere legal ou em sua própria casa e a população das classes médias e mais
abastadas nos condomínios exclusivos.
O raciocínio de Wacquant encontra eco na situação carioca através do estudo
de Zaluar (1994). A referida autora afirma que o desemprego, num país tragicamente
marcado pela desigualdade social, é um dos principais fatores que colaboram para a
manutenção dos altos índices de pobreza, pois afasta o cidadão de qualquer
assistência social oferecida pelo Estado, “como o coloca na categoria de criminoso e
enquanto tal é tratado.” (ZALUAR, 1994. p. 8). Ainda segundo a autora,
Esse fato, além de criar situações em que o trabalhador, desempregado e às vezes também o empregado, tem que enfrentar a violência do aparato policial, apaga perigosamente a distinção entre trabalhador e bandido, distinção essa fundamental na visão social da população pobre da cidade. (ZALUAR, 1994. p. 8)
Neste sentido, os dias de hoje possibilitam que o sentimento generalizado do
medo, como aludido no início deste trabalho, produza “expectativas e demandas de
segurança contra e não com os outros – levando a polícia a funcionar como
verdadeiro dispositivo de confinamento.” (MACHADO DA SILVA, 2008. p. 14.
grifos do autor).
nome, pois designa na verdade uma guerrilha de perseguição penal aos vendedores de rua, dirigida contra a juventude dos guetos para quem o comércio a varejo é a fonte de emprego mais diretamente acessivel.” (p. 29). Ainda que seja inegável a semelhança entre a situação norte-americana e o quadro apresentado no Rio de Janeiro, acreditamos que tanto o contexto político quanto as diferenças socioeconômicas não nos permitem traçar um real paralelismo fidedigno entre essas duas realidades.
108
Figura 1
NÚMERO DE ARMAS APREENDIDAS E REGISTROS DE APREENSÃO DE DROGAS
Estado do Rio de Janeiro - 1991/2008
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Armas Drogas
Fonte: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania - CESEC
Figura 2
Fonte: Centro de Estudos de Segurança e Cidadania - CESEC
109
Voltando nossa atenção à realidade carioca, durante a década de 1980, quando
se estabelece um arrefecimento do sistema ditatorial, tendo início o período da
redemocratização política, a criminalização persiste sobre os jovens pobres, que
vivem as trágicas consequências da recessão econômica e do aumento da inflação e
do desemprego. Neste período, as facções criminosas já estão estruturadas dentro dos
presídios, mas ainda não estão baseando sua economia na comercialização de
entorpecentes, cuja comercialização está ainda restrita ao nível local, ao redor das
“bocas de fumo”, numa clara atividade de compra e venda sem a presença de
qualquer grande organização “administrativa”. Batista (2003), mais uma vez ancorada
nos depoimentos de policiais e jovens traficantes pobres, escreve que o crime ainda
estava desorganizado, “pulverizado em pequenas unidades nas favelas e conjuntos
[habitacionais], recrutando seus jovens moradores para uma alternativa de trabalho
certa e rápida [...].”. (p. 98). Destarte, “a desorganização do varejo no mercado de
drogas vai intensificando esta disputa e o fortalecimento dos núcleos de força,
principalmente nas comunidades próximas aos bairros de classe média.”. (p. 101).
Estes núcleos de força apontados por Batista ganham uma maior relevância
justamente por se situarem como “mercados” estrategicamente situados próximos ao
mercado consumidor mais rentável: as classes média e alta.
Em meio a esse cenário à ideia de violência urbana é diretamente veiculada a
figura do traficante de drogas, que passa a ser visto como o principal portador da
desordem, gerador de conflitos e multiplicador do medo. Machado da Silva (2008. p.
37) afirma que os traficantes, identificados como atores, “seriam os ‘portadores’ da
violência urbana porque sua atividade, mais estável e duradoura do que as outras
modalidades de crime, exerceria sobre ela uma ação centrípeta.”.
A entrada e o domínio do tráfico de drogas nas favelas cariocas ocorreram
através da atuação das facções criminosas, gestadas nos presídios estaduais, que
começava a ganhar as ruas e enxergou no tráfico uma grande fonte de dinheiro para
os seus atos contra o Estado. É importante lembrarmos que a o Comando Vermelho
assumiu dentro das próprias cadeias o controle na distribuição de drogas, com a
conivência dos guardas penitenciários. (AMORIM, 1993).
110
Em meados da década de 1980 o CV altera oficialmente a sua estratégia de
obtenção de recursos financeiros. Ao invés de
‘Romper o muro’ para formar quadrilhas de assaltantes, eles estão envolvidos numa nova estratégia: controlar o tráfico de drogas em toda a região do Grande Rio e nas cidades turísticas do interior do estado, principalmente nas praias de Búzios e Cabo Frio e nas serras de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. (AMORIM, 1993. p. 159)
Este mesmo autor também enfatiza que a política de segurança pública
adotada pelo governo Brizola (em 1982), limitando a atuação policial nos morros da
cidade, permitiu “o enraizamento das quadrilhas. A violência entre os grupos que
disputam os pontos de venda de drogas ocorre debaixo do pano. Fica a impressão de
que não há ameaças abertas a segurança pública.” (AMORIM, 1993. p. 148). Não é
nossa intenção atribuir somente ao governo Brizola toda a culpa pelo fortalecimento e
fixação das facções, agora narcotraficantes, nos morros da cidade, entretanto é
bastante plausível o argumento de que o então governador ao adotar a postura de “não
mexer com quem está quieto”, fazendo diminuir o número de incursões e de
enfrentamento entre policiais e criminosos, acabou por estimular a expansão
territorial e organizacional das facções que, por um lado, se desenvolveram, criaram
laços de proximidade com a população local36 e consequentemente laços de temor e
de ódio em relação às forças policiais, e, por outro lado, se organizaram, promovendo
desde normas locais, passando pela sua própria hierarquia de funcionamento,
chegando até o seu fortalecimento bélico para combater os inimigos. Obviamente a
sensação de tranquilidade nas favelas foi bastante benéfica para os negócios dos
traficantes, uma vez que “a paz no morro é sinônimo de estabilidade nos negócios.”
(AMORIM, 1993. p. 148).
Não é por simples coincidência que a mesma década de 1980 é identificada
como o período em que o Comando Vermelho definiu e garantiu as suas áreas de
atuação. Por conseguinte, segundo Dowdney (2003. p. 30/31), as 36 Todos os entrevistados garantiram que a facção que domina uma favela colabora, de alguma forma, com os moradores, seja no oferecimento de materiais básicos (roupas, remédios, gás), numa manifesta preocupação assistencialista, seja fazendo a “segurança” dos moradores contra a polícia ou contra os traficantes rivais. Um entrevistado nos afirmou que a população das favelas se sente mais protegida do que os moradores do asfalto porque “nós fazemos a segurança deles. Nós estamos no dia-a-dia com eles, não a polícia.”
111
Bocas de fumo tradicionais, com base nas favelas e trabalhando com maconha, foram entendidas como base ideal para a venda da cocaína a varejo, e os membros do Comando Vermelho começaram a se organizar a si mesmos e seus territórios nas favelas, dentro de uma estrutura imprecisa de apoio mútuo. [...]. Quadrilhas hierarquicamente estruturadas foram implantadas nas favelas para defender pontos de venda e as comunidades vizinhas contra invasões policiais ou ataques de neutros [traficantes sem filiação com qualquer facção], e entre 1984 e 1986 começaram a surgir os primeiros soldados do tráfico [pessoas pagas exclusivamente para defender o território].
A entrada do CV no comércio varejista de entorpecentes parece ter
influenciado negativamente o futuro da organização, pois os ideais de “paz, justiça e
liberdade” vão sendo gradativamente deixados de lado em função do maior desejo de
lucro. Nesse sentido, o capital corrompe os valiosos elos de solidariedade existentes
entre os diversos e diferentes membros até que, nos dias atuais, cada líder busca,
quase que isoladamente, alcançar o maior lucro possível, assassinando membros
adversários se necessário. Os tempos de união ficaram no passado, hoje quem dita as
regras (sujas) é o capital. Corroborando nosso pensamento, temos a fala de um dos
nossos entrevistados que afirmou só ter entrado no tráfico por causa da relativa
elevada remuneração, não se importando com os ideais políticos contestatórios dos
anos anteriores. Quando Harvey (2004. p. 36) nos ensina que a “acumulação do
controle sobre territórios como fim em si tem claramente consequências econômicas,
que podem ser positivas ou negativas da perspectiva da extração de tributos, dos
fluxos de capital, da força de trabalho, das mercadorias, etc.”, é possível perceber que
a corrida das lideranças em busca de anexar mais favelas tem claramente um viés
economicista, abandonando os ideais solidários de outrora.
Paralelamente ao pensamento de Harvey, Sá (2007. p. 15), pensando a
realidade da violência no Brasil em relação à política pública, escreve que a política
brasileira “[...] há muito vem sendo determinada pelo jogo do mercado-Estado, e este
tem se guiado pelas máfias globais e nacionais.”, tendo como consequência o
aumento de todos os tipos de criminalidade, em todas as esferas e organizações, como
resposta ao fato “das normas do trabalho e quase todas as normas serem solenemente
desrespeitadas, já que as leis vigorantes são técnicas e impessoais.” (SÁ, 2007. p. 16).
112
Dessa forma, o narcotráfico passa a reunir diferentes tipos de força: a força
das armas, a força da aceitação da comunidade (primeiramente consentida e depois
via opressão) e a força financeira. Esta última, entendida como uma atividade
capitalista (ilegal), em que as facções rivais impelidas pela concorrência tendem a ser
atraídas ou repelidas para diferentes locais (favelas, conjuntos habitacionais) em que
os custos sejam menores ou as taxas de lucro maiores. Assim, “o capital excedente de
um lugar pode encontrar emprego noutro lugar em que as oportunidades de lucro
ainda não foram exauridas.” (HARVEY, 2004. p. 83). As constantes guerras entre as
facções pelos melhores pontos de venda de drogas se encaixam no pensamento de
Harvey (2004), que, não obstante, afirma que o comportamento competitivo
Gera também um estado de perpétuo movimento e de instabilidade crônica na distribuição espacial das atividades capitalistas, na medida em que os capitalistas buscam localizações superiores (isto é, de menor custo). A paisagem geográfica da produção, da troca, da distribuição e do consumo capitalistas nunca esta em equilíbrio. (p. 84).
A acirrada disputa pelo controle do narcotráfico carioca se justifica pela
vontade de obter o monopólio ou o oligopólio da venda varejista de drogas, pois,
segundo Harvey (2003. p. 84) “estes proporcionam segurança, calculabilidade e uma
existência de modo geral mais pacífica.”. Buscando esse monopólio as facções se
enfrentam em batalhas sangrentas, cujas principais vítimas são os moradores das
favelas envolvidas.
Num primeiro olhar pode parecer que a população favelada se estabelece
como meros personagens coadjuvantes nesta situação, assistindo ao crescimento do
tráfico, adaptando o seu modo de vida aos padrões de um local dominado, com toques
de recolher, proibição de uso de roupas consideradas inadequadas, modificações na
forma de se expressar, proibição de frequentar favelas consideradas inimigas, entre
outras. Em nosso entender, a população das favelas, durante muito tempo, legitimou a
atuação das facções, seja porque estes concediam bens necessários ou os auxiliavam
financeiramente, seja porque “prestavam” segurança contra os “inimigos”. De todo
modo, essa aceitação do mando narcotraficante, difundindo o seu “nómos local”,
passa também por alterações ao longo do tempo, como veremos a seguir.
113
De fato podemos observar que os traficantes, antes de se organizarem as
facções, nascidos dentro da própria favela, mantinham laços de respeito com os
moradores, que os conheciam “desde crianças”. Essa grande aproximação entre
favela e facção possibilitou um profundo processo de difusão dos valores e ideias do
narcotráfico entre as crianças e adolescentes, que crescem segundo essas orientações.
Nas entrevistas realizadas os jovens foram bastante claros ao afirmar que sendo
“crias” da comunidade eles tinham as proposições do narcotráfico como a conduta
correta a ser seguida, em que, por exemplo, a delação é um ato imperdoável. Esses
laços estabelecidos entre os jovens membros e a sua facção parecem serem quase que
dogmáticos ou, até mesmo, sanguíneos, chegando ao ponto de afirmarem que não
conseguiriam morar em alguma comunidade liderada por outra facção ou de se
relacionarem com pessoas pertencentes às facções rivais.
Os traficantes, que eram pessoas mais velhas, vendiam as drogas de forma
escondida, não mostravam suas armas, não permitiam a participação de crianças, e se
permitissem seria apenas em atividades que não requeressem o uso de armas
(DOWDNEY, 2003). Com a consolidação das facções esse cenário sofre algumas
interessantes modificações, implementadas, sobretudo, pela concorrência no domínio
dos pontos de venda.
Vistos como “oprimidos que oprimem outros oprimidos” (SOUZA, 2008), os
jovens que estão hoje envolvidos com atividades ilícitas – principalmente o tráfico de
drogas, que predomina nas favelas cariocas – se enquadram dentro de uma outra
perspectiva, do que aquela antiga geração de traficantes (a “Falange Vermelha”,
numa clara referência ao movimento de esquerda), pois
A partir dos anos 90, com a expansão das redes, veio a anonimização crescente, e a prisão ou morte dos mais velhos acarretou a sua substituição por indivíduos cada vez mais jovens e imaturos (normalmente consumidores de drogas eles mesmos), tendo como resultado o crescimento da violência. (SOUZA, 2008. p. 62)
Misse (2003) identifica quatro diferentes tipos de relação da população local
com as facções narcotraficantes, a partir das características de domínio praticadas,
que na maioria dos casos se mostra uma dominação não-legítima. O primeiro tipo
114
seria denominado de “mandonismo”, em que a população presta apoio ao “dono” –
líder conhecido por todos e reconhecido por uma parte significativa da favela; o
segundo seria uma “dominação não-legítima com pretensão de legitimidade local”,
onde a chefia da quadrilha é nascida no local, respeitam os moradores e tendem a
proteger os moradores contra as invasões inimigas, mas não obtêm muito apoio da
população local; o terceiro tipo é denominado de “tirania centralizada”, ocorrendo
nas favelas em que um único “dono” se impõe pelo medo e se isola da comunidade,
mas mantêm contato com os traficantes nascidos no local; e o último tipo é a “tirania
segmentada”, marcada pela disputa de vários traficantes líderes, estranhos à
população local, por meio do uso extremo de violência.
De uma maneira geral, observando a evolução da violência, do narcotráfico e
das políticas de segurança empreendidas, a situação atual do Rio de Janeiro pode ser
“caracterizada por uma transição do mandonismo ou da dominação não-legítima com
pretensão de legitimidade para a tirania centralizada e tirania segmentada em quase
todas as áreas.” (MISSE, 2003).
Podemos considerar que a vida nas favelas é basicamente uma vida cerceada
em basicamente todas as dimensões. Machado da Silva (2008a. p. 14/15) afirma que a
população da favela
Vive uma vida sob cerco. De um lado, pela violência criminal e policial que desestabiliza a sociabilidade em seus territórios de moradia (e de trabalho para muitos) e dificulta o prosseguimento regular das interações nas diferentes localidades. [...]. De outro lado, o medo e a desconfiança generalizados das camadas mais abastadas da cidade obrigam os moradores das favelas a um esforço prévio de “limpeza simbólica” – isto é, necessidade de demonstrar ser “pessoa (ou grupo) de bem”, a fim de ganhar a confiança do Outro –, poucas vezes bem-sucedido, antes mesmo que possam apresentar no espaço público suas demandas como interlocutores legítimos. O confinamento geográfico cerceia-lhes também a palavra. (grifos nossos).
A vida do outro lado do enclausuramento voluntário se desenha com
contornos bastante sombrios. Uma vida sob cerco: da polícia, dos traficantes e da
sociedade. Destarte estamos diante de um intenso conflito territorial que se
esquadrinha sob os becos e vielas, se manifesta nas mortes e nos “caveirões” e se
materializa espacialmente pela sobreposição entre diferentes e conflitantes
115
territorialidades. Acuados de um lado pelo poder narcotraficante, oprimidos por outro
lado pelas forças policiais e estigmatizados pela sociedade como criminosos ou
coniventes com o crime, a população da favela adota diferentes estratégias para
alcançar a sua sobrevivência física e social. É claro que estamos diante de um conflito
desigual de poder, em que prevalece o lado que detém os melhores e mais
apropriados recursos para a disputa. Por conseguinte, o lado que exerce o poder, que
faz prevalecer o seu domínio, sofre, obrigatoriamente, uma ação de resistência. Assim
como as territorialidades faccionais são produtos da resistência contra o poder
exercido pelo Estado nas penitenciarias, a relação narcotráfico-morador também
estimula a construção de um movimento de resistência, afinal “é admissível falar de
resistência onde existe poder: resistência da matéria ou resistência do corpo social à
transformação.” (RAFFESTIN, 1980. p. 56).
Quando Raffestin (1980. p. 53) escreve que “toda relação é o ponto de
surgimento do poder, e isso fundamenta a sua multidimensionalidade”, ele está
evidenciando que as relações de poder não se constroem apenas materialmente,
através de objetos visualmente cognoscíveis (por exemplo, armas, bandeiras,
monumentos), mas também se formam e adquirem significado ao se estabelecerem
claros sinais de que há uma confrontação, uma oposição, isto é, uma contraposição
em que a divergência conduz a uma disputa (desigual) de poder, que abrange toda a
população envolvida em diversos aspectos, desde de o ir e vir (circulação) até o que
se pode saber (informação).
Leite (2008, p. 134), baseada em relatos de moradores favelados, escreve que
A presença e a atuação dos traficantes em seus locais de moradia trazem insegurança e violência a seu cotidiano, subvertendo suas rotinas, influenciando sua conduta individual e provocando uma atenção desmedida para tentar controlar o perigo que eles representam, além de sufocar a articulação de ações coletivas para enfrentá-los.
Pensando estritamente na relação favelado-traficante é possível apontar,
segundo Leite (2008) dois conjuntos de estratégias de sobrevivência. O primeiro é
defensivo e se refere a “não-confrontação dos criminosos, até mesmo evitando o
máximo possível os encontros.” Este conjunto busca efetivamente a demarcação de
116
uma fronteira simbólica entre moradores e favelados, como uma forma de reduzir as
situações de contato por intermédio de diferentes medidas, como não fumar, não
cheirar, não aceitar favores etc. Trata-se de uma medida preventiva de refutação de
qualquer ligação com o narcotráfico.
O segundo conjunto é ativo e diz respeito a maneira como reagir e conversar
caso haja algum um contato com os traficantes. Compartilhando as histórias do
passado, os moradores tentam conquistar uma maior facilidade de diálogo. Não se
trata de buscar na narcopolítica ajuda ou qualquer outro tipo de beneficio, mas é uma
maneira de se evitar o confronto direto, de evacuar da favela as duras consequências
para a população favelada de um embate entre os moradores e o narcotráfico. Leite
(2008, p. 131) acredita que esses dois conjuntos de medidas
Disponíveis para os moradores de favela, alimentam-se mutuamente, constituindo as formas disponíveis para lidar com o crime violento, que são acionados como parte de sua compreensão dos perigos associados à contiguidade territorial com o crime violento e do cálculo dos riscos envolvidos.
Não podemos esquecer que o território da favela também é disputado pelas
forças policiais, representantes do poder público, que, conforme noticiam os veículos
de imprensa e afirmam os moradores da favela, não fazem qualquer distinção entre
bandido e morador. O favelado então se encontra, mais uma vez, metido numa
relação de poder, só que desta vez o opositor veste farda e tem “autorização legal”
para matar.
Em nosso entendimento é necessário a distinção entre o “favelado” e
“criminoso”, palavras que para grande parte da sociedade carioca soam como
sinônimos. No entanto, essa tarefa é dificultada pelas experiências comuns do
passado, em que as origens de muitas famílias se misturam e a demarcação de linhas
separatórias de distinção acabam se esvaindo nas brincadeiras do dia-a-dia, nos
almoços, nas festas de confraternização etc. O espaço da favela é, destarte, tomado
por um profundo sentimento comum de identificação e afinidade, cuja base material
e, também, simbólica é justamente o lugar favela. O que percebemos é que a vida na
favela é tracejada por marcos identitários comuns, que através do espaço propiciam
117
uma ligação afetiva entre os todos os moradores, fazendo-os sentir parte de uma
mesma história de vida.
Ao que tudo indica, no pensamento do policial é por demais complicado, ou
melhor, arriscado para a sua integridade física, tentar realizar a separação entre
morador e traficante para depois agir (com uma arma na mão) da maneira que lhe
parecer correta. É mais seguro atirar em quem aparecer pela frente. Deste modo, “a
polícia é repetidamente responsabilizada pelos perigos e pela insegurança que [os
moradores da favela] vivenciam em seu cotidiano.”. Vistos como inimigos declarados
dos moradores, os policiais são investidos de medo e de apreensão toda vez em que se
preparam para executar alguma tarefa na favela. Da parte da população local, os
moradores “são muito críticos às frequentes incursões, acusando os policiais de não
cuidarem da proteção dos habitantes e agirem com a mesma falta de respeito dos
traficantes [...].”. (MACHADO DA SILVA & LEITE, 2008. p. 58).
Uma legitima representação política poderia ser uma saída para os moradores,
uma representação que apresentasse não só aos moradores, mas também ao restante
da sociedade as reclamações e os desejos da favela. Emerge a necessidade de
discutirmos como a favela se faz ouvir, ou seja, como ela ganha voz para pleitear suas
carências e demonstrar as suas vontades. Como é sabido, a população favelada sofre
sérias restrições no seu direito de expressão, sendo proibidos de falar sobre qualquer
fato que remeta à atividade narcotraficante – “ninguém sabe, ninguém viu nada” –
sob risco de serem taxados de “X9”37 e serem mortalmente penalizados. Se a relação
população-narcotráfico já foi um dia aceita e defendida pelos moradores e hoje, numa
mudança drástica, é caracterizada por práticas tirânicas cerceadoras de liberdades,
então é sinal de que a favela parece ter como principal canal de voz organizada e
pacífica a associação de moradores. Entretanto, Leite (2008) nos alerta que a
expansão do narcotráfico pelas favelas subalternizou as organizações de base,
“esvaziando-as de base social e legitimidade. Com base nesse fato, as autoridades
públicas e a própria mídia via de regra percebem e classificam quaisquer de seus atos
como ‘comandados’ pelo tráfico.” (p. 119).
37 No linguajar coloquial das favelas “X9” é o mesmo que delator.
118
O encarceramento imposto à população favelada, portanto, não se restringe
aos limites da favela. Se, ao que tudo faz crer, o favelado é mal-quisto em diversas
partes da cidade e é alijado de diversos direitos, esse encarceramento não se limita
apenas à dimensão espacial. Como assinalado acima, o favelado tem cerceado o seu
direito de ir e vir, tanto pela narcopolítica que determina até onde é possível ir, quanto
pela sociedade que não aceita ou desconfia da co-presença em certos ambientes; tem
limitado a sua forma de expressão, não podendo declarar publicamente os seus
verdadeiros desejos e reclamações. Destarte, o favelado se encontra numa situação de
encarceramento imposto e ampliado, em que o múltiplo confinamento passa a ser, em
muitos casos, uma medida de sobrevivência.
Desta forma, foi possível entender que o espaço da cidade do Rio de Janeiro
se guia segundo o pensamento ou de uma auto-reclusão ou de uma reclusão-forçada.
Como se pôde perceber, diferentes classes sociais se cercam por todos os lados,
principalmente em condomínios exclusivos através de grades e trancas, constituindo
um típico processo de auto-fechamento, que torna temerosa a idealização do estranho,
do desconhecido e, consequentemente, impede que sejam construídas sólidas relações
socioespaciais. Coaduna-se a essa situação o enfraquecimento do espaço público, que
passa a ser visto como local da insegurança, ou mais explicitamente, como lócus do
medo. Nesse mesmo sentido, é dirigido às populações pobres o sentimento de um
maior confinamento, em que as forças policiais se destacam como legítimos
opressores, evidenciando os limites de sua circulação por intermédio do uso da força.
É claro que a narcopolítica é o elemento de maior controle desta população, pois além
de oprimi-los com ameaças e atos bárbaros, ela se constitui como um grande “agente
limitador”, impedindo a livre circulação, a comunicação, as formas de expressão,
entre outras. Portanto observamos que as populações residentes em favelas sofrem
um processo de “encarceramento imposto ampliado”, em que têm basicamente
reprimidas todas as suas ações.
Esta mesma população está submetida a uma densa trama territorial, em que
diferentes agentes duelam pelo domínio do território da favela, permitindo-nos
entender que o território favelado se constitui “un sitio de constante interacción y
lucha entre dominación y resistencia.” (OSLENDER, 2002).
119
Parece-nos que estamos diante da construção de uma territorialidade de
resistência, em que é possível entender que
El espacio no es simplemente el dominio del estado que lo administra, ordena y controla (representaciones del espacio), sino la siempre dinámica y fluida interacción entre lo local y lo global, lo individual y lo colectivo, lo privado y lo público, y entre resistencia y dominación. En el espacio se brinda entonces también el potencial de desafiar y subvertir el poder dominante [...]. Una sensibilidad frente a lugares particulares de resistencia implica el reconocimiento de la intencionalidad de sujetos históricos, la naturaleza subjetiva de las percepciones, imaginaciones y experiencias en contextos espaciales dinámicos, y cómo los espacios están se transformados en lugares llenos de significados culturales, memoria e identidad. (OSLENDER, 2002)
Por fim, é tempo de expormos a valiosa rede de poder que se estabeleceu entre
o narcotráfico e a favela, para que as facções narcotraficantes alcançassem o elevado
grau de poder e de representatividade na vida carioca. Como já foi apontando
anteriormente, as facções foram criadas e se consolidaram nos porões das
penitenciárias no período da ditadura e ganharam exterioridade através de seus
representantes libertos que atuavam na cidade e residiam nas favelas e nas áreas
periféricas da cidade. Afora esse fato de grande relevância, o relacionamento reticular
mantido entre as instituições totais e as favelas ainda constitui um dos principais
elementos de manutenção do poder das facções.
Informações e circulações transpassam essa rede constantemente, orientando
os passos a serem dados, dirigindo as condutas a serem assumidas e coordenando
todas as atividades a serem praticadas. É a verificação dessa rede que pretendemos
apresentar.
Portanto, acreditamos que as favelas e as instituições totais estejam
estruturando uma articulação reticular capaz de prover a circulação de informações e
mercadorias que sustentam a empresa do narcotráfico. Favelas e instituições estariam
conformando uma complexa trama de interesses financeiros que nem os muros das
instituições nem as forças policiais são capazes de interromper e que, por outro lado,
consegue coadunar cada vez mais elementos para a continuidade de seu lucrativo
funcionamento. Vejamos isso um pouco melhor.
120
4.4. Favelas e instituições totais: geografando uma rede de poder
Com a progressiva expansão e rentabilidade do comércio de drogas ilícitas,
simultaneamente atraindo mais mão-de-obra para a execução das atividades
necessárias, se complexifica também a rede de agentes e de interesses sobre os lucros
gerados.
Essa rede “de interesses” tem por fundamento a construção de uma rede
anterior, que permitiu a constituição, consolidação e reprodução das facções
narcotraficantes, uma rede de poder que difundiu sobre o Rio de Janeiro o sentimento
do medo e os símbolos do narcotráfico.
De início é crucial explicitarmos nosso entendimento de rede. Musso (2004. p.
31), baseado em diversos outros autores, escreve que a rede “é uma estrutura de
interconexão estável, composta de elementos em interação, e cuja variabilidade
obedece a alguma regra de funcionamento.”. Embasado nessa definição, Musso
(2001) distingue três níveis teóricos, bastante caros ao nosso estudo:
1. A rede é uma estrutura composta de elementos em interação (picos ou nós ligados
entre si por caminhos ou ligações);
2. A rede é uma estrutura de interconexão instável no tempo (a estrutura da rede
implica em uma dinâmica);
3. A modificação de estrutura da rede obedece a alguma regra de funcionamento (as
redes também se orientam por normas).
Esses três níveis revelam que a rede não pode ser apreendida totalmente, uma
vez que se encontra em constante transformação, no tempo e no espaço, assim como
os seus elementos são incessantemente modificados pelas interrelações socioespaciais
estabelecidas. Ademais a convergência espetacular de fluxos (informações,
mercadorias, objetos) no e pelo interior das redes impede o pleno reconhecimento das
ações que lhe dão utilidade. Portanto, podemos afirmar que a rede
121
É uma estrutura composta por elementos em interação; em sua dinâmica, ela é uma estrutura de interconexão instável e transitória; e em sua relação com o sistema complexo, ela é uma estrutura escondida cuja dinâmica supõe se explicar pelo funcionamento do sistema visível. (MUSSO, 2004. p. 32)
É notório que uma rede tem uma intencionalidade inscrita em sua formação,
intencionalidade que lhe confere características básicas, como extensão, elementos
nodais que servem de sustentação ao seu funcionamento e tipos de prévios de
conexão para um melhor desempenho38. Portanto, podemos afirmar, juntamente com
Raffestin (1980) que a rede “é proteiforme, móvel e inacabada, e é dessa falta de
acabamento que ela tira sua força no espaço e no tempo. A rede faz e desfaz as
prisões do espaço, tornado território: tanto libera como aprisiona. É o porquê de ela
ser o “instrumento” por excelência do poder.”
Não obstante, as redes também se estabelecem tendo por princípio a
possibilidade de promover a circulação e a comunicação entre diferentes pontos no
território. Essa clara aproximação entre rede e território torna esse conceito bastante
útil ao entendimento contemporâneo da dinâmica territorial narcotraficante, assim
como das estratégias adotadas em função de um domínio do território. Desta forma,
conforme afirma Raffestin (1980), as redes servem como instrumentos eficazes no
desenvolvimento de estratégias de dominação por ofertarem meios de distribuir,
informar e comunicar seres ou objetos entre si e pelo espaço.
Num rápido exercício mental, se pensássemos apenas as facções
narcotraficantes a partir das redes ilegais do tráfico de armas e de entorpecentes, num
pensamento basicamente economicista, nosso raciocínio estaria bastante limitado e
incompleto, pois deixaríamos de lado toda a carga simbólica (como signos, sinais, por
exemplo) utilizada, todo o conteúdo (faccional) identitário circulante, todo o teor
ideológico (ainda que hoje em menor proporção) veiculado. Desta forma, as redes
não podem ser compreendidas apenas pelo seu aspecto material, sendo fundamental
38 Em tempos de acentuação da globalização, a comunicação instantânea pode, em alguns casos, prescindir de alguns de seus elementos materiais básicos, como estradas, linhas de transmissão de energia e cabos telefônicos.
122
também a análise de sua faceta imaterial. Com isso, Haesbaert (2006. p. 281) escreve
que
Com uma maior carga imaterial, ou, mais propriamente, combinando de forma muito mais complexa o material e o imaterial, as redes contemporâneas, enquanto componentes dos processos de territorialização (e não simplesmente de desterritorialização), configuram territórios descontínuos, fragmentados, superpostos, bastante distintos da territorialização dominante na chamada modernidade clássica.
O território-rede, como já apresentado anteriormente, precisa ser entendido
como um termo “para enfatizar o papel das redes em processos (re)territorializadores,
ou seja, na construção de territórios em seu sentido de controle ou domínio material
e/ou apropriação simbólica.” (HAESBAERT, 2006. p. 294). Complementando esse
conceito39, temos de enfatizar que, segundo (HAESBAERT, 2006. p. 286)
Numa concepção reticular de território ou, de maneira mais estrita, de um território-rede, estamos pensando a rede não apenas enquanto mais uma forma (abstrata) de composição do espaço, no sentido de um ‘conjunto de pontos e linhas’, numa perspectiva euclidiana, mas como o componente territorial indispensável que enfatiza a dimensão temporal-móvel do território e que, conjugada com a ‘superfície’ territorial, ressalta seu dinamismo, seu movimento, suas perspectivas de conexão [...] e ‘profundidade’ [...].
Somente dessa forma é possível geografar as redes que se estabelecem entre
as instituições totais e as favelas. Num primeiro momento, não podemos obliterar o
íntimo e antigo relacionamento entre a favela e as facções narcotraficantes, gestadas
justamente nas instituições totais – com destaque para o Instituto Penal Cândido
Mendes –, que permitiram o seu fortalecimento em meados da década de 70. Com
base nessa estreita aproximação, as facções, com destaque para o Comando
Vermelho, encontraram os tentáculos externos necessários a sua reprodução no
mundo exterior, que forneciam informações e cumpriam as ordens dos líderes presos,
e oxigenaram a facção com novos membros, fazendo proliferar pela cidade o ideal de
“Paz, Justiça e Liberdade”. A constituição dessa rede, que também passa a incorporar 39 É ainda válido acrescentar, brevemente, a distinção entre território-zona e território-rede, em que o primeiro se refere a um “espaço absoluto”, “sem temporalidade”, ou seja, um território desvinculado do movimento, enquanto o segundo faz referência à dinâmica, à temporalidade, ao movimento. Em suma, não passam de “tipos ideais”, que não podem ser identificados separadamente na realidade efetiva.
123
os demais presídios, tinha por base o funcionamento de um sistema de “correio”
próprio: as visitas dos advogados e dos familiares. Através desses informantes,
engravatados ou aparentando serem pessoas humildes e preocupadas com seus
parentes presos, as ordens do CV chegam ao seu destino, seja a favela ou outro
presídio. Amorim (1993. p. 106) afirma que “o correio da organização orienta a
guerra dentro das penitenciárias, manda instruções para as quadrilhas aliadas que
estão na rua, faz cobranças, emite decretos. Decide sobre a vida e a morte.”. Os
muros e a distância espacial entre a Ilha Grande e as favelas da cidade não impediram
o pleno desenvolvimento dos grupos criminosos organizados, transmitindo valores,
símbolos, informações, armas e drogas, não somente através dos advogados e
parentes, mas também pelos meandros dos discursos e das palavras de ordem que
difundiam a ideologia “esquerdista” dos vermelhos40. Este recurso parece ter sido o
de maior eficácia na difusão ideológica e simbólica do CV, uma vez que inculcou na
cabeça de muitos moradores das favelas que, enfim, estava nascendo uma
organização preocupada com a população favelada, uma organização disposta a
enfrentar o restante da sociedade em nome da proteção dos interesses dos mais
necessitados41.
Ao que tudo indica, o CV assume, primeiramente, o controle territorial das
favelas não pela imposição da mão armada, mas pela persuasão coletiva de que os
dias de penúria e de sofrimento estavam chegando ao fim por meio de um grupo
organizado que daria voz aos moradores e faria toda a cidade ouvir os sons, não
apenas do samba, mas da pobreza e dos seguidos anos de descaso do poder público.
Não é de outra forma, que a população carente trata, ou, na verdade, tratou com
40 Em pleno período da ditadura militar, as autoridades policiais cariocas acreditavam estar se formando, dentro do Instituto Penal Cândido Mendes, um grupo organizado de esquerda. Entretanto não se tratava de uma ideologia de cunho marxista com viés revolucionário, mas uma “ideologia contra o sistema e tudo o que ele representa, especialmente o braço armado da sociedade.” (AMORIM, 1993. p. 120). 41 Cabe ressaltar que, nesse período em meados do início da década de 90, uma das principais manifestações culturais dos jovens favelados, os bailes funk, são responsáveis pelo combate físico entre jovens moradores de favelas rivais, que se enfrentam em “defesa” da honra de sua favela. Ventura (2004) faz interessante relato dessa “disputa faccional” ao escrever sobre um “baile de corredor”, em que ele observa jovens de Vigário Geral, enfrentando os de Parada de Lucas, cada lado defendendo a honra de sua favela segundo a facção dominante. Essas disputas não ficaram restritas apenas aos bailes da favela, mas chegaram até as praias da zona sul, onde jovens oriundos de favelas rivais travaram brigas e provocaram os chamados “arrastões”.
124
carinho os “chefões” do tráfico e estes exercem/exerciam o papel de “pai” dos pobres
(AMORIM, 1993). Essa espécie de “trabalho social” tinha um interesse particular,
além da segurança da imagem do narcotráfico perante a população, que era a
separação, por parte do morador, entre o antigo traficante (cruel) e o traficante que
agora se instala.
Com essa estratégia “beneficente” o CV, no fim de 1985, controlava 70% dos
pontos de venda de entorpecentes na cidade. Desta forma, podemos afirmar que as
facções ao territorializarem as favelas estavam controlando ou construindo
fluxos/redes e criando referenciais simbólicos num espaço em movimento.
(HAESBAERT, 2006), não se limitando apenas ao controle da circulação de pessoas
e de objetos, por exemplo.
Nesse período, muitos moradores também resolvem aderir à violência armada
com o intuito de, juntamente com os traficantes, defenderem a favela dos inimigos,
pois sabem as trágicas consequências que podem sofrer se o poder trocar de mãos
(AMORIM, 1993), sinalizando uma forte integração traficante-morador. Além da
forte coesão que se criou entre a favela e a facção dominante, em um sentido bélico
de defesa contra invasores, é também bastante presente a consolidação dos símbolos
“vermelhos”, como os observados nos alto dos morros, onde o CV “coloca cruzeiros
iluminados 24h simbolizando a posse do território.” (AMORIM, 1993. p. 174).
Com o passar dos anos e o intenso desenvolvimento dos meios tecnológicos
de comunicação, os traficantes se aproveitaram e passaram a se utilizar de todas as
ferramentas possíveis, desde os banais telefones celulares até o envio de mensagens
por rádios transmissores. A banalização da comunicação beneficiou diretamente a
proliferação de informações e de signos entre as instituições totais e as favelas, que
passaram a se tornar os pontos nodais de representação da rede de poder
narcotraficante. No território da favela são publicamente expostos todos os símbolos
e signos adotados pela facção, cujos principais são as armas de fogo e a ostentação
dos lucros obtidos pela venda das drogas. Estes símbolos representam uma clara
manifestação de resistência à opressão e à segregação socioespacial sofrida pela
população favelada ao longo dos anos, representam as cicatrizes provocadas pela
125
fragmentação do tecido sociopolítico-espacial. Em suma, alimentam uma engrenagem
de reprodução do medo e de perturbação da ordem pública, cujas peças são
constantemente repostas à medida que os “soldados” caem.
Sustentando o funcionamento das redes, homens e mulheres dão vida à uma
teia, regida por normas próprias, cuja violação prevê graves penalidades. As normas
não permitem a delação e a falha, “informação dada é informação recebida”, em que
os condutores têm de estar precisamente encaixados a fim de evitar vazamentos ou
falta de conexão para que as informações e/ou os objetos cheguem no receptor e,
assim, se dê movimento não só à facção, mas ao território-rede que o fundamenta.
Nos parece que neste ponto, estamos bastante próximos da ideia de estratégia-rede de
Marcon e Moinet (2001), que enxergam uma “indissociabilidade” entre rede e
estratégia (ou inteligência), como se formassem uma única ferramenta em favor de
um projeto comum. Dessa forma, segundo Marcon e Moinet (2001. p. 21) a
estratégia-rede “consiste em criar ou na maioria das vezes em ativar e orientar as
ligações tecidas entre atores no âmbito de um projeto mais ou menos definido.”, nos
fazendo ficar bastante atentos ao fato de que a ligação reticular favela-instituição total
faz prevalecer os interesses da facção em detrimento de vontades individuais ou das
carências da população favelada, significando que “a estratégia-rede nasce a partir do
momento em que pelo menos um dos atores orienta e ativa essas ligações no âmbito
de um projeto, apoiando-se nas propriedades próprias das redes. A estratégia-rede é,
então, um meio a serviço de um fim.” (MARCON & MOINET, 2001. p. 22).
É justamente esse caráter estratégico da rede que nos parece ser o ponto
principal por detrás da articulação entre a favela e as instituições totais. Muito mais
do que em benefício de um ou outro morador, ou da desmoralização do Estado no
seio da favela, a relação reticular estabelecida se coloca ao serviço de uma
organização que tem fins próprios e se utiliza de meios próprios para alcançá-los.
Ademais, é evidente que a facção, enquanto grupo presente tanto no morro quanto nas
instituições totais, necessitou e necessita dos recursos oferecidos pela favela, ao passo
q a recíproca não é verdadeira. Quando do início do movimento faccional, a favela se
articulou com as instituições devido à uma proximidade parental entre os membros
presos e os familiares residentes nas favelas; nos dias atuais, esses laços já estão, em
126
sua grande maioria desfeitos, restando apenas as correntes ameaçadoras impostas
pelas lideranças narcopolíticas, que envolvem a favela, configurando um território-
rede, cujas relações de poder também subscrevem uma rede de poder entremeada por
vidas comuns.