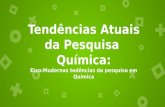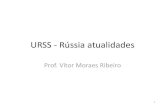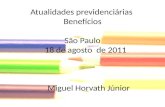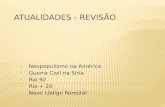Atualidades
Transcript of Atualidades
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSCaro candidato, voc tem em mos uma apostila que contempla todos os conhecimentos que esto sendo cobrados nos atuais concursos pblicos. Os itens das provas objetivas avaliaro habilidades mentais que vo alm do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreenso, aplicao, anlise, sntese e avaliao, valorizando a capacidade de raciocnio. Por isso mesmo, faz-se necessrio uma grande disciplina, determinao e muita organizao no que tange aos seus estudos para a conquista de uma vaga no servio pblico. Essa apostila tem como objetivo auxili-lo nesta conquista. O tema Atualidades constantemente reescrito, tendo em vista as permanentes transformaes da sociedade. Por isso, ser de grande importncia para os seus estudos o acompanhamento, se possvel diariamente, dos principais acontecimentos no Brasil e no Mundo veiculado pelos meios de comunicao. Sugiro que voc d preferncia aos meios de comunicao por escrito, exemplo: Jornais, Revistas e a Internet. Ao longo dos textos que compem esta apostila, vrios sites sero apresentados para que voc possa ampliar e aprofundar os seus estudos. Sugiro que preste ateno nos seguintes temas gerais, pois as provas dos ltimos anos esto, na maioria dos casos, discutindo algo em relao a um dos seguintes temas: ATUALIDADES Tpicos relevantes e atuais de diversas reas, tais como poltica, economia, sociedade, educao, tecnologia, energia, relaes internacionais, desenvolvimento sustentvel, responsabilidade socioambiental, segurana e ecologia, e suas vinculaes histricas. Vale ressaltar algumas dicas importantes para um candidato tornar suas atividades mais eficientes: Limpe sua mesa e deixe sobre ela somente o material indispensvel para a realizao da tarefa imediata. O excesso de cadernos, papis, livros ou pastas aguardando suas providncias, provoca distrao e desnimo, alm de dificultar a localizao daquilo que necessrio ao desenvolvimento da atividade. Faa uma coisa de cada vez. A preocupao com vrias tarefas simultneas divide a ateno, ocasionando perda de tempo e prejuzos. Escolha um lugar para guardar os materiais que sero utilizados em seus estudos, e mantenha-o sempre organizado. Para isso, utilize apenas os materiais necessrios naquele momento, lembrando de retorn-los ao seu devido lugar aps o uso. No deixe para depois o que voc puder fazer na hora. Execute ao menos o primeiro passo, o mais rpido possvel. Mantenha sempre mo uma relao de tarefas. Registre-as em uma agenda, caderno ou pasta com folhas soltas. Na medida em que surgirem tarefas, determine um prazo mximo para o cumprimento de cada uma, contando com os possveis imprevistos. Toda papelada que j foi usada e que voc sabe que no ter mais utilidade, jogue no lixo. O acmulo de lixo s atrapalha. INTERRUPES Telefonemas interrompem sua concentrao e quebram o ritmo de estudo. Quanto mais constantes eles forem, mais lenta ser sua produo. Fofocas, passatempos e pessoas que no tem ocupao, acabam atrapalhando seu horrio de estudo e gerando perda de tempo. Procure observar quem o interrompe e com quais objetivos - na maioria das vezes sempre a mesma pessoa. Se possvel, estude em lugar isolado, onde no transitem pessoas livremente. Tire, por exemplo, cadeira confortveis das proximidades de sua mesa, para que voc no seja incomodado por algum. Deixe claro que voc est atarefado. Continue com a caneta em posio de escrever, a mquina ligada ou o papel na mo, mostrando que voc deseja continuar sua tarefa. Diga que voc tem pouco tempo disponvel e seja bem objetivo. No deixe que essas interrupes sirvam de desculpas para mais perda de tempo. Assim que a pessoa for embora, reinicie seus estudos. Seja flexvel e criativo. Lembre-se que sair da rotina d mais sabor vida, aumenta nossa experincia e amplia as possibilidades de realizaes. Dicas Gerais O local de estudo deve ser limpo, quieto, bem iluminado pelo sol, arejado e confortvel. Deve ser um local em que voc se sinta bem. A cadeira e a mesa devem ser adequadas ao seu peso/tamanho. O ambiente de estudo deve ser simples e bem organizado. D preferncia a sua casa, a fim de no perder tempo com o trnsito. A no ser que suas condies de concentrao no ambiente domstico esteja comprometido. Evite estudar numa sala que tenha telefone, TV ou um aparelho de som. Tenha sempre mo muitos lpis (ou lapiseiras), borrachas macias, apontadores, canetas, grampeador, rgua milimetrada, esquadros, compasso, papis para rascunho e uma estante com os livros e apostilas para o Concurso. Acostume-se a usar sempre os mesmos lpis e canetas que voc levar no dia da prova, para se familiarizar com o material e diminuir o nervosismo na hora do exame. Quando estiver na sala do exame, imagine-se no seu ambiente de estudo e esquea dos outros candidatos ao redor. Saiba que voc o seu prprio fator limitante no concurso e a concorrncia no importa, pois eles provavelmente estaro suando frio durante a prova. Para obter sucesso no estudo individual, preciso planejar seu horrio, priorizando as disciplinas nas quais apresente maiores dificuldades e estabelecendo um cronograma para cada uma dessas matrias. Dedique o resto do dia ao estudo das matrias menos prioritrias. Estude vrias horas por dia, sete dias por semana. Estude o mximo que puder, numa boa e com tranquilidade. Ser cansativo, mas ser um grande investimento para o seu futuro. melhor investir o tempo dessa maneira, no mesmo? Como se dar bem nos resultados Para ajudar vocs na hora da prova do concurso, aqui esto algumas dicas de como agir na hora e pouco antes das provas: 1. No tome energticos para "virar a noite", eles ajudam a te manter acordado, porem diminuem a capacidade de raciocnio. 2. Evite comer chocolate no dia da prova. Por ser muito gorduroso, demora a ser digerido e causa sonolncia. 3. Se for almoar alguma comida muito gordurosa, tome um suco de laranja ou limo para ajudar na digesto e evitar que fique com sono, prejudicando assim o estudo. 4. No fique jejuando, nem coma s verduras, coma carboidratos, presentes nas massas, que so facilmente digeridos e do bastante energia. 5. Jante pelo menos quatro horas antes de dormir. 6. Na hora da prova, voc pode levar barras energticas de cereais ou frutas (d preferncia a banana, ma e pera), para beber, gua ou isotnico, ch, (como o mate) pode dar sonolncia e refrigerante, gases. 7. Na vspera da prova, no invente de comer um acaraj, scargot, bobo de camaro, coma o que j est acostumado. Quer uma dica? Um prato de macarro com pouco molho de tomate vai super bem. ATUALIDADES Domnio de tpicos atuais e relevantes de diversas reas, tais como poltica, economia, sociedade, educao, tecnologia, energia, relaes internacionais, desenvolvimento sustentvel, segurana, artes e literatura, e suas vinculaes histricas. INTRODUO A segunda metade do sculo XIX e a primeira do sculo XX podem ser consideradas de vrias formas, entre elas, como uma etapa da histria da humanidade de uma dinmica de transformaes significativas. O trmino de revolues burguesas e incio das revolues socialistas; o surgimento das
1
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSpotncias emergentes, como os EUA, o Japo e a Rssia, em concorrncia com os imprios europeus, principalmente com o Imprio britnico; os avanos tecnolgicos que aumentam a produo, a produtividade e a diversidade industrial, acelerando o consumismo com um aumento na explorao dos recursos naturais seguido de uma degradao ambiental superior homeostase, Isto , superior capacidade de recuperao natural, com a formao de mercados consumidores no Terceiro Mundo; expanso e posterior esgotamento da fase neocolonial, modificando de forma drstica a vida scio cultural dos povos africanos, americanos e da sia tropical. A disputa pela hegemonia mundial provoca a Primeira Guerra Mundial, a primeira revoluo socialista vitoriosa na Rssia, seguida da crise de superproduo do sistema capitalista em 1929 e chega ao auge com a Segunda Guerra Mundial terminando, assim, com a fase do capitalismo industrial ou selvagem, e iniciando o que hoje classificamos de capitalismo monopolista ou financeiro. Estas mudanas alteram as relaes internacionais de forma radical quanto ao seu eixo de comando, onde a Nova Ordem (EUA) substitui os imprios europeus. No final do sculo XX e incio do XXI assistimos a profundas mudanas na organizao mundial. Aps o final da Segunda Grande Guerra Mundial, segue-se um perodo de quatro dcadas que podemos caracterizar como de certa estabilidade, apesar da Guerra Fria e a ocorrncia de conflitos em vrias partes do mundo. No incio dos anos 90 o mundo participou do fim da Guerra Fria, com o desmoronamento do bloco socialista da Europa Oriental e o fim da URSS. Em seguida vrios pases passaram por uma srie de conflitos internos e mesmo lutas com seus vizinhos, crises econmicas se sucederam em diversos lugares do globo. Estudar esse mundo de hoje significa entender as novas tendncias econmicas, sociais e polticas de um mundo cada vez mais globalizado, significa tambm analisar a situao e as potencialidades dos continentes e dos pases diante das oportunidades surgidas com o novo panorama mundial. 1- RPIDA UTOPIA Antes de encerrar esta seo de prognsticos para os prximos anos, seria interessante refletir sobre os significados do sculo que se encerrou e este que ora se inicia. Afinal, do passado que retiramos boa parte da inspirao necessria para planejar o mundo que desejamos. Ao distncia, velocidade, comunicao, linha de montagem, triunfo das massas, Holocausto: por meio das metforas e das realidades que marcaram o sculo XX, aparece a verdadeira doena do progresso... O sculo XX talvez tenha sido menos hipcrita que os anteriores. Ele enunciou regras de convivncia; certamente as violou, mas moveu processos pblicos contra essas violaes, e o atual est dando prosseguimento a essa dinmica. Se isso no impede que elas se repitam, ao menos teve influncia sobre nosso comportamento cotidiano e sobre as probabilidades de um grande nmero de cidados, sobretudo no mundo ocidental, viver por mais tempo, evitando abusos de poder de toda ordem. Hoje posso andar pela rua sem me fazer matar por algum que queira manter sua trajetria na mesma calada que a minha, e sei que meus filhos no recebero cacetadas do filho de um duque como meio de aprendizagem do poder. Indivduos prepotentes tentam ainda hoje expulsar uma mulher negra do nibus, mas a opinio pblica os condena: h apenas dois sculos, teramos pensado em agir como honestos cidados se tivssemos investido uma parte de nosso peclio numa empresa que teria vendido essa mulher como escrava aos Estados Unidos. O sculo XX tambm o da acelerao tecnolgica e cientfica, que se operou e continua a se operar em ritmos antes inconcebveis. Foram necessrios milhares de anos para passar do barco a remo caravela ou da energia elica ao motor de exploso; e em algumas dcadas se passou do dirigvel ao avio, da hlice ao turbo reator e da ao foguete interplanetrio. Mas as conquistas tecnolgicas esto intimamente ligadas ao fato de ter sido, nesse sculo, que a humanidade colocou mais diretamente em questo a sobrevivncia do planeta. Um excelente qumico pode imaginar um excelente desodorante, mas no possui o conhecimento que lhe permite saber que seu produto ir fazer um buraco na camada de oznio. Vivemos no tempo da linha de montagem, no qual cada indivduo conhece apenas uma fase do trabalho. Privado da satisfao de ver o produto acabado, cada um tambm liberado de qualquer responsabilidade. Podem-se produzir, e isso ocorre com frequncia, venenos sem que isso seja percebido. A vantagem da linha de montagem permitir a fabricao de aspirinas em quantidade para o mundo todo. E rpido. Mas a outra face disso que se pode destruir o mundo em apenas um dia. O sculo XX o da comunicao instantnea. Hernn Cortez pde destruir uma civilizao e, antes que a notcia se espalhasse, teve tempo para encontrar justificativas para seu empreendimento. Hoje, os massacres da praa da paz Celestial, em Pequim, tomam-se atualidades no mesmo momento em que se desenrolam e provocam a reao de todo o mundo civilizado. Mas informaes simultneas em excesso, provenientes de todos os pontos do globo, produzem um hbito. O sculo da comunicao transformou a informao em espetculo. Arriscamo-nos a confundir a todo instante a atualidade e o divertimento. Cincia, tecnologia, comunicao, ao a distncia, princpio da linha de montagem: tudo isso tornou possvel o Holocausto. A perseguio racial e o genocdio no foram uma inveno do sculo XX, mas o que a torna terrvel em nosso tempo o fato de o genocdio nazista ter sido rpido, tecnologicamente eficaz e ter buscado o consenso, servindose das comunicaes de massa e do prestgio da cincia. O sculo XX soube fazer do melhor de si o pior de si. Tudo o que aconteceu de terrvel a seguir no foi seno repetio, sem grande inovao. O sculo do triunfo tecnolgico foi tambm o da descoberta da fragilidade. Um moinho de vento podia ser reparado, mas o sistema do computador no tem defesa diante da m inteno de um garoto precoce. Os tempos andam estressados, porque no se sabe de quem se deve defender nem como: somos demais poderosos para poder evitar nossos inimigos. Encontramos o meio de eliminar a sujeira, mas no de eliminar os resduos. Porque a sujeira nascia da indigncia, que podia ser reduzida, ao passo que os resduos (inclusive os radioativos) nascem do bem-estar que ningum quer mais perder. Eis por que o sculo XX o da angstia e da utopia de cur-la. Espao, tempo, informao, crime, castigo, arrependimento, absolvio, indignao, esquecimento, descoberta, crtica, nascimento, longa vida, morte... tudo em altssima velocidade. A um ritmo de estresse. O sculo XX o do enfarte. (Adaptado de: Umberto Eco. Rpida utopia. In: Veja 25 anos, reflexespara o futuro. So Paulo, Abril, 108-15.)
2- REVOLUO INDUSTRIAL Processo de mudana de uma economia agrria e manual para uma economia dominada pela indstria e mecanizao da manufatura. Tem incio na Inglaterra em 1760 e alastra-se para o resto do mundo, provocando profundas mudanas na sociedade. Caracteriza-se pelo uso de novas fontes de energia; inveno de mquinas que permitem aumentar a produo com menor gasto de energia humana; diviso e especializao do trabalho; desenvolvimento do transporte e da comunicao; e aplicao da cincia na indstria. A revoluo tambm promove mudanas na estrutura agrria e o declnio da terra como fonte de riqueza; a produo em grande escala voltada ao mercado internacional; a afirmao do poder econmico da burguesia; o crescimento das cidades e o surgimento da classe operria; e consolida o capitalismo como sistema dominante da sociedade. 2.1 - 1 REVOLUO INDUSTRIAL Ocorre a partir de 1760 e restringe-se Inglaterra (ver Reino Unido). O pioneirismo deve-se ao acmulo de capital, devido rpida expanso do comrcio ultramarino e continental; s reservas de carvo e ferro; disponibilidade de mo-de-obra; ao avano tecnolgico; existncia de mercados consumidores. Na sua origem est a Revoluo Gloriosa (1688). Ela fortalece a burguesia, que transforma a estrutura agrria do pas e conquista os mercados mundiais. A disponibilidade de capital e o sistema financeiro eficiente facilitam os investimentos dos empresrios, que constroem ferrovias, estradas, portos e sistemas de comunicao, favorecendo o comrcio. Os campos so apropriados pela burguesia, no processo chamado de cercamentos, quando so criadas extensas propriedades rurais. Com isso, os camponeses so expulsos das terras, migram s cidades e tornam-se mo-
2
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSde-obra disponvel. Por outro lado, aumenta a produo de alimentos, favorecendo o crescimento populacional. A criao de novas mquinas como a mquina a vapor, o tear mecnico e o ferro obtido com uso de carvo de coque permitem o aumento da produtividade e racionalizam o trabalho. Com a aplicao da fora a vapor s mquinas fabris, a mecanizao difunde-se na indstria txtil. Para aumentar a resistncia das mquinas, o metal substitui a madeira, estimulando a siderurgia e o surgimento da indstria pesada de mquinas. A inveno da locomotiva e do navio a vapor acelera a circulao das mercadorias. O novo sistema industrial cria duas novas classes opostas. De um lado, os empresrios donos do capital, dos modos e bens de produo, de outro, os operrios, que vendem sua fora de trabalho em troca de salrios. A Revoluo Industrial concentra os trabalhadores em fbricas, promove o desenvolvimento urbano e muda radicalmente o carter do trabalho. Para aumentar o desempenho dos operrios, a produo dividida em vrias operaes. O operrio executa uma nica etapa, sempre do mesmo modo, o que o aliena do processo de trabalho. Com a mecanizao, o trabalho desqualifica-se, o que reduz os salrios. No incio, os empresrios impem duras condies aos operrios para aumentar a produo e garantir uma margem de lucro crescente. Estes, ento, organizam-se em associaes para reivindicar melhores condies de trabalho, dando origem aos sindicatos. 2.2- 2 REVOLUO INDUSTRIAL Inicia-se a partir de 1870, com a industrializao da Frana, Alemanha, Itlia, Blgica, Holanda, Estados Unidos e Japo. Novas fontes de energia (eletricidade e petrleo) e produtos qumicos, como o plstico, so descobertos e o ferro substitudo pelo ao. Surgem novas mquinas e ferramentas. Em 1909, Henry Ford cria a linha de montagem e a produo em srie, com base no taylorismo. Na segunda metade do sculo XX, quase todas as indstrias j esto mecanizadas e a automao alcana todos os setores das fbricas. As inovaes tcnicas aumentam a capacidade produtiva das indstrias e o acmulo de capital. As potncias industriais passam a buscar novos mercados consumidores (Neocolonialismo). Os empresrios investem em outros pases. Os avanos na Medicina sanitria favorecem o crescimento demogrfico, aumentando a oferta de operrios. Nos pases desenvolvidos, surge o fantasma do desemprego. 2..3 - 3 REVOLUO INDUSTRIAL No h consenso sobre o incio da terceira revoluo TcnicaCientfica. Alguns consideram que no h mais de uma revoluo industrial, outros consideram que a mesma se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, mas isto no o mais importante, o que interessa e entender o significado da mesma para o mundo atual e o que a mesma aponta para o futuro. No perodo ps 2a Guerra Mundial, surgem complexos industriais e empresas multinacionais. As indstrias qumica e eletrnica desenvolvem-se. Os avanos da automao, da informtica e da engenharia gentica so incorporados ao processo produtivo, que depende cada vez mais de alta tecnologia e da mo-de-obra especializada. Os computadores tornam-se a principal ferramenta em quase todos os setores da economia, e o conhecimento, ou a informao, o requisito primordial ao trabalhador. O mundo entra na era da globalizao, ou seja, do imperialismo com novo nome. O mais significativo entender que est se ocorrendo mudanas estruturais e permanentes no funcionamento das atuais sociedades devido aos avanos da biotecnologia, a nanotecnologia, robtica e informtica, provocando uma nova relao nas formas de dependncia, produo, produtividade, tipo de capital voltil, hot money, desregulamentao do comrcio mundial e na diviso internacional do trabalho (DIT), entre muitas modificaes. Gerando: um intenso processo de fuso entre megaempresas; Desemprego estrutural, com as novas tecnologias criando mquinas, instrumentos e tcnicas, que substituem boa parcela do trabalho humano no setor produtivo; Tendncia de fortalecimento do xenofobismo, etnocentrismo, como forma de reao ao desemprego e internacionalizao da economia; Formao dos megablocos e blocos econmicos supranacionais, intensificando as relaes entre os pases-membros e fortalecendo o protecionismo externo. Vale lembrar que at o momento esta nova ordem mundial, ainda no trouxe vantagens comparativas para os pases perifricos ou em processo de modernizao e a grande pergunta : Ser que um dia o trar? H uma significativa divergncia entre os principais autores quanto ao momento em que se iniciou a 3 RTC Alguns at consideram que no h mais de uma revoluo industrial, outros indicam esta mudana a partir da Primeira Guerra Mundial, outros a crise de 29, outros falam em 3 RTC com incio no ps-Segunda Guerra e os mais recentes alegam que esta revoluo tcnicocientfica teve seu incio na dcada de 80 e que avanou pela dcada de 90. Com a extino do perodo bipolar, da corrida armamentista que caracterizou o confronto ideolgico entre o capitalismo e o bloco sovitico (Oeste x Leste). H o retorno do pensamento liberal, e fica mais calma a relao Norte-Sul. O importante observar que esto ocorrendo mudanas estruturais no funcionamento das atuais sociedades devido aos avanos da biotecnologia, a nanotecnologia, robtica e informtica, provocando uma nova relao nas formas de dependncia, produo, produtividade, tipo de capital (voltil), desregulamentao do comrcio mundial e na Diviso Internacional do Trabalho (DIT), entre outras variveis. Uma das caractersticas da 3 RTC e a tendncia de Globalizao com intenso processo de fuso entre as mega empresas. A elevao do desemprego estrutural, com as novas tecnologias criando mquinas, instrumentos e tcnicas, que substituem boa parcela do trabalho humano no sistema de produo. Tendncia de fortalecimento do xenofobismo etnocentrismo, como forma de reao ao desemprego e internacionalizao da economia. Crises econmicas como os efeitos tequila (Mxico), samba (Brasil), saqu (Tigres Asiticos) e a vodka (Rssia), provocando o efeito domin ou cascata, devido ao capital voltil. A formao dos megablocos e blocos econmicos supranacionais, como nova caracterstica de regionalizao (Nafta, Unio Europeia, Pacfico e MERCOSUL), Intensificando as relaes entre os pases-membros e fortalecendo o protecionismo externo. Os avanos nas comunicaes internacionais e nos sistemas de transportes, resultantes das novas tecnologias de ponta, reduziram os fatores determinantes para as necessidades de concentrao industrial, pois as mega organizaes econmicas buscam as matrias-primas, os recursos energticos e a mo-de-obra onde eles estiverem mais disponveis, e o mercado consumidor global. Procurando uma descontrao das fbricas mais antigas ao mesmo tempo em que concentra reas d tecnologia atual. Exemplo: Brasil. Descontrao: da Grande So Paulo para o interior do Estado paulista, mais MG, ES, PR, RS, BA, PE e CE. Contrao: informtica em Campinas (SP). Espacial em So Jos dos Campos (SP). EUA: Vale do Silcio na Califrnia, centro principal do Cinturo do Sol (Sun Belt) americano. A 3 RTC caracterizada pelo domnio do pensamento neoliberal, cujo principal fator a defesa do Estado mnimo, isto , um Estado reduzido, forando a privatizao das empresas estatais no Terceiro Mundo, com reestruturao e criao de novas organizaes no Estado, cujo papel mais de regulador e fiscalizador da economia, a exemplo das agncias nacionais (ANATEL, ANA, ANP, ANS, ANEEL) no Brasil. Observao: at o momento esta nova ordem mundial no trouxe vantagens para os pases perifricos ou modernizados como o nosso. s observar que nos ltimos anos, a dvida interna do Brasil deu um grande salto. E a dvida externa tambm. No esquecendo que a dvida interna mais os encargos da dvida externa afetam tanto as condies sociais como ambientais de um pas.
3 - NEOLIBERALISMO Liberalismo e neoliberalismo: o liberalismo como doutrina econmica e poltica do capitalismo se enfraquece aps a crise mundial dos anos 30, sendo substitudo pelo dirigismo econmico de Keynes e, em parte, pelas doutrinas fascista e nazista. Durante a Segunda Guerra o dirigismo econmico reforado, mas a democracia e retomada como o grande smbolo de luta contra o nazismo. Essa combinao de democracia poltica liberal e dirigismo estatal na
3
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSeconomia torna-se responsvel, entre anos 50 e 80, pela afluncia das sociedades de consumo e bem-estar social (welfare state). Nos anos 80, porm, a crise econmica e os novos parmetros de produtividade e rentabilidade estabelecidos pela revoluo tecnolgica colocam em questo o Estado de bem-estar e as polticas de benefcio social nos Estados Unidos e na Inglaterra. Reagan e Thatcher lideram a implantao de uma nova poltica econmica, baseada em conceitos liberais extremados: Estado mnimo, desregulamentao do trabalho, privatizaes, funcionamento do mercado sem interferncias estatais, cortes nos benefcios sociais. Tal poltica econmica passou a ser conhecida como neoliberal e no final dos anos 80 passa a ser receitada para a Amrica Latina: Mxico, Chile, Argentina, Bolvia, Brasil, etc 3.1 - Origens: Toda e qualquer doutrina deve ser entendida como resultado de uma oposio. Ela estrutura-se para combater algum princpio que lhe desagrada ao mesmo tempo em que procura oferecer-lhe uma alternativa. Com o neoliberalismo no foi diferente. Suas razes tericas mais remotas encontram-se na chamada escola austraca reconhecida por sua ortodoxia no campo do pensamento econmico - que centralizou-se em torno do catedrtico da Faculdade de Economia de Viena, Leopold von Wiese, na segunda metade do sculo XIX e que ficou conhecido por seus trabalhos tericos sobre a estabilidade da moeda, especialmente o publicado com o ttulo de O Valor Natural(1889). Mais recentemente o neoliberalismo surgiu pela primeira vez, em 1947, com o clebre encontro entre um grupo de intelectuais conservadores em Monte Plier, na Sua, onde formaram uma sociedade de ativistas para combater as polticas do Estado de Bem-estar social. Essas polticas tiveram incio em 1942 com a publicao na Inglaterra do Relatrio Benveridge. Segundo ele, depois de vencida a guerra, a poltica inglesa dever-seia inclinar doravante para uma programao de aberta distribuio de renda, baseada no trip da Lei da Educao, a Lei do Seguro Nacional e a Lei do Servio Nacional de Sade (associadas aos nomes de Butler, Beveridge e Bevan). A defesa desse programa tornou-se a bandeira com a qual o Partido Trabalhista ingls venceu as eleies de 1945 colocando em prtica os princpios do Estado de Bem-estar Social. Para Friedrich von Heyek esse programa levaria o pas ao retrocesso. Escreveu ento um livro inflamado que pode ser considerado como o Manifesto do Neoliberalismo - O Caminho da Servido(1944). Nele exps os princpios mais gerais da doutrina, assegurando que o crescente controle do estado levaria fatalmente completa perda da liberdade, afirmando que os trabalhistas conduziriam a Gr-Bretanha pelo mesmo caminho dirigista que os nazistas haviam imposto Alemanha. Isso serviu de mote campanha de Churchill, pelo Partido Conservador, que chegou ao ponto de dizer que os trabalhistas eram iguais aos nazistas. A outra vertente do neoliberalismo surgiu nos Estados Unidos e concentrou-se na chamada escola de Chicago do prof. Milton Friedman. Combatia a poltica de New Deal do Presidente F.D.Roosevelt por ser intervencionista e pr-sindicatos. Friedman era contra qualquer regulamentao que inibisse as empresas e condenava at o salrio-mnimo na medida em que alterava artificialmente o valor da mo-de-obra pouco qualificada. Tambm opunha-se a qualquer piso salarial fixado pelas categorias sindicais, pois segundo ele terminavam por adulterar os custos produtivos, gerando alta de preos e inflao. Devido longa era de prosperidade - quase 40 anos de crescimento que impulsionou o mundo ocidental depois da segunda guerra, graas s diversas adoes das polticas keynesianas e sociais-democratas, os neoliberais recolheram-se para a sombra. Mas a partir da crise do petrleo de 1973, seguida pela onda inflacionria que surpreendeu os estados de Bem-estar social, o neoliberalismo gradativamente voltou cena. Denunciou a inflao como resultado do estado demaggico perdulrio, chantageado ininterruptamente pelos sindicatos e pelas associaes. Responsabilizaram os impostos elevados e os tributos excessivos, juntamente com a regulamentao das atividades econmicas, como os culpados pela queda da produo. O mal devia-se pois a essa aliana espria entre o Estado de Bem-estar social e os sindicatos. A reforma que apregoavam devia passar pela substituio do Estado de Bem-estar social e pela represso aos sindicatos. O estado deveria ser desmontado e gradativamente desativado, com a diminuio dos tributos e a privatizao das empresas estatais, enquanto os sindicatos seriam esvaziados por uma retomada da poltica de desemprego, contraposta poltica keynesiana do pleno emprego. Enfraquecendo a classe trabalhadora e diminuindo ou neutralizando a fora dos sindicatos, haveria novas perspectivas de investimento, atraindo novamente os capitalistas de volta ao mercado. O primeiro governo ocidental democrtico a inspirar-se em tais princpios foi o da Sra. Tatcher na Inglaterra, a partir de 1980. Enfrentou os sindicatos, fez aprovar leis que lhes limitassem a atividade, privatizou empresas estatais, afrouxou a carga tributria sobre os ricos e sobre as empresas e estabilizou a moeda. O Governo Conservador da Sra. Tatcher serviu de modelo para todas as polticas que se seguiram posteriormente no mesmo roteiro. A hegemonia do neoliberalismo hoje tamanha que pases de tradies completamente diferentes, governados por partidos os mais diversos possveis, aplicam a mesma doutrina. Alguns princpios bsicos do Neoliberalismo: Filosofia: na teologia neoliberal os homens no nascem iguais, nem tendem igualdade. Logo qualquer tentativa de suprimir com a desigualdade um ataque irracional prpria natureza das coisas. Deus ou a natureza dotou alguns com talento e inteligncia, mas foi avaro com os demais. Qualquer tentativa de justia social torna-se incua por que novas desigualdades fatalmente ressurgiro. A desigualdade um estimulante que faz com que os mais talentosos desejem destacar-se e ascender ajudando dessa forma o progresso geral da sociedade. Tornar iguais os desiguais contraproducente e conduz estagnao. Segundo W. Blake: A mesma lei para o leo e para o boi opresso!. Excluso e pobreza: a sociedade o cenrio da competio, da concorrncia. Se aceitamos a existncia de vencedores, devemos tambm concluir que deve haver perdedores. A sociedade teatraliza em todas a instncias a luta pela sobrevivncia. Inspirados no darwinismo, que afirma a vontade do mais apto, concluem que somente os fortes sobrevivem cabendo aos fracos conformarem-se com a excluso natural. Esses, por sua vez, devem ser atendidos no pelo Estado de Bem-estar, que estimula o parasitismo e a irresponsabilidade, mas pela caridade feita por associaes e instituies privadas, que ameniza a vida dos infortunados. Qualquer poltica assistencialista mais intensa joga os pobres nos braos da preguia e da inrcia. Deve-se abolir o salrio-mnimo e os custos sociais, porque falsificam o valor da mo-de-obra encarecendo-a, pressionando os preos para o alto, gerando inflao. Os ricos: eles so a parte dinmica da sociedade. Deles que saem as iniciativas racionais de investimentos baseados em critrios lucrativos. Irrigam com seus capitais a sociedade inteira, assegurando sua prosperidade. A poltica de tributao sobre eles deve ser amainada o mximo possvel para no ceifar-lhes os lucros ou inibi-los em seus projetos. Igualmente a poltica de taxao sobre a transmisso de heranas deve ser moderada para no afetar seu desejo de amealhar patrimnio e de leg-lo aos seus herdeiros legtimos. Crise: resultado das demandas excessivas feitas pelos sindicatos operrios que pressionam o Estado. Este, sobrecarregado com a poltica providenciaria e assistencial, constrangido a ampliar progressivamente os tributos. O aumento da carga fiscal, sobre as empresas e os ricos, reduz suas taxas de lucro e faz com que diminuam os investimentos gerais. Sem haver uma justa remunerao, o dinheiro entesourado ou enviado para o exterior. Soma-se a isso os excessos de regulamentao da economia motivados pela contnua burocratizao do estado, que complicam a produo e sobrecarregam os seus custos. Inflao: resultado do descontrole da moeda. E esse por sua vez ocorre devido ao aumento constante das demandas sociais (previdncia, seguro-desemprego, aposentadorias especiais, reduo da jornada de trabalho, aumentos salariais alm da capacidade produtiva das empresas, encargos sociais, frias e etc...) que no so compensadas pela produo geral da sociedade. Por mais que o setor produtivo aumente a riqueza, a gula sindical vai frente fazendo sempre mais e mais exigncias. Ocorre ento o crescimento do dficit pblico que tapado com a emisso de moeda. Estado: no h teologia sem demnio. Para o neoliberalismo ele se apresenta na forma do Estado. O Estado intervencionista. Dele que partem as polticas restritivas expanso das iniciativas. Incuravelmente paternalista
4
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROStenta demagogicamente solucionar os problemas de desigualdade e da pobreza por meio de uma poltica tributria e fiscal que termina apenas por provocar mais inflao e desajustes oramentrios. Seu zelo pelas classes trabalhadoras leva-o a uma prtica assistencialista que se torna um poo sem fim. As demandas por bem-estar e melhoria da qualidade de vida no terminam nunca, fazendo com que seus custos sociais sejam cobrados dos investimentos e das fortunas. Ao intervir como regulador ou mesmo como Estado-empresrio, ele se desvia das suas funes naturais, limitadas segurana interna e externa, sade e educao. O estrago maior ocorre devido a sua filosofia intervencionista. O mercado autorregulado e autossuficiente dispensa qualquer tipo de controle. um Cosmo prprio, com leis prprias, impulsionadas pelas leis econmicas tradicionais (oferta e procura, taxa decrescente dos lucros, renda da terra, etc...). O Estado deve, pois, ser enxugado, diminudo em todos os sentidos. Deve-se limitar o nmero de funcionrios e desestimular a funo pblica. Mercado: se h um demnio existe tambm um cu. Para o neoliberalismo esse local divino o mercado. Ele quem tudo regula, faz os preos subirem ou baixarem, estimula a produo, elimina o incompetente e premia o sagaz e o empreendedor. Ele o deus perfeito da economia moderna, tudo v e tudo ouve, onisciente e onipresente. Seu poder ilimitado e qualquer tentativa de control-lo um crime de heresia, na medida em que ele que fixa as suas prprias leis e o ritmo em que elas devem seguir. O mercado um deus, um deus calvinista que no tem contemplao para com o fracassado. A falncia sua condenao. Enquanto que aquele que bem sucedido reserva-se lhe um lugar no den. Socialismo: segundo demnio da teologia neoliberal. um sistema poltico completamente avesso aos princpios da iniciativa privada e da propriedade privada. essencialmente demaggico na medida em que tenta implantar uma igualdade social entre homens de natureza desigual. fundamentalmente injusto porque premia o capaz e o incapaz, o til e o intil, o trabalhador e o preguioso. Reduz a sociedade ao nvel de pobreza e graas igualdade e a poltica de salrios equivalentes, termina estimulando a inrcia provocando a baixa produo. Ao excluir os ricos da sociedade, perde sua elite dinmica e seu setor mais imaginativo, passando a ser conduzido por uma burocracia fiscalizadora e parasitria. Regime poltico: o neoliberalismo afina-se com qualquer regime que assegure os direitos da propriedade privada. Para ele indiferente se o regime democrata, autoritrio ou mesmo ditatorial. O regime poltico ideal o que consegue neutralizar os sindicatos e diminuir a carga fiscal sobre os lucros e fortunas, ao mesmo tempo em que desregula o mximo possvel a economia. Pode conviver tanto com a democracia parlamentar inglesa, como durante o governo da Sra. M. Tatcher, como com a ditadura do Gen. A.Pinochet no Chile. Sua associao com regimes autoritrios ttica e justificada dentro de uma situao de emergncia (evitar uma revoluo social ou a ascenso de um grupo revolucionrio). Em longo prazo o regime autoritrio, ao assegurar os direitos privados, mais tarde ou mais cedo, dar lugar a uma democracia. Tericos: o neoliberalismo resultado do encontro de duas correntes do pensamento econmico. A primeira vem da escola austraca, aparecida nos finais do sculo XIX tendo a frente Leopold von Wiese e que teve prosseguimento com von Miese e seu mais talentoso discpulo Friedrich von Heyek, que apesar de austraco fez sua carreira em Londres. Heyek se ops tanto poltica keynesiana (por seu intervencionismo) como ao estado de Bem-estar social (pelo seu assistencialismo) idealizado primeiro na Inglaterra em 1942. A outra vertente formada pela chamada escola de Chicago, tendo Milton Friedman como seu expoente. Friedman foi o principal crtico da poltica do New Deal do presidente F.D.Roosevelt (1933-1945) devido sua tolerncia com os sindicatos e a defesa do intervencionismo estatal. 4 - GLOBALIZAO DA ECONOMIA Processo de integrao mundial que se intensifica nas ltimas dcadas, a globalizao baseia-se na liberao econmica: os Estados abandonam gradativamente as barreiras tarifrias que protegem sua produo da concorrncia estrangeira, e se abrem ao fluxo internacional de bens, servios e capitais. A recente evoluo nas tecnologias da informao contribui de forma decisiva para essa abertura. Alm de concorrer para uma crescente homogeneizao cultural, a evoluo e a popularizao das tecnologias de informao (computador, telefone e televisor) so fundamentais para agilizar o comrcio, o fluxo de investimentos e a atuao das transnacionais, por permitir uma integrao sem precedentes de pontos distantes do planeta. Em 1960, um cabo de telefone intercontinental conseguia transmitir 138 conversas ao mesmo tempo. Atualmente, os cabos de fibra tica possuem capacidade para enviar 1,5 milho. Uma ligao telefnica internacional de trs minutos, que custava 244 dlares em 1930, feita por 3 dlares no incio dos anos 90. A Organizao Mundial do Comrcio (OMC) prev um grande crescimento dos usurios da internet e das transaes comerciais em muitos bilhes de dlares. O debate em torno dos efeitos colaterais da globalizao e das estratgias para evit-los aprofunda-se. Uma das consequncias desse processo a concentrao da riqueza. A maior parte do dinheiro circula nos pases industrializados - apenas 25% dos investimentos -, e o nmero de pessoas que vivem com menos de 1 dlar por dia subiu de 1,2 bilho, em 1987, para 1,5 bilho, em 1999. O crescimento dos pases emergentes tem ficado em torno de 1,5%, o pior desempenho em muitos anos. As excees, China e ndia. Com a crise mundial, o preo das matrias-primas, produzidas em grande parte pelos Estados mais pobres, cai enormemente, trazendo perdas de bilhes de dlares para a os pases pobres. A participao das naes emergentes no comrcio internacional de pouco mais de 30%. Algumas regies esto margem da globalizao, como a sia Central, que representa apenas 0,2% das trocas, e o norte da frica (0,7%). O Banco Mundial (BIRD) aponta como causas para o distanciamento entre ricos e pobres o aumento das aes protecionistas promovidas pelos pases ricos, voracidade dos investidores e a fragilidade econmica e institucional das naes subdesenvolvidas. A receita usada para recuperar os mercados emergentes em queda - cortes oramentrios e juros altos contribui para aumentar ainda mais a distncia. O incio da integrao mundial remonta aos sculos XV e XVI, quando a expanso ultramarina dos Estados europeus possibilita a conquista de novos mercados. Outro salto na difuso do comrcio e dos investimentos dado pelas duas Revolues Industriais, nos sculos XVIII e XIX. A interdependncia econmica cresce at a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, e retomada no bloco capitalista aps a II Guerra Mundial. Estimuladas pela quebra de barreiras - decorrente, em grande parte, das polticas liberalizantes postas em prtica pelo Acordo Geral de Tarifas e Comrcio (Gatt) e, atualmente, pela Organizao Mundial do Comrcio (OMC) -, as trocas mundiais aumentam de forma expressiva a partir dessa poca. Em 1950 totalizam 61 bilhes de dlares, ao passo que em 1998 atingem 5,2 trilhes de dlares. O fim da Guerra Fria, nos anos 80, inaugura um novo estgio de globalizao: as trocas mundiais incrementam-se ainda mais por causa da transio das naes comunistas para a economia de mercado, e a expanso do comrcio supera o aumento da produo mundial. De acordo com o FMI, entre 1989 e 1998 o volume de dinheiro movimentado em trocas internacionais se eleva em mdia 6,5% ao ano, enquanto a taxa anual de crescimento da produo de 3,4%. A expanso dos fluxos de capital tem sido ainda maior por causa da abertura dos pases ao investimento estrangeiro e da enorme velocidade das transaes. O movimento dirio de capitais no mundo estimado em 2 trilhes de dlares. A migrao quase instantnea do dinheiro fortalece investimentos estrangeiros de curto prazo. Ao menor sinal de instabilidade econmica ou poltica no Estado, o investimento resgatado, provocando uma crise que pode alastrar-se para outras naes por causa da integrao das economias. o que ocorre no segundo semestre de 1997, quando as principais bolsas de valores do mundo despencam em reao profunda crise das naes do Sudeste Asitico. O turbilho financeiro evolui para uma crise internacional em 1998. Os pases emergentes - sobretudo a Federao Russa - so os mais atingidos, por adotar modelos de desenvolvimentos baseados em investimentos externos. As sucessivas crises realam a instabilidade de um mercado financeiro globalizado, em que o desempenho das economias
5
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSnacionais depende no s da ao dos governos, mas cada vez mais dos grandes investidores estrangeiros. A globalizao marcada ainda pelo crescimento das corporaes transnacionais, que exercem papel decisivo na economia mundial. As Transnacionais so grandes empresas que alcanaram maior crescimento a partir da 2a Guerra Mundial e passaram a dominar o mercado internacional, ignorando fronteiras polticas e concentrando grande volume de capital. A partir da dcada de 60 - Fuses com o objetivo de formar aglomerados e conseguir absorver maior mercado e competir com outras empresas. Atualmente, empresas transnacionais praticam a associao. As empresas transnacionais so, verdadeiramente, empresas de muitos pases. Eles tm um centro de decises empresarial localizado num pas especfico, que abriga a sede de um grupo tentacular instalados em dezenas de outros pases. Uma parte dos lucros obtidos no mundo inteiro repatriada para o pas-sede. A empresa transnacional tem ptria. Depois da Segunda Guerra Mundial os trustes ficaram conhecidos como multinacionais ou transnacionais. A febre de absores e centralizao de capitais no parou. Ao contrrio: atingiu um novo patamar, em que se tornaram comuns as fuses entre conglomerados transnacionais. Finalmente novas formas de associao foram inventadas. Mantendo suas identidades. Apesar do crescimento do nmero e da importncia das transnacionais japonesas e europeias, os Estados Unidos continuaram sendo sua principal ptria. A desconcentrao geogrfica das indstrias devido as fronteiras nacionais serem limites polticos para os lucros empresariais. Produzindo dentro desses limites, as empresas tm de atuar num meio econmico mais ou menos homogneo, onde esto definidos custos de mo-de-obra, impostos sobre importaes de mquinas e de matrias-primas, e sobre lucros e vendas, legislaes restritivas quanto ao meio ambiente ou a localizao industrial. A concentrao de capitais deu aos grandes conglomerados um novo poder: o poder de ultrapassar as fronteiras nacionais. O deslocamento geogrfico de unidades produtivas para novas regies da periferia do mundo capitalista oferece vantagens comparativas de diversos tipos. Talvez a vantagem mais importante seja o custo diferencial da mo de obra e tambm o custo das matrias - primas e da energia, o que um fator decisivo para o deslocamento geogrfico de unidades metalrgicas. De acordo com o relatrio do Desenvolvimento Humano de 1999, das 100 maiores riquezas do mundo, metade pertence a Estados e metade, a megaempresas. Reportagem da revista Fortune mostra que as dez principais corporaes do mundo General Motors Corporation, Daimler Chrysler, Ford Motor, Wal-Mart Stores, Mitsui, Itochu, Mitsubishi, Exxon, General Electric e Toyota Motor - ganharam juntas 1,2 trilho de dlares em 1998, valor 50% maior que o produto interno bruto (PIB) brasileiro. O faturamento isolado de cada uma dessas empresas comparado ao PIB de importantes economias mundiais, como Dinamarca, Noruega, Polnia, frica do Sul, Finlndia, Grcia e Portugal. Somente as aes da Microsoft, a principal empresa de informtica do mundo, atingem em julho de 1999 valor de mercado equivalente a mais de 500 bilhes de dlares. Alm de crescer em faturamento, as corporaes tornam-se gigantescas tambm pelo processo de fuses, acelerado a partir de 1998. As transnacionais implementam mudanas significativas no processo de produo. Auxiliadas pelas facilidades na comunicao e nos transportes, instalam suas fbricas em qualquer lugar do mundo onde existam melhores vantagens fiscais e mo-de-obra e matria-prima baratas. Os produtos no tm mais nacionalidade definida. Um carro de uma marca dos EUA pode conter peas fabricadas no Japo, ter sido projetado na Frana, montado no Brasil e ser vendido no mundo todo. Em 1999, onze pases da Unio Europeia (UE) deram outro passo importante no processo de globalizao ao criar o euro, moeda nica do bloco. Em 1 de janeiro, Alemanha, ustria, Blgica, Espanha, Frana, Finlndia, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Holanda (Pases Baixos) e Portugal passaram a empreg-lo nas transaes entre suas empresas. Em 1 de janeiro de 2002, o euro passou a ser usado regularmente e, a partir de 1 de julho desse mesmo ano, as moedas nacionais deixaram de existir. a primeira vez na histria que naes abrem mo de emitir sua prpria moeda. Um dos traos marcantes da histria das duas ltimas dcadas do sculo XX a caminhada acelerada rumo ao mundo globalizado. De forma ampla, a palavra globalizao indica o aceleramento do tempo histrico, resultante da expanso da economia de mercado e da intensificao do comrcio. Na base desse processo est o aumento da velocidade das comunicaes e dos transportes, devido sobretudo ao extraordinrio desenvolvimento da informtica. Aps a Segunda Guerra Mundial, as grandes empresas capitalistas expandiram-se pelo mundo e implantaram filiais em diversos pases. A expanso das multinacionais (ou transnacionais) ocorreu no perodo de grande prosperidade do capitalismo, entre 1945 e 1973. Nos anos seguintes, foram os grandes bancos e instituies financeiras que se difundiram em escala mundial. Esse processo levou, nos anos 1980, integrao econmica de pases de todo mundo, fenmeno denominado GLOBALIZAO. O fim da URSS e do bloco comunista, em 1991, fortaleceu o processo de globalizao, pois abriu os mercados dos pases do Leste Europeu para as empresas capitalistas. As facilidades nos transportes e o progresso da telemtica(cabos de fibra tica, comunicao via satlite, computadores, Internet, celulares) deram maior rapidez aos negcios firmados entre as empresas transnacionais. Devido globalizao, grande parte dos produtos industrializados deixou de ter nacionalidade definida. A integrao de mercados levou, tambm, interdependncia econmica entre os pases. A crise em um pas pode abalar toda a cadeia de pases interligados. Como so as transnacionais que controlam a produo, o comrcio e a tecnologia, elas podem submeter o Estado aos seus interesses. Interessa s empresas e bancos transnacionais a livre circulao de mercadorias, servios e capital pelo mundo e, portanto, a reduo ou eliminao das taxas alfandegrias. Da grupos defenderem o NEOLIBERALISMO como a poltica econmica ideal do capitalismo globalizado. Os neoliberais pregam a reduo ao mximo da interferncia do Estado na economia, o que seria obtido com o fim do controle de preos, a eliminao de subsdio, a venda de empresas estatais (privatizao) e a abertura da economia aos investimentos estrangeiros. Para os neoliberais, essas medidas restabelecem a livre concorrncia e estimulam as empresas a se modernizarem para produzir mais, melhor e mais barato. Para eles, positivo manter uma determinada taxa de desemprego, pois isso refora a disposio do indivduo ao trabalho. Os neoliberais condenam os gastos sociais do Estado (seguro-desemprego, aposentadoria, penses, auxlio-doena, entre outros). Criticam tambm a legislao trabalhista e defendem que deva se deixar s empresas a liberdade de decidir sobre jornada de trabalho, 13 salrio, licenas e demais normas. Globalizao e pobreza: as mudanas na economia internacional tm acentuado as desigualdades entre os pases. Produzir mais a menores custo, encurtar distncias utilizando meios rpidos de transporte, investir em centros de pesquisa para produzir novas tecnologias e materiais, utilizar a informtica e redes de computadores para acelerar a integrao de mercado por meio da comunicao virtual, so objetivos dos que controlam o mercado mundializado, beneficiando apenas uma pequena parcela da populao. Os processos de globalizao econmica e financeira em curso afetaram inequivocamente muito mais os pases pobres, que continuam excludos dos benefcios gerados pela cincia e tecnologia. A partir da 2a Guerra Mundial os investimentos, transnacionais se deslocam para os pases do 3o mundo. Consequncias: modernizao desses pases, crescimentos das cidades, ampliao do mercado consumidor, aumentando a dependncia e endividamento. Rpido desenvolvimento de alguns pases do 3 mundo exigiu recursos financeiros - emprstimos. A elevao das dvidas externas se deveu alta inflao, choques do petrleo; queda nas exploraes primrias; aparecimento de emprstimos e juros variados; os pases pobres passam a ser exportadores de capitais para os ricos; interferncia do FMI. No ps-guerra, especialmente nas dcadas de 50 e 60, quase todo capital estrangeiro entrou nos pases subdesenvolvidos, originava-se de investimentos produtivos de empresas transnacionais. Mas, a partir da dcada de 70, o mercado mundial da moeda tomou o lugar dos investimentos diretos e dos emprstimos oficiais. A dvida global dos pases subdesenvolvidos cresceu geometricamente, sobre o impacto dos vrios choques sofridos pela economia mundial. A situao agravou com a queda das exportaes de produtos primrios que representavam uma parcela substancial das entradas de moedas fortes nos pases subdesenvolvidos. Para liberar novos emprstimos o FMI exige dos pases devedores uma dieta econmica de sacrifcios que inclui o corte de gastos com o governo em investimentos e subsdios para pagar aos bancos internacionais.
6
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSAt a primeira guerra mundial viveu ainda o ciclo de crescimento iniciado na segunda metade do sculo XIX, baseado nas indstrias do ao e dos motores a combusto interna, na eletricidade e no petrleo. Esse ciclo foi interrompido devido crise de 1929 (Quando a bolsa de Nova York quebrou). Depois da segunda guerra mundial abriu-se um novo ciclo, no qual o crescimento foi retomado sobre bases diferentes, apoiadas na reativao da produo e a circulao de mercadorias Durante as dcadas da Guerra Fria, um bloco de economias estatizadas e centralmente planificadas isolou-se da economia mundial, organizando-se em torno da Unio Sovitica. De outro lado, o poderio sem precedentes da economia americana catalisou a reconstruo da economia capitalista mundial. O dlar transformou-se na moeda do mundo. Em 1944, na Conferncia de Bretton Woods, foram lanados os fundamentos da economia do dlar. Tambm foram criados organismos plurilaterais destinados a amenizar as crises internacionais. A crise de 1929 que tinha destampado a garrafa dos fantasmas: recesso, falncias, nacionalismo, nazismo, guerra - atormentava os economistas de Breton Woods. Para prevenir sua repetio, nasceram o Fundo Monetrio Internacional (FMI) e o Banco Internacional para Reconstruo e o Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial. 4.1- DESEQUILIBRIOS E PERSPECTIVAS DA GLOBALIZAO O processo produtivo mundial formado por um conjunto de umas 400-450 grandes corporaes (a maioria delas produtora de automveis e ligada ao petrleo e s comunicaes) que tm seus investimentos espalhados pelos 5 continentes. A nacionalidade delas majoritariamente americana, japonesa, alem, inglesa, francesa, sua, italiana e holandesa. Portanto, pode-se afirmar sem erro que os pases que assumiram o controle da primeira fase da globalizao (a de 1450-1850), apesar da descolonizao e dos desgastes das duas guerras mundiais, ainda continuam obtendo os frutos do que conquistaram no passado. A razo disso que detm o monoplio da tecnologia e seus oramentos, estatais e privados, dedicam imensas verbas para a cincia pura e aplicada. Politicamente a globalizao recente caracteriza-se pela crescente adoo de regimes democrticos. Um levantamento indicou que 112 pases integrantes da ONU, entre 182, podem ser apontados como seguidores (ainda que com vrias restries) de prticas democrticas, ou pelo menos, no so tiranias ou ditaduras. A ttulo de exemplo lembramos que na Amrica do Sul, na dcada dos 70, somente a Venezuela e a Colmbia mantinham regimes civis eleitos. Todos os demais pases eram dominados por militares (personalistas como no Chile, ou corporativos como no Brasil e Argentina). Enquanto que agora, nos finais dos noventa, no temos nenhuma ditadura na Amrica do Sul. Neste processo de universalizao da democracia as barreiras discriminatrias ruram uma a uma (fim da excluso motivada por sexo, raa, religio ou ideologia), acompanhado por uma sempre ascendente padronizao cultural e de consumo. A ONU que deveria ser o embrio de um governo mundial foi tolhida e paralisada pelos interesses e vetos das superpotncias durante a guerra fria. Em consequncia dessa debilidade, formou-se uma espcie de estado-maior informal composto pelos dirigentes do G-8 (os EUA, a GB, a Alemanha, a Frana, o Canad, a Itlia, o Japo e a Rssia), por vezes alargado para dez ou vinte e cinco, cujos encontros frequentes tm mais efeitos sobre a poltica e a economia do mundo em geral do que as assembleias da ONU. Enquanto que no passado os instrumentos da integrao foram a caravela, o galeo, o barco vela, o barco a vapor e o trem, seguidos do telgrafo e do telefone, a globalizao recente se faz pelos satlites e pelos computadores ligados na Internet. Se antes ela martirizou africanos e indgenas e explorou a classe operria fabril, hoje utiliza-se do satlite, do rob e da informtica, abandonando a antiga dependncia do brao em favor do crebro, elevando o padro de vida para patamares de sade, educao e cultura at ento desconhecidos pela humanidade. O domnio da tecnologia por um seleto grupo de pases ricos, porm, abriu um fosso com os demais, talvez o mais profundo em toda a histria conhecida. Roma, quando imprio universal, era superior aos outros povos apenas na arte militar, na engenharia e no direito. Hoje os pases-ncleos da globalizao (os integrantes do G-8), distam, em qualquer campo do conhecimento, anos luz dos pases do Terceiro Mundo. Ningum tem a resposta nem a soluo para atenuar este abismo entre os ricos do Norte e os pobres do Sul que s se ampliou. No entanto, bom que se reconhea que tais diferenas no resultam de um novo processo de espoliao como os praticados anteriormente pelo colonialismo e pelo imperialismo, pois no implicaram numa dominao poltica, havendo, bem ao contrrio, uma aproximao e busca de intercmbio e cooperao. CRESCIMENTO DA INDSTRIA E DO COMRCIO MUNDIAL PERODO INDSTRIA COMRCIO 1860-1870 2,9 5,5 1870-1900 3,7 3,2 1900-1913 4,2 3,7 1913-1929 2,7 0,7 1929-1938 2,0 -1,1 1938-1948 4,1 0,0 1949-1971 5,6 7,3 Durante as dcadas da Guerra Fria, um bloco de economias estatizadas e centralmente planificadas isolou-se da economia mundial, organizando-se em torno da Unio Sovitica. De outro lado, o poderio sem precedentes da economia americana catalisou a reconstruo da economia capitalista mundial. O dlar transformou-se na moeda do mundo. Em 1944, na Conferncia de Bretton Woods, foram lanados os fundamentos da economia do dlar. Tambm foram criados organismos plurilaterais destinados a amenizar as crises internacionais. A crise de 1929 que tinha destampado a garrafa dos fantasmas: recesso, falncias, nacionalismo, nazismo, guerra - atormentava os economistas de Breton Woods. Para prevenir sua repetio, nasceram o Fundo Monetrio Internacional (FMI) e o Banco Internacional para Reconstruo e o Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial. 4.2 - DESEQUILIBRIOS E PERSPECTIVAS DA GLOBALIZAO O processo produtivo mundial formado por um conjunto de umas 400-450 grandes corporaes (a maioria delas produtora de automveis e ligada ao petrleo e s comunicaes) que tm seus investimentos espalhados pelos 5 continentes. A nacionalidade delas majoritariamente americana, japonesa, alem, inglesa, francesa, sua, italiana e holandesa. Portanto, pode-se afirmar sem erro que os pases que assumiram o controle da primeira fase da globalizao (a de 1450-1850), apesar da descolonizao e dos desgastes das duas guerras mundiais, ainda continuam obtendo os frutos do que conquistaram no passado. A razo disso que detm o monoplio da tecnologia e seus oramentos, estatais e privados, dedicam imensas verbas para a cincia pura e aplicada. Politicamente a globalizao recente caracteriza-se pela crescente adoo de regimes democrticos. Um levantamento indicou que 112 pases integrantes da ONU, entre 182, podem ser apontados como seguidores (ainda que com vrias restries) de prticas democrticas, ou pelo menos, no so tiranias ou ditaduras. A ttulo de exemplo lembramos que na Amrica do Sul, na dcada dos 70, somente a Venezuela e a Colmbia mantinham regimes civis eleitos. Todos os demais pases eram dominados por militares (personalistas como no Chile, ou corporativos como no Brasil e Argentina). Enquanto que agora , nos finais dos noventa, no temos nenhuma ditadura na Amrica do Sul. Neste processo de universalizao da democracia as barreiras discriminatrias ruram uma a uma (fim da excluso motivada por sexo, raa, religio ou ideologia), acompanhado por uma sempre ascendente padronizao cultural e de consumo. A ONU que deveria ser o embrio de um governo mundial foi tolhida e paralisada pelos interesses e vetos das superpotncias durante a guerra fria. Em consequncia dessa debilidade, formou-se uma espcie de estado-maior informal composto pelos dirigentes do G-8 (os EUA, a GB, a Alemanha, a Frana, o Canad, a Itlia, o Japo e a Rssia), por vezes alargado para dez ou vinte e cinco, cujos encontros frequentes tm mais efeitos sobre a poltica e a economia do mundo em geral do que as assembleias da ONU. Enquanto que no passado os instrumentos da integrao foram a caravela, o galeo, o barco vela, o barco a vapor e o trem, seguidos do telgrafo e do telefone, a globalizao recente se faz pelos satlites e pelos computadores ligados na Internet. Se antes ela martirizou africanos e
7
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSindgenas e explorou a classe operria fabril, hoje utiliza-se do satlite, do rob e da informtica, abandonando a antiga dependncia do brao em favor do crebro, elevando o padro de vida para patamares de sade, educao e cultura at ento desconhecidos pela humanidade. O domnio da tecnologia por um seleto grupo de pases ricos, porm, abriu um fosso com os demais, talvez o mais profundo em toda a histria conhecida. Roma, quando imprio universal, era superior aos outros povos apenas na arte militar, na engenharia e no direito. Hoje os pasesncleos da globalizao (os integrantes do G-8), distam, em qualquer campo do conhecimento, anos-luz dos pases do Terceiro Mundo. Ningum tem a resposta nem a soluo para atenuar este abismo entre os ricos do Norte e os pobres do Sul que s se ampliou. No entanto, bom que se reconhea que tais diferenas no resultam de um novo processo de espoliao como os praticados anteriormente pelo colonialismo e pelo imperialismo, pois no implicaram numa dominao poltica, havendo, bem ao contrrio, uma aproximao e busca de intercmbio e cooperao. Quanto exportao de produtos da vanguarda tecnolgica (microeletrnica, computadores, aeroespaciais, equipamento de telecomunicaes, mquinas e robs, equipamento cientfico de preciso, medicina e biologia e qumicos orgnicos), Os EUA so responsveis por 20,7%; a Alemanha por 13,3%; o Japo por 12,6%; o Reino Unido por 6,2%, e a Frana por 3,0% , etc. logo apenas estes 5 pases detm 55,8% da exportao mundial delas. 4.3 - GLOBALIZAO E POBREZA As mudanas na economia internacional tm acentuado as desigualdades entre os pases. Produzir mais a menores custos, encurtar distncias utilizando meios rpidos de transporte, investir em centros de pesquisa para produzir novas tecnologias e materiais, utilizar a informtica e redes de computadores para acelerar a integrao de mercado por meio da comunicao virtual, so objetivos dos que controlam o mercado mundializado, beneficiando apenas uma pequena parcela da populao. Os processos de globalizao econmica e financeira em curso afetaram inequivocamente muito mais os pases pobres, que continuam excludos dos benefcios gerados pela cincia e tecnologia. A partir da 2 Guerra Mundial, os investimentos transnacionais se deslocam para os pases do 3 mundo. Consequncias: modernizao desses pases, crescimentos das cidades, ampliao do mercado consumidor, aumentando a dependncia e endividamento. O rpido desenvolvimento de alguns pases do 3 mundo exigiu recursos financeiros emprstimos. A elevao das dvidas externas deveu-se alta inflao, choques do petrleo; queda nas exploraes primrias; aparecimento de emprstimos e juros variados; os pases pobres passam a ser exportadores de capitais para os ricos; interferncia do FMI. Com isso, a dvida global dos pases subdesenvolvidos cresceu geometricamente, sobre o impacto dos vrios choques sofridos pela economia mundial. A situao agravou com a queda das exportaes de produtos primrios, que representavam uma parcela substancial das entradas de moedas fortes nos pases subdesenvolvidos. Para liberar novos emprstimos, o FMI exige dos pases devedores uma dieta econmica de sacrifcios, que inclui o corte de gastos com o governo em investimentos e subsdios para pagar aos bancos internacionais. 5 - ESPAO URBANO: ATIVIDADES ECONMICAS, EMPREGO E POBREZA. A histria econmica do Brasil marcada por uma sucesso de ciclos, cada um baseado na explorao de um nico produto de exportao: a cana-de-acar nos sculos XVI e XVII; metais preciosos (ouro e prata) e pedras preciosas (diamantes e esmeraldas) no sculo XVIII; e, finalmente, o caf no sculo XIX e incio do sculo XX. O trabalho escravo foi utilizado na produo agrcola, situao que perdurou at o final do sculo XIX. Paralelamente a esses ciclos, desenvolveu-se uma agricultura e uma pecuria de pequena escala, para consumo local. A influncia inglesa na economia brasileira teve incio no comeo do sculo XVII. Comerciantes ingleses espalharam-se por todas as cidades brasileiras, especialmente Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Em meados do sculo XIX, as importaes provinham totalmente da Inglaterra. Os Ingleses tambm dominaram outros setores da economia, como o bancrio e o dos emprstimos, alm de obterem controle quase total da rede ferroviria, assim como do monoplio da navegao. Pequenas fbricas, basicamente de txteis, comearam a aparecer em meados do sculo XIX. No imprio, na gesto de D. Pedro II, novas tecnologias foram introduzidas, a pequena base industrial aumentada e adotadas modernas prticas financeiras. Com o colapso da economia escravocrata (ficou mais barato pagar aos novos imigrantes do que manter escravos). Com a abolio da escravatura, em 1888, e a substituio da Monarquia pelo regime republicano, em 1889, a economia do Brasil enfrentou grave situao de ruptura. Mal tinham comeado a surtir efeito os esforos dos primeiros governos republicanos para estabilizar a situao financeira e revitalizar a produo, e os efeitos da depresso de 1929 foraram o pas a adotar novos ajustes na economia. Um primeiro surto de industrializao teve lugar durante a Primeira Guerra Mundial, mas somente a partir de 1930 o Brasil alcanou certo nvel de desenvolvimento econmico em bases modernas. Nos anos 40 do sculo XX, foi construda a primeira siderrgica do pas, localizada na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, e financiada pelo Eximbank, de origem norte-americana. O processo de industrializao, de 1950 a 1970, resultou na expanso de setores importantes da economia, como o da indstria automobilstica, da petroqumica e do ao, assim como no incio e concluso de grandes projetos de infraestrutura. Nas dcadas que se seguiram Segunda Guerra Mundial, a taxa anual de crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) do Brasil estava entre as mais altas do mundo, tendo alcanado, at 1974, uma mdia de 7,4%. Durante a dcada de 1970, o Brasil, como vrios outros pases da Amrica Latina, absorveu a liquidez excessiva dos bancos dos Estados Unidos, Europa e Japo. Grande fluxo de capital estrangeiro foi direcionado para investimentos de infraestrutura, enquanto empresas estatais foram formadas em reas pouco atraentes para o investimento privado. O resultado foi impressionante: o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentou em mdia 8,5% ao ano, de 1970 a 1980, apesar do impacto da crise mundial do petrleo. A renda per capita cresceu quatro vezes, durante a dcada, para um nvel de US$ 2.200 em 1980. Entretanto, no incio dos anos 80, um inesperado e substancial aumento nas taxas de juros da economia mundial precipitou a crise da dvida externa da Amrica Latina. O Brasil foi forado a ajustes econmicos severos, que resultaram em taxas negativas de crescimento. A inesperada interrupo do ingresso do capital estrangeiro reduziu a capacidade de investimento do Pas. O peso da dvida externa afetou as finanas pblicas e contribuiu para a acelerao da inflao. Na segunda metade da dcada de 80, um conjunto de medidas duras foi adotado, visando estabilizao monetria. Tais medidas compreenderam o final da indexao (poltica que ajustava os salrios e contratos de acordo com a inflao) e o congelamento dos preos. Em 1987, o Governo suspendeu o pagamento dos juros da dvida externa, at que um acordo de reescalonamento com os credores fosse alcanado. Embora essas medidas tenham falhado quanto ao resultado desejado, a produo econmica continuou a crescer at o final da dcada de 80, proporcionando excedente suficiente na balana comercial, para cobrir o servio da dvida. A crise da dcada de 80 assinalou a exausto do modelo brasileiro de substituio de importaes (poltica que visava a fortalecer a indstria brasileira por meio da proibio da entrada de certos produtos manufaturados estrangeiros), o que contribuiu para a abertura comercial do Pas. No incio dos anos 90, a poltica econmica brasileira concentrou-se em trs reas principais: 1. estabilizao econmica; 2. mudana de uma situao de protecionismo em direo a uma economia mais aberta, voltada para o mercado; 3. normalizao das relaes com a comunidade financeira internacional. No que se refere ao primeiro item, foi adotada estrita disciplina fiscal, que inclua reforma tributria e medidas que viessem a evitar a evaso fiscal, desregulamentao e privatizao, alm da reduo do controle de preos, o que ocorreu em 1992, com o objetivo de estabelecer uma verdadeira economia de mercado, eliminando-o por completo em 1993. Pela primeira vez,
8
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSo Brasil limitou a emisso de moeda. Com a introduo da nova moeda, o Real, em julho de 1994, a taxa de inflao anual, que era de 2.489,11%, em 1993, j havia sido reduzida a cerca de 22% no ano seguinte. Em 1997, aps processo de reduo gradativo, a taxa anual chegou a 4,34%, tendo alcanado seu menor ndice em 1998, 1,71%. Com a reforma do comrcio exterior, foram consideravelmente reduzidas as tarifas de importao. A tarifa mdia caiu de 32%, em 1990, para situar-se entre 12 e 13% em 1998, tendo a tarifa mxima cado de 105% para 35% no mesmo perodo. Em termos efetivos de arrecadao, no entanto, a mdia do universo tarifrio brasileiro de 9%. Os investimentos estrangeiros totalizaram cerca de US$ 20,75 bilhes no ano de 1998. No primeiro semestre de 2000, os mesmos montaram a US$ 12,7 bilhes. O Brasil fechou tambm acordos com credores, tanto pblicos como privados, reescalonando os pagamentos da dvida e trocando os antigos papis por novos ttulos. A privatizao foi acelerada, principalmente nos setores da produo de ao, fertilizantes e telecomunicaes. Desde 1991, data do incio do processo de privatizao brasileiro, at meados de 1999, cerca de 120 estatais brasileiras foram privatizadas. A renda nacional foi prioritariamente direcionada para a reduo das dvidas. Como resultado das reformas na rea de comrcio exterior, o Brasil tornou-se uma das economias mais abertas do mundo, sem restries quantitativas s importaes. A desregulamentao evidenciada pela liberalizao de polticas financeiras, pelo final da reserva de mercado na rea de eletrnicos e informtica e pela privatizao de diversos setores at recentemente sob o monoplio do Estado, tal como o das telecomunicaes ou o porturio. Em 26 de maro de 1991, foi criado o Mercado Comum do Sul (Mercosul), com a assinatura do Tratado de Assuno, pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ademais, desses pases-membros, o Chile, a Bolvia, o Peru e a Venezuela so membros associados: assinam tratados para a formao da zona de livre comrcio, mas no participam da unio aduaneira. O pacto foi efetivado como uma unio aduaneira e zona de livre-comrcio em carter parcial, em 1 de janeiro de 1995. O objetivo do Mercosul permitir a livre movimentao de capital, trabalho e servios entre os quatro pases. Os quatro pases-membros comprometeram-se a manter a mesma alquota de importaes para determinados produtos. Desde 1991, o comrcio entre os pases membros do Mercosul mais do que triplicou. econmicos supranacionais, que facilitam a circulao de mercadorias e de capitais. A UNIO EUROPIA integra a maior parte dos pases europeus; a APEC - Associao de Cooperao Econmica sia-Pacfico - congrega o Japo, a China, pases da Indochina e da Oceania; o NAFTA - Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte - une os mercados do Canad, Estados Unidos e Mxico. A formao dos megablocos regionais uma tendncia internacional e leva Argentina e Brasil a pensar na formao de um bloco sulamericano. A partir de 1985, sucedem-se encontros entre os presidentes dos dois pases para discutir um programa de integrao e cooperao econmica. Em 1991, Uruguai e Paraguai aderem ao projeto. E, em janeiro de 1995, o MERCOSUL comea a funcionar oficialmente. O MERCOSUL prev a formao de uma Unio Aduaneira, ou seja, a criao de uma regio de livre comrcio com o fim das tarifas alfandegrias entre os quatro pases. Prev, tambm, uma taxao comum para os produtos importados de pases de fora do MERCOSUL. E, a longo prazo, visa a criao de um mercado comum, com livre circulao de bens e de servios entre os pases membros, bem como uma maior integrao cultural e educacional. Em 1990, o intercmbio comercial entre esses pases era de aproximadamente 3 bilhes e meio de dlares. Em 95, j ultrapassa os dez bilhes. O MERCOSUL vive uma fase inicial de adequaes e ajustes. Mas o comrcio entre seus integrantes j demonstra seu potencial. Os contatos polticos, econmicos e culturais se intensificam. Hoje se negocia a adeso de outros pases da Amrica do Sul. Visando ampliar suas atividades comerciais, j se iniciam contatos polticos com os pases da Unio Europia para a formao de um superbloco econmico. A integrao econmica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai j uma realidade. A liderana americana foi sofrendo uma eroso progressiva ao mesmo tempo em que a economia capitalista mundial se tornava mais complexa e multipolarizada. Atualmente, trs megablocos regionais de expresso mundial apresentam contornos mais ou menos definidos: a Unio Europia, o Acordo de Livre Comrcio da Amrica do Norte (Nafta) e a Bacia do Pacfico, polarizada pelo Japo. O fim da Guerra-Fria e a consolidao dos megablocos regionais na Europa e no pacfico impuseram aos Estados unidos uma reviso da sua insero na economia mundial. A concorrncia internacional acelerou a constituio de uma zona de livre comrcio na Amrica do Norte, formalizada em 1992. A formao do NAFTA aponta para a progressiva reduo das tarifas alfandegrias entre os Estados Unidos, Canad e Mxico. Os blocos econmicos podem ser classificados em estgios diferentes de organizao e objetivos: I. Acordos Bi ou Multilaterais. Esse foi o estgio inicial de vrios blocos como a Unio Europia e o Mercosul II. Zona de Livre Comrcio. Estabelece-se a reduo ou mesmo o fim de barreiras comerciais entre os pases membros, mas deixa livre o comrcio dos pases membros com naes externas ao bloco. Como exemplo pode-se citar o Nafta, assinado em 1992, entrando em vigor em 1994, membros (EUA, Canad e Mxico). III. Unio Aduaneira. Abre-se os mercados internos e se estabelece acordos de comrcio e de taxas de importao dos pases membros com naes externas ao bloco, com a criao da TEC (tarifa Externa Comercial). Exemplo cita-se o Mercosul, criado em 1991 entrou em vigor em 1995 so membros (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e ainda tem como pases associados (Chile, Peru, Bolvia e Venezuela)). IV. Mercado Comum. Nesse estgio os blocos econmicos estabelecem a livre circulao de pessoas, mercadorias, servios e capitais. Atualmente nenhum bloco se encontra nesse estgio. V. Unio Econmica e Monetria. Ocorre a criao de uma moeda nica e a adoo de uma poltica monetria e econmica comum, com a criao de um Banco Central comum aos pases membros. nico bloco que se encontra nesse estgio e a Unio Europia, criada em 1993 e atualmente contando com a participao de 25 pases da Europa. VI. Integrao Econmica Total. Instituio de uma nova ordem econmica, poltica e social comum em todos os pases membros. Neste momento nenhum bloco encontra-se nesse estgio. NAFTA
6- BLOCOS ECONMICOS A reorganizao poltica mundial, acelerada aps o final da Guerra Fria, faz blocos econmicos emergirem em diferentes regies do planeta, como a Unio Europia, o Nafta e a Bacia do Pacfico. Nesse contexto, surge o MERCOSUL, que integra economicamente a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Os blocos econmicos so associaes que procuram estabelecer relaes econmicas entre os pases-membros, no sentido de tornar a economia dos mesmos mais competitiva para poderem participar de forma efetiva no mundo globalizado. Aps o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia capitalista vive uma fase de expanso e enriquecimento. Na dcada de 70 e incio dos anos 80, essa prosperidade abalada pela crise do petrleo, que provoca recesso e inflao nos pases do Primeiro Mundo. Tambm nos anos 70, desenvolvem-se novos mtodos e tcnicas na produo. O processo de automao, robotizao e terceirizao aumenta a produtividade e reduz a necessidade de mo-de-obra. A informtica, a biotecnologia e a qumica fina desenvolvem novas matrias-primas artificiais e novas tecnologias. Mas a contnua incorporao dessa tecnologia de ponta no processo produtivo exige investimentos pesados. E os equipamentos ficam obsoletos rapidamente. O dinheiro dos investimentos comea a circular para alm de fronteiras nacionais, buscando melhores condies financeiras e maiores mercados. Grandes corporaes internacionais passam a liderar uma nova fase de integrao dos mercados mundiais: a chamada GLOBALIZAO DA ECONOMIA. A diviso poltica entre os blocos sovitico e norte-americano modifica-se com o fim da Guerra Fria. Uma nova ordem econmica estruturase em torno de outros centros de poder: os Estados Unidos, a Europa e o Japo. Em torno destes centros so organizados os principais blocos
9
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSO Nafta ( North Amrica Free Trade Agreement) ou Acordo de Livre Comrcio Norte-Americano uma rea de livre comrcio entre os Estados Unidos, o Canad e o Mxico. O acordo para a sua criao foi assinado em 1992 e o mesmo entra em vigor em 1994. O objetivo se restringe a reduzir tarifas entre esses pases. No h proposta de integrao poltica e econmica. O acordo prev a instalao de uma zona de livre comrcio entre esses trs pases. Esta rea esta baseada na livre circulao de mercadorias e servios entre os pases membros. Isto deve acontecer por eliminao das barreiras legais, e das tarifas alfandegrias, ou seja, est limitado apenas rea comercial. O que se busca ampliar os horizontes de mercado dos pases membros e maximizar a produtividade interna de cada um. Ao contrrio da Unio Europia, o NAFTA no aponta para a unificao total das economias dos pases que deles fazem parte. NAFTA tem tudo para ser um grande bloco econmico se bem instalado, pois EUA, Canad e Mxico juntos correspondem a um mercado de cerca de 380 milhes de habitantes e um PIB de aproximadamente 10 trilhes de dlares. Isto , se os mais fortes no prejudicarem a economia do mais fraco. MERCOSUL O Mercosul (Mercado Comum do Cone Sul) propem-se a ser um mercado comum entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Significa que as tarifas de comrcio entre os pases ficam acertadas e pessoas, bens e servios cruzaro as fronteiras sem qualquer impedimento. Atualmente, o bloco uma unio aduaneira incompleta. Uma das partes das tarifas j foi reduzida e se busca um acordo para definir uma Tarifa Externa Comum (TEC) para todos os setores. Bolvia, Chile, Peru e Venezuela so membros associados, e outros pases latinos j manifestaram sua inteno de participar do bloco, como exemplo pode-se citado o caso do Mxico que j manifestou a inteno de participar do Mercosul como membro associado. Tendo como princpios bsicos estabelecer uma unio aduaneira rea de livre circulao de bens, servios, mos-de-obra e capital assim como a liberao gradativa de tarifas alfandegrias e restries tarifrias. Entretanto, alguns produtos ainda permanecem subordinados a taxas de importao que funcionam como tarifas de proteo para as empresas nacionais. Ao contrrio do NAFTA, existe entre os pases membros do Mercosul laos que interligam suas economias e, por conseguinte, interferem e servem de estmulo para relao comercial e intercmbio de investimentos. Os grandes pases deste bloco so, sem dvida, o Brasil e a Argentina no por sua rea, mas por seu maior contingente populacional e desenvolvimento econmico. ALCA A ALCA (rea de Livre Comrcio das Amricas) uma proposta de integrao comercial de todos os pases das Amricas, com exceo de Cuba. A criao da ALCA foi proposta, em 1990, pelo ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush (o Bush pai). Criada pelo Frum das Amricas, na cidade de Miami, em 1994, formada por todos os pases americanos com exceo de Cuba. O objetivo da ALCA criar uma rea de livre-troca em todo o continente americano. Apesar de vrias reunies peridicas ocorrerem, o bloco tem previso para ser implantado em 2005. Essas reunies, que discutem os princpios de formao e quando realmente entrar em funcionamento, so chamadas de Encontro das Amricas. Ainda existem muitas divergncias quanto ao incio da ALCA. Em 1997, por exemplo, o Encontro das Amricas ocorreu aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Os Estados Unidos defendiam a antecipao da implantao da ALCA ainda para o final do sculo XX, enquanto que os pases membros do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) pensavam no ano de 2005. Se compararmos o poderio industrial dos Estados Unidos com o resto da Amrica, mesmo com o Brasil, percebemos que ele muito superior. por esse motivo que o Brasil defendeu a no entrada em vigor da ALCA antes de 2005. Durante todo o tempo o governo brasileiro acreditou o desenvolvimento industrial dos outros pases da Amrica estaria mais definido e estabilizado, desta forma poderia suportar sem grandes dificuldades ao livre comrcio com os EUA, atualmente muitos analistas acham que em 2005 dificilmente a ALCA entre em vigor, justamente pelas grandes diferenas entre as economias dos pases latinos e a dos Estado Unidos. Outro ponto de discusso levantado no encontro das Amricas o destino que os blocos j existentes (NAFTA, MERCOSUL, etc.) iro ter j que esto baseados em princpios similares aos da ALCA. Os EUA defendem a extino destes blocos como funcionamento da ALCA, porm os pases do MERCOSUL, liderados pelo Brasil, querem a manuteno de seus blocos. Falta de consenso sobre a ALCA marca Cpula das Amricas O Plano de Ao trabalhado durante a 4 Cpula, (novembro de 2005) das Amricas traz as metas de eliminao do trabalho escravo nos 34 pases do Hemisfrio at 2010 e de erradicao das "piores formas" de trabalho infantil at 2020. Acertada previamente pelos negociadores, essa foi a nica contribuio do encontro de Mar del Plata, marcado pela ausncia de consenso inexistente sobre a rea de Livre Comrcio das Amricas (Alca). A Declarao de Mar del Plata, o documento poltico do encontro, acabou assinalado por orientaes que no fogem s receitas j conhecidas de responsabilidade na conduo dos temas macroeconmicos e sociais e de avano nas prticas democrticas. Com 70 tpicos distribudos em dez pginas, o Plano de Ao define ainda outros objetivos claros relacionados criao de trabalho decente para combater a pobreza e contribuir para fortalecer a governabilidade democrtica o tema escolhido para esta verso da Cpula das Amricas. Entre eles, a reduo do desemprego juvenil e do porcentual de jovens que no estudam nem trabalham, a eliminao da discriminao do trabalho das mulheres, a garantia de acesso equitativo ao mercado de trabalho entre homens e mulheres e a diminuio do nmero de trabalhadores sem registro em carteira. Tambm foi definido que os 34 pases devam assegurar o acesso de todas as crianas ao ensino fundamental at 2010 e traar metas para o ensino mdio at 2007. Igualmente, foi decidido que, no mbito da Organizao dos Estados Americanos (OEA), deva ser desenvolvido at 2008 um programa de alfabetizao para o Hemisfrio. Imigrao e trabalho: As questes relacionadas aos direitos dos imigrantes, especialmente os ilegais, foram as mais polmicas nessas discusses. O texto tambm reflete divergncias, assinaladas por meio de ressalvas feitas pelos Estados Unidos, mercado que mais atrai mo-de-obra da Amrica Latina e que esperava um compromisso mais claro dos parceiros ao desalento dos processos migratrios. O Plano de Ao, entretanto, apenas sugere a adoo de aes para promover o "exerccio pleno e eficaz" dos direitos trabalhistas, mesmo aos imigrantes ilegais, e que haja dilogo entre os pases sobre esse fenmeno, de forma a promover a garantia dos direitos humanos. O Plano de Ao espelha-se nos acertos sobre trabalho, reduo da pobreza e governabilidade da Declarao Final de Mar del Plata. Esse texto, de 76 tpicos e 15 pginas, deixou claro o "compromisso" de todos os governos do Hemisfrio de construo de "polticas microeconmicas slidas e orientadas a manter altos ndices de crescimento, pleno emprego, polticas monetria e fiscal, regimes de taxa de cmbio apropriados e a melhoria da competitividade". Ou seja, reforou o receiturio neoliberal sem grandes dilemas e reservas nem mesmo da Venezuela. A Declarao destaca que o crescimento econmico uma "condio bsica e indispensvel" para enfrentar as elevadas taxas de desemprego, a pobreza e a informalidade. Mas "no suficiente". Essa responsabilidade, enfatiza, compete a cada um dos pases exclusivamente. A pobreza, diz o texto, "est presente em todos os pases do Hemisfrio", fato que refora os compromissos de reduo pela metade at 2015, definidos nas Metas do Milnio. BLOCO ASITICO A APEC O Bloco Asitico ou APEC (Associao de Cooperao Econmica da sia e do Pacfico), tambm no sudeste e no leste da sia, na Oceania e na parte a Amrica banhada pelo oceano Pacfico formou-se um imenso mercado internacional. Trata-se da Apec Associao de Cooperao Econmica da sia e do Pacfico. Atualmente so 21 os membros da Apec: EUA; Canad; Hong Kong, Cingapura, Taiwan; Coria do Sul; Japo; China Popular; Brunei; Tailndia; Malsia; Indonsia; Filipinas; Vietn; Austrlia; Nova Zelndia; Mxico; Chile; Papua Nova-Guin; Peru e Rssia.
10
CURSO PEDRO GOMES : ATUALIDADES PROF.JUANIL BARROSAntes da criao da APEC falava-se muito na formao de um "bloco asitico" comandado pelo Japo, que seria a grande potncia da sia e tambm da Oceania, pois j havia ocupado o antigo lugar privilegiado da GrBretanha nas relaes comerciais com a Austrlia e a Nova Zelndia. Mas o que ocorreu de fato foi a criao de um imenso mercado internacional onde no h um grande lder e sim dois ou trs (Estados Unidos, Japo e talvez China). O oceano Pacfico, e no a sia, que acabou sendo o elemento de unio desse "bloco comercial". O Frum de Cooperao da sia Pacfico (Apec) nasceu no ano de 1989 como resposta poltica multilateral e a interdependncia das economias da rea sia-Pacfico, consideradas as economias de maior dinamismo do planeta. Transformado em indispensvel veculo regional para promover o comrcio aberto e a cooperao prtica entre economias, a Apec conta com 21 pases denominados "Economias Membros" - que em conjunto representam mais de 2,5 milhes de pessoas, um PIB total de 19 bilhes de dlares e 47% do comrcio mundial. UNIO EUROPIA A Unio Europia (UE) o mais antigo, criada pelo tratado de Roma em 1957, hoje contando com 25 membros. Seguinte tabela apresenta os atuais estados membros e as respectivas datas de adeso. Data de Adeso Pases Pases Alemanha, Blgica, Frana, Itlia, Luxemburgo, Pases Fundadores Baixos. 1973 Dinamarca, Irlanda, Reino Unido. 1981 Grcia 1986 Espanha, Portugal 1995 ustria, Finlndia, Sucia. 2004 Chipre, Eslovquia, Eslovnia, Estnia, Hungria, Letnia, Litunia, Malta, Polnia, Repblica Checa. A entrada de dez novos pases na Unio Europia, em maio de 2004, cria um bloco de 25 pases e 450 milhes de habitantes que revoluciona a forma com que naes cooperam entre si na economia, na poltica, na cultura e na rea social. At o conceito de o que ser europeu est mudando. Desde o surgimento como um reles acordo em torno de carvo e ao nos anos 50, a organizao foi privativa de pases da Europa Ocidental, liderados por Alemanha, Frana e Itlia, que so algumas das naes mais ricas do planeta. Os novos membros destoam nesse conjunto. Eslovnia, Hungria, Eslovquia, Repblica Checa e Polnia pertencem Europa do Leste e Central e foram comunistas at o fim da dcada de 80. Litunia, Letnia e Estnia faziam parte da Unio Sovitica. Chipre e Malta so duas ilhas mediterrneas. A renda per capita desses novos membros menos da metade da dos antigos integrantes. A soma de suas economias equivale a no mais que 5% do PIB da Europa Ocidental. Mas so pases que avanam a passos largos no caminho do desenvolvimento. Em 1992, a UE decidiu lanar a Unio Econmica e Monetria (UEM), o que implica a introduo de uma moeda europeia nica gerida por um Banco Central Europeu. Esta moeda nica o Euro tornou se realidade a partir de 1 de Janeiro de 2002, data em que as notas e moedas em Euros substituram as moedas nacionais em doze dos quinze pases da Unio Europia (Blgica, Alemanha, Grcia, Espanha, Frana, Irlanda, Itlia, Luxemburgo, Pases Baixos, ustria, Portugal e Finlndia). A UE tem uma caracterstica bem peculiar que a distingue dos outros blocos econmicos: as relaes no so puramente entre os governos dos pases membros, ou seja, as instituies comunitrias concentram poderes prprios, que independem dos governos nacionais e aplicam-se diretamente, com fora de lei, a Estados, empresas e cidados. A Unio Europia dispe de cinco instituies, cada uma com funes especficas: Parlamento Europeu (eleito pela populao dos Estados Membros); Conselho da Unio Europia (representao dos Estados Membros); Comisso Europia (fora motriz e rgo executivo); . Tribunal de Justia (garante a observncia da legislao); . Tribunal de Contas (controlo rigoroso e gesto do oramento da UE). O que significa tudo isso, nem os representantes do parlamento em Bruxelas sabem definir com unanimidade. Se para ser europeu um pas precisa estar na Europa, ento a Turquia, cuja candidatura j foi aceita, estaria fora, porque a maior parte de seu territrio fica na sia. Se o critrio for cultural, qualquer aspirante com populao muulmana, como a Bsnia e a prpria Turquia, teria de ser recusado. H algumas ex-colnias de pases europeus, como a Arglia, que tambm esto tentadas a se candidatar. Nessas horas, todos querem ser europeus. 7- CONFLITOS NA NOVA ORDEM MUNDIAL A nova ordem mundial definida como multipolar, isto , existem vrios centros de poder. Normalmente, consideram-se trs grandes potncias mundiais de grande poderio econmico e tecnolgico: os Estados Unidos da Amrica, o Japo e a Unio Europia, com destaque para a Alemanha. No final da dcada de 80, o mundo no era mais bipolar. Isto , no havia mais a marca da disputa entre as duas superpotncias: EUA, representando o capitalismo e a URSS, representando o socialismo. Mas foram a queda do Muro de Berlin e a reunificao da Alemanha, em 1990, os verdadeiros marcos dessa passagem. Hoje, no mundo multipolar do ps-guerra Fria, o poder medido pela capacidade econmica - disponibilidade de capitais, avano tecnolgico, qualificao da mo-de-obra, nvel de produtividade e ndices de competitividade. Outro importante aspecto da nova ordem o aprofundamento da tendncia de globalizao em suas vrias facetas. Essa tendncia acontece tanto em mbito regional, quanto mundial, com o fortalecimento de blocos econmicos supranacionais. A globalizao nada mais do que uma ferramenta nova da expanso capitalista. Pode-se afirmar que a globalizao est para o atual perodo cientfico-tecnolgico, assim como o colonialismo esteve para a sua etapa comercial, ou o imperialismo para o final da fase industrial. A globalizao trata-se de uma expanso que visa aumentar os mercados e, portanto, os lucros, que movem os capitais produtivos e especulativos. Agora a invaso no mais armada, feita com tropas muito mais sutil e eficaz. Trata-se de uma invaso de mercadorias, capitais, servios, informaes, pessoas. As novas armas so a agilidade e a eficincia das comunicaes, da informtica e dos meios de transportes. A invaso de agora , muitas vezes, instantnea, on-line, via redes mundiais de computadores, que interliga as bolsas de valores ou de capitais especuladores de curto prazo, o Hot-Money, com grande velocidade, em busca de mercados mais interessantes. fato que a nova ordem acabou com o perigo de uma III Guerra Mundial. Mas os problemas e as contradies, tanto do capitalismo, quanto do socialismo, que eram dei