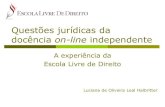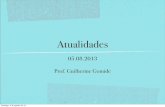Atualidades-Juridicas-14
-
Upload
tiago-alves-pessoa -
Category
Documents
-
view
30 -
download
0
Transcript of Atualidades-Juridicas-14
Revista
Atualidades JurdicasRevista do Conselho Federal da OAB Outubro a Dezembro de 2011 - Nmero 14
EDITORIALA versatilidade do mundo moderno converteu a informtica num instrumento indispensvel de informaes. Embora sem eliminar a importncia e a inestimvel influncia dos livros e das revistas cientficas, tornou-se um veculo pratico de instruo e esclarecimento didtico. Por isso, em sua constante busca de atualizao, o Conselho Federal do nosso sodalcio, por intermdio da OAB Editora, presidida pelo eminente Conselheiro Federal Marcelo Brabo, aprestou-se em inaugurar sua revista eletrnica. Desde o seu nascimento, ela vem prestando relevantes servios aos estudiosos do Direito. A estimativa de que, potencialmente, mais de trezentos mil leitores tenham acesso s suas variadas comunicaes, como afirmou, no prembulo do nmero anterior da revista, o ilustre colega do Conselho Editorial, Ronnie Preuss Duarte. O intuito primordial da Revista Eletrnica Atualidades Jurdicas ofertar a mais variada fonte de cultura jurdica, diversificando os assuntos abordados, com a inteno precpua de torn-la amplamente til para os diversos setores da cincia jurdica. Assim, propositalmente, afastou-se do carter monogrfico para transfigurar-se em revista conscientemente ecltica no mundo frentico da rede mundial de computadores. Comprometida com essa ideia, a Revista Eletrnica Atualidades Jurdicas lana agora a sua 14a edio, referente a outubro, novembro e dezembro de 2011, abordando, em cinco artigos, os mais variados temas relacionados lei de anistia frente ao ordenamento internacional; a impenhorabilidade da verba alimentar do devedor; o prequestionamento com base no projeto do novo Cdigo do Processo Civil; a despenalizao indireta da conduta criminosa; e consideraes sobre o Contrato de Fiana. Finalizando, a revista reproduz cinco comentrios e palestras sobre interessantes questes, destacando importantes acontecimentos da XXI Conferncia Nacional dos Advogados. Resta esperar que a revista no seja apenas lida, mas, tambm, alimentada pela contribuio de novos escritos para os nmeros futuros. desse exerccio intelectual que ela sobreviver cada vez mais vigorosa.
CONSELHO EDITORIAL Presidente OPHIR CAVALCANTE JUNIOR Par Presidente Executivo MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHES Alagoas
Membros Efetivos ALFREDO DE ASSIS GONALVES NETO Paran ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES Distrito Federal GABRIEL CIRACO LIRA Alagoas LUIZ ALBERTO GURJO SAMPAIO ROCHA Par RONNIE PREUSS DUARTE Pernambuco TALES CASTELO BRANCO So Paulo
Apoio Administrativo ALINE MACHADO COSTA TIMM FERNANDA DEL BOSCO DE ARAUJO Projeto Grfico SUSELE BEZERRA MIRANDA
Tales Castelo Branco
Membro do Conselho Editorial
www.oab.org.br/editora ISSN 1982-890X
PALAVRA DO PRESIDENTEAdvogadas e Advogados, A Revista Atualidades Jurdicas de n 14 d continuidade ao rduo e altaneiro trabalho desenvolvido pelo Conselho da OAB Editora em conjunto com a ENA Escolha Nacional da Advocacia. Trata-se a mesma de um instrumento de consulta obrigatria, de natureza plural, direcionado aos mais diversos ramos do direito, com artigos assaz interessantes, os quais tratam, em sua maioria, de temas polmicos e novos. Destacamos, na mesma, algumais discusses por demais interessantes, a exemplo: da eficcia e a aplicabilidade da lei de anistia frente ao ordenamento internacional; da proteo do direito do crdito atravs da releitura de impenhorabilidade da verba alimentar do devedor; das mudanas no requisito de prequestionamento com base no projeto do novo Cdigo do Processo Civil (PL 166/2010); da hiptese de despenalizao indireta da conduta criminosa em face da aplicao isolada da pena de prestao pecuniria e da Teoria Geral do Direito na Dogmtica Civil atravs do Contrato de Fiana. A Revista Atualidades Jurdicas ainda apresenta notcias relevantes para a advocacia e para a sociedade como um todo. Alm disso, nos brinda com comentrios e palestras tambm de interesse da advocacia e do direito. Entre as palestras escolhidas, alguns temas que merecem nossa reflexo e maior incurso, como por exemplo: as prerrogativas profissionais do advogado e o aviltamento dos honorrios advocatcios de sucumbncia; consideraes sobre os princpios que regem a execuo penal como ramo autnomo e jurisdicional do direito brasileiro; imigrao para o Brasil e ascenso do direito internacional privado; ineficincia da Justia Federal e judicializao da sade. Trazemos, ainda, como destaque a XXI Conferncia Nacional dos Advogados, que foi a maior de todos os tempos, no apenas em discusso e temrio, como em participao. Sem dvida, a finalidade almejada por todos ns est sendo atingida, propiciando que o advogado tenha, cada dia mais, um instrumento de informao e formao, que o auxilie no dia a dia e nos temas mais tormentosos que lhe forem confiados. Esperamos, cada vez mais, contar com a colaborao de todos, que podem participar deste projeto, que no apenas da OAB Editora e da ENA, mas de toda a advocacia, enviando-nos, para tanto, artigos, palestras, comentrios, sugestes, entre outros, de forma a podermos fazer uma revista cada dia mais completa, atual e de grande importncia para o desempenho da nossa profisso e para o direito, sem descurar da causa cidad a todos ns confiada. Saudaes Oabeanas!
Marcelo Henrique Brabo MagalhesPresidente Executivo
DESTAQUES
A XXI Conferncia Nacional dos Advogados
As lutas e desafios da advocacia por um Brasil mais justo
A XXI Conferncia Nacional dos Advogados foi o mais importante evento do calendrio cvico de 2011 e a ocasio em que se reafirmou o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa das causas da cidadania e da democracia.
Abertura da XXI Conferncia Nacional dos AdvogadosO rol de escndalos, a dana das cadeiras nos postos dos altos escales da administrao federal, as suspeitas de enriquecimento ilcito custa do errio pblico, tudo isso fermenta uma massa onde se misturam indignao, raiva e medo.
Prmio Evandro Lins e Silva foi entregue na XXI Conferncia Nacional dos Advogados
O advogado Daniel Cavalcante Silva, inscrito na Seccional da OAB do Distrito Federal sob o nmero 18375, autor do trabalho vencedor da IV Edio doPrmio Evandro Lins e Silva, foi premiado em 21 de novembro durante a sesso solene de abertura da XXI Conferncia Nacional dos Advogados.
OAB Editora lana obra com documentos histricos do patrono Caio Mario
A OAB Editora lanou em 21 de novembro, durante a XXI Conferncia Nacional dos Advogados, a obra Memrias de um Civilista: A trajetria de Caio Mario da Silva Pereira.
Selo OAB: Ophir anuncia os 90 melhores cursos de direito do pas
Curitiba (PR), 23/11/2011 - O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, anunciou em 23 de novembro durante a XXI Conferncia Nacioanal dos Advogados a edio do Selo OAB de 2011, com a indicao dos cursos de Direito avaliados pelo Conselho Federal da OAB como os de melhor qualidade do Pas, Estado por Estado.
Leitura da Carta de Curitiba encerra XXI Conferncia Nacional dos Advogados
A XXI Conferncia Nacional dos Advogados, realizada em Curitiba no perodo de 20 a 24 de novembro e que reuniu mais de 7 mil participantes, sob a conduo do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, foi encerrada com a Carta de Curitiba.
Balano da XXI Conferncia Nacional dos Advogados
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apresentou em 12 de dezembro, na reunio do Pleno, um balano da XXI Conferncia Nacional dos Advogados, que foi realizada em Curitiba (PR) de 20 a 24 de novembro.
ARTIGOS CIENTFICOSA EFICCIA E A APLICABILIDADE DA LEI DE ANISTIA FRENTE AO ORDENAMENTO INTERNACIONALAna Paula Baggio
A PROTEO DO DIREITO DE CRDITO ATRAVS DA RELEITURA DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR DO DEVEDORTatiane Gonalves Miranda Goldhar
BREVE ANLISE DAS MUDANAS NO REQUISITO DE PREQUESTIONAMENTO COM BASE NO PROJETO DO NOVO CDIGO DE PROCESSO CIVIL (PL 166/2010)Rodolfo Botelho Cursino
DA HIPTESE DE DESPENALIZAO INDIRETA DA CONDUTA CRIMINOSA EM FACE DA APLICAO ISOLADA DA PENA DE PRESTAO PECUNIRIAAntonio Braz Rolim Filho Cynara Rodrigues Carneiro
DIREITO E LINGUAGEM: A TEORIA GERAL DO DIREITO NA DOGMTICA CIVIL ATRAVS DO CONTRATO DE FIANAThiago Sales de Oliveira
COMENTRIOS E PALESTRAS
AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO E O AVILTAMENTO DOS HONORRIOS ADVOCATCIOS DE SUCUMBNCIAAlexsander Beilner
CONSIDERAES SOBRE OS PRINCPIOS QUE REGEM A EXECUO PENAL COMO RAMO AUTNOMO E JURISDICIONAL DO DIREITO BRASILEIROBruna Fernandes Colho
IMIGRAO PARA O BRASIL E ASCENSO DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADOGustavo Ferreira Ribeiro
INEFICINCIA DA JUSTIA FEDERALReis Friede
JUDICIALIZAO DA SADEPaula Motta Palhares Lima
Envio de artigos, crticas ou sugestes: [email protected]
E-BOOKS
AO PENAL COMO INSTRUMENTO DE COAO NOS CRIMES TRIBUTRIOSHugo de Brito Machado
O ISS E A LOCAO OU CESSO DE DIREITO DE USOHugo de Brito Machado
DOUTRINA DAS ACES
Joaquim Jos Pereira da Silva Ramos
BILL OF RIGHTS
December 15, 1791
LANAMENTOS EDITORIAISA negociao tica para agentes pblicos e advogados: mediao, conciliao, arbitragem, princpios, tcnicas, fases, estilos e tica da negociaoPaulo Valrio Dal Pai Moraes Mrcia Amaral Corra de Moraes Editora Frum
Nova lei antitruste brasileira: a lei 12.529/2011 comentada e a anlise prvia no direito da concorrnciaRoberto Domingos Taufick Editora Forense
Do consentimento no homicdioEnias Xavier Gomes Editora Frum
Direito civil Vol.1Flvio Tartuce Editora Mtodo
Dicionrio da cultura jurdicaDenis Alland e Stphane Rials 7 edio Editora WMF Martins Fontes
Pgina 8
DestaquesA XXI CONFERNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOSAS LUTAS E DESAFIOS DA ADVOCACIA POR UM BRASIL MAIS JUSTO
A XXI Conferncia Nacional dos Advogados foi o mais importante evento do calendrio cvico de 2011 e a ocasio em que se reafirmou o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa das causas da cidadania e da democracia. O tema central Liberdade, Democracia e Meio Ambiente por sua complexidade e abrangncia, ocasionaram mltiplas discusses e motivaram os advogados e a sociedade a debater com maior entusiasmo os desafios que lhe foram postos pelas transformaes em curso em nosso Pas. Mais do que uma reunio peridica de profissionais da Advocacia foi uma oportunidade para repassar um amplo e variado painel de discusso de temas contemporneos, cujo interesse extrapolou o mbito prprio dos juristas. Reunindo o melhor de nosso pensamento, foram discutidas e lanadas ideias, tanto na esfera corporativa estabelecendo linhas de ao em defesa das prerrogativas profissionais ou ajustando a Advocacia brasileira s novas demandas decorrentes das complexidades sociais , como tambm no campo institucional, contribuindo para elevar o conceito de cidadania ao topo das prioridades nacionais. Temas como a democratizao do acesso Justia; uma nova abordagem em torno do ensino jurdico, as deficincias das grades curriculares, a precariedade dos laboratrios de pesquisa e a continuada mercantilizao e banalizao do diploma; a espantosa e por que no dizer vertiginosa
evoluo das ferramentas tecnolgicas, algumas das quais impensveis h uma dcada, e seu impacto nos processos, nas audincias e no ensino a distncia. Tudo isso foi posto em debate. Questes que embora paream pertencer ao universo restrito dos advogados afetam toda a sociedade a quem a Justia serve. Foi tambm a oportunidade de todos aqueles que trabalham no Judicirio unirse para preservar o conceito de Justia como o valor supremo do Direito e, assim, indispensvel para que homens e mulheres possam viver em paz. Palco da histrica Conferncia Nacional dos Advogados de 1978, Curitiba atraiu mais uma vez os olhares do Pas. Se h 33 anos o principal evento da Advocacia foi um marco da resistncia democrtica e abriu caminho para a abertura poltica, esta edio da Conferncia debateu temas de importncia estratgica na definio de polticas pblicas e mudanas legislativas nos prximos anos.
Questes que embora paream pertencer ao universo restrito dos advogados afetam toda a sociedade a quem a Justia serve.
Pgina 9
DESTAQUES
ABERTURA DA XXI CONFERNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOSO rol de escndalos, a dana das cadeiras nos postos dos altos escales da administrao federal, as suspeitas de enriquecimento ilcito custa do errio pblico, tudo isso fermenta uma massa onde se misturam indignao, raiva e medo. A afirmao foi em 21 de novembro pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, ao fazer o discurso de abertura solene da XXI Conferncia Nacional dos Advogados, que aconteceu em Curitiba (PR). Ophir destacou que o povo deve ser fonte e base da soberania de um pas e em nome dele o poder deve ser exercido. No entanto, segundo Ophir, nunca o individual foi to poderoso como agora. No mundo atual, as ordens estabelecidas esto sujeitas a questionamentos das formas mais surpreendentes e rpidas, afirmou. Para mudar esse estado de coisas, o presidente nacional da OAB sustenta que no h tempo a perder e que a mudana passa, necessariamente por uma reforma poltica, para que se redefina o sistema de financiamento de campanha e se amplie o conceito de democracia participativa, sem dar chances s legendas de aluguel criadas para servir de balco a polticos inescrupulosos. A abertura do evento ocorreu no auditrio do Teatro Positivo, no Centro de Convenes ExpoUnimed. Segundo Ophir, a sociedade deu um passo decisivo no sentido da mudana ao exigir a aprovao da Lei Complementar 135/10 (mais conhecida como Lei da Ficha Limpa), cuja declarao de constitucionalidade a OAB busca junto ao Supremo Tribunal Federal, dando legitimidade ao clamor das ruas e ao sentimento da sociedade. E que sentimento esse? De indignao diante de um sistema caduco, recheado das prticas mais atrasadas de aliciamento de voto por falsos polticos cujo nico compromisso apenas com aqueles que os financiam, disse Ophir Cavalcante. Ao defender uma mudana imediata para sair do que chamou de situao democrtica ePGINA 10
partir para uma democracia real, como valor universal, o presidente da OAB afirmou que cabe aos homens pblicos compreender a mensagem que tem sido passada pela sociedade, de que deseja tica na poltica. Cabe aos homens pblicos compreender a mensagem, sob pena de perderem a fonte de sua legitimidade e colocarem em risco a credibilidade das instituies republicanas. Para Ophir Cavalcante, se o sentimento da sociedade no for compreendido, o modelo eleitoral e poltico vigente iro ruir, necessariamente levando os legisladores a formular outro que reflita, democraticamente, essa vontade da sociedade. Se pensam os governantes de planto que ao proteg-los est a capa de uma democracia corroda por dentro, servem de alerta as palavras escritas por jovens durante uma manifestao na Espanha: se no nos deixarem sonhar, no os deixaremos dormir, afirmou Ophir em seu discurso. Mudar preciso. Mudar costumes e prticas; compreender que advm da res publica, a coisa pblica, o significado da Repblica. A Repblica que do povo, e no de uns poucos, e que todos, absolutamente todos, so iguais perante a lei.
Foto: Eugenio Novaes
DESTAQUES
PRMIO EVANDRO LINS E SILVA FOI ENTREGUE NA XXI CONFERNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOSO advogado Daniel Cavalcante Silva, inscrito na Seccional da OAB do Distrito Federal sob o nmero 18375, autor do trabalho vencedor da IV Edio do Prmio Evandro Lins e Silva, foi premiado em 21 de novembro durante a sesso solene de abertura da XXI Conferncia Nacional dos Advogados. O diploma de melhor trabalho jurdico foi entregue ao advogado pelo diretor geral da Escola Nacional dos Advogados (ENA), Manoel Bonfim Furtado Correia. O tema principal dessa edio do concurso, promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB) e ENA, foi Defesa das Liberdades, Democracia e tica. Daniel Cavalcante advogado, mestre emDireito e Poltica Pblica e professor de Direito Tributrio.
OAB EDITORA LANA OBRA COM DOCUMENTOS HISTRICOS DO PATRONO CAIO MARIOA OAB Editora lanou em 21 de novembro, durante a XXI Conferncia Nacional dos Advogados, a obra Memrias de um Civilista: A trajetria de Caio Mario da Silva Pereira. O livro em homenagem a Caio Mrio, falecido em janeiro de 2004, foi lanado na presena do presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante, diretores e conselheiros federais da entidade e da filha do renomado civilista, Tania da Silva Pereira, no espao em frente ao estande do Conselho Federal da OAB. A obra rene documentos do perodo em que o jurista presidiu o Conselho Federal da OAB - de abril de 1975 a abril de 1977 - alm de peridicos, fotografias e documentos de momentos histricos sobre a atuao da OAB Nacional e arquivos que revelam detalhes da ditadura militar, nomes de militares envolvidos em crimes e os vrios tipos de torturas praticadas naquele perodo. Os documentos originais que deram origem obra foram entregues pela famlia do jurista e hoje compem o acervo permanente do Museu da Histria da OAB.Foto: Eugenio Novaes
Pgina 11
Foto: Eugenio Novaes
DESTAQUES
SELO OAB: OPHIR ANUNCIA OS 90 MELHORES CURSOS DE DIREITO DO PASCuritiba (PR), 23/11/2011 - O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, anunciou em 23 de novembro durante a XXI Conferncia Nacioanal dos Advogados a edio do Selo OAB de 2011, com a indicao dos cursos de Direito avaliados pelo Conselho Federal da OAB como os de melhor qualidade do Pas, Estado por Estado. Num universo de 1.210 cursos existentes no Brasil atualmente, apenas 90 cursos, ou 7,4%, acabaram sendo recomendados pelo Selo OAB como cursos de destacada qualidade, dentro de critrios objetivos aplicados pela Comisso Especial da entidade para sua elaborao. A OAB outorgar a premiao aos cursos destacados. Do total de cursos de Direito do pas, 791 foram avaliados depois de preencherem os pr-requisitos de ter participado dos trs ltimos Exame de Ordem unificados, sendo que cada um precisou ter, no mnimo, 20 alunos participando de cada Exame. Em seguida, para apurar os 90 cursos de qualidade recomendada, a Comisso Especial - integrada por advogados, que so professores e especialistas em educao jurdica - utilizou como instrumentos de avaliao uma ponderao dos ndices obtidos por eles em aprovao nos Exames
de Ordem (2010.2, 2010.3 e 2011.1) e no conceito obtido no ltimo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), realizado em 2009. O Selo OAB de 2011 anunciado pelo presidente nacional da OAB a quarta edio elaborada pela entidade, desde a sua criao em 2001, na gesto do ento presidente nacional da entidade, Reginaldo Oscar de Castro. A segunda edio ocorreu em 2003; e a terceira, em 2007. Na nova edio, os 90 cursos destacados pela OAB como de qualidade recomendvel, utilizando-se de uma escala de pontos de 0 (zero) a 10, a Comisso Especial - com base nos critrios definidos e relacionados acima - concluiu que a nota mnima para ingressar nesse elenco foi de 6,9 pontos. Dentre as 27 unidades da Federao que tiveram seus cursos de Direito avaliados, dois Estados no tiveram nenhum recomendado: Acre e Mato Grosso. Os cursos desses dois Estados no atingiram a nota mnima dentro dos critrios de avaliao da OAB ou esto submetidos a processos de superviso do Ministrio da Educao (MEC), ou, ainda, tiveram parecer desfavorvel da Comisso Nacional de Educao Jurdica da OAB Nacional durante a anlise dos processos de reconhecimento ou de renovao.
BALANO DA XXI CONFERNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOSO Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apresentou em 12 de dezembro, na reunio do Pleno, um balano da XXI Conferncia Nacional dos Advogados, que foi realizada em Curitiba (PR) de 20 a 24 de novembro. O evento, segundo o relatrio apresentado pelo vicepresidente nacional da entidade, Alberto de Paula Machado reuniu mais de sete mil inscritos, sendo 4.525 advogados e 2.965 estudantes e 187 palestrantes nos 20 painis regulares, 60 painis especiais, debates e eventos culturais realizados. Ao divulgar o balano aos conselheiros, o presidente da OAB, Ophir Cavalcante, agradeceu o apoio da Seccional paranaense da OAB na realizao do evento e destacou que nenhum recurso financeiro da advocacia foi utilizado no evento,tendo os recursos sido gerados pelas inscries efetivadas, da venda de estandes e de recursos advindos dos patrocinadores. Cumprimos bem uma misso prevista em nosso Estatuto e demos nossa contribuio para o debate em torno da Justia nesse pas, afirmou Ophir Cavalcante.
Pgina 12
DESTAQUES
LEITURA DA CARTA DE CURITIBA ENCERRA XXI CONFERNCIA DA OABA XXI Conferncia Nacional dos Advogados, realizada em Curitiba no perodo de 20 a 24 de novembro e que reuniu mais de 7 mil participantes, sob a conduo do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, foi encerrada com a Carta de Curitiba. O documento ressalta que nos cinco dias de debates os advogados brasileiros dirigiram seus esforos buscando interpretar o sentimento nacional em torno dos ideais de Liberdade, Democracia e Meio Ambiente - tema central da XXI Conferncia. A leitura da Carta de Curitiba foi feita pelo Membro Honorrio Vitalcio da OAB Nacional, Eduardo Seabra Fagundes. A seguir, a ntegra do documento: CARTA DE CURITIBA Reunidos na histrica cidade de Curitiba, os advogados brasileiros, no transcurso da XXI Conferncia Nacional realizada de 20 a 24 de novembro de 2011, dirigiram seus esforos buscando interpretar o sentimento nacional em torno dos ideais de Liberdade, Democracia e Meio Ambiente, que pontuam o destino de nosso povo. Reafirmam os advogados sua crena na imprensa livre e sujeita apenas aos controles sociais, rejeitam os abusos do Estado policial e defendem a autonomia dos indivduos nas suas escolhas existenciais, da liberdade de religio liberdade de orientao sexual. No tocante democracia, advogam uma reforma poltica, que j tarda, capaz de diminuir o peso do poder econmico no processo eleitoral, de reforar a representatividade do Legislativo e de fomentar virtudes cvicas que se encontram adormecidas.A advocacia brasileira refora sua compreenso de que a autonomia e preservao do papel de cada um dos Poderes da Repblica so primados fundamentais para a manuteno e aprimoramento do processo democrtico. Nesse contexto, conclama o Congresso Nacional para que assuma de maneira firme a conduo do processo legislativo, refreando a condio de refm das medidas provisrias. Os advogados brasileiros condenam, sobretudo, o modelo poltico que favorece e estimula o loteamento de cargos em todos os nveis de poder, tornando governantes refns de agentes pblicos que se valem dos seus cargos para fins privados. O pas precisa de um choque tico no oramento, nas licitaes, na diminuio do nmero de cargos em comisso, dentre muitos outros domnios. O primado da tica deve estar presente na sociedade e em todas as instituies, o que inclui, naturalmente, o Poder Judicirio. Por essa razo, os advogados brasileiros defendem a competncia e a independncia do Conselho Nacional de Justia, pois nenhuma autoridade pblica deve estar isenta de controle. Reiterando que no h democracia sem justia e sem advogados, os advogados brasileiros condenam os ataques s suas prerrogativas, por ser o profissional que defende, nos limites da lei e da tica, os interesses que lhe foram confiados. No desempenho dessa misso rdua, no deve ser destinatrio da condenao social que possa existir em relao ao seu cliente. A advocacia a alternativa que o mundo civilizado concebeu contra a fora bruta e contra o autoritarismo, em que os argumentos substituem as armas e os golpes. Reiteram seu compromisso de preservar a qualidade daqueles que ingressam nos seus quadros, bem como de lutar pela qualidade do ensino jurdico, alm de discordar dos critrios utilizados pelo MEC para criao de novos cursos e vagas e sua ineficincia na
Pgina 13
DESTAQUES
fiscalizao, por privilegiarem a quantidade em detrimento da qualidade. Por fim, posicionam-se os advogados ao lado da sociedade que deseja o crescimento econmico do pas, mas com observncia de uma conscincia ambiental, voltada para o desenvolvimento sustentvel. Os advogados brasileiros, alinhados na Ordem dos Advogados, estaro sempre ao lado do povo brasileiro e da sociedade civil na defesa dos valores que nos congregam: justia -inclusive e notadamente na sua dimenso social --, liberdade e lisura no desempenho das funes pblicas.
Foto: Eugenio Novaes
Pgina 14
ARTIGOS CIENTFICOS
A EFICCIA E A APLICABILIDADE DA LEI DE ANISTIA FRENTE AO ORDENAMENTO INTERNACIONAL ANA PAULA BAGGIORESUMO A Lei de anistia beneficiou vrias pessoas que faziam parte do Estado no tempo da Ditadura. Essas pessoas cometeram muitas atrocidades perante os civis de seu pas, justificando suas condutas pela hegemonia Estatal e em sua obedincia. Este estudo visa demonstrar que esses crimes no podem ficar impunes e que o ordenamento jurdico internacional no aceita a anistia deste tipo de crime. Os algozes justificam suas condutas em prol do Estado, mas segundo as regras de direito internacional a Lei de Anistia no tem aplicabilidade no mbito internacional. Palavras-chave: Direito Internacional. Lei de Anistia. Inaplicabilidade. ABSTRACT The Amnesty law is a fact that retroactively exempts a select group of people, usually military leaders and government leaders of the State in time of the Dictatorship. Those people made many cruelties for the civilians of their country, justifying their conducts for the State hegemony and obedience regarding the counterinsurgency actions taken during their reign. This study attempt to demonstrate that those crimes cannot be unpunished and the International Criminal Court not accepts the amnesty of this crime type because uphold impunity. The perpetrators argument that their attitudes were made for State Benefits. However according to International Rights (Law) the Amnesty law cannot be valid in international range. Key words: International Rights. Amnesty law, Inapplicability.
1 INTRODUO Este trabalho visa uma melhor compreenso da aplicabilidade das normas internacionais dentro do ordenamento jurdico brasileiro. Visa demonstrar que nem sempre normas internas so recepcionadas pelo ordenamento jurdico internacional. Essa Lei foi criada aps a Ditadura, perodo de grande represso. Os militares que estavam no poder na poca no admitiam oposio ao regime imposto. Assim, muitos nacionais foram torturados e mortos sem ao menos terem direito ao contraditrio e a ampla defesa. A Lei de Anistia beneficiou todas as pessoas indistintamente, ou seja, at aqueles que estavam no poder, em tempo de Ditadura, e que cometeram crimes contra a humanidade. Este trabalho visa demonstrar que esses crimes por ferirem normas de direitos humanos no podem ficar impunes, pois quando uma norma interna, como a Lei da Anistia, contra valores de direitos humanos, ela no tem eficcia e aplicabilidade no contexto do direito internacional. Ademais, uma norma no pode ser criada para deixar impune os crimes cometidos pelos mesmos que criaram a norma. Deste modo, trataremos sobre a inaplicabilidade da Lei de Anistia perante o direito internacional, pois a comunidade internacional no aceita que leis internas que visam a impunidade e a inobservncia dos direitos humanos tenham eficcia e aplicabilidade. Ademais, como ser demonstrado o Brasil em seu ordenamento jurdico, possui vrias regras que determinam a importncia e a aplicabilidade das normas de direitos humanos, tema este que tambm ser abordado por ns. Outrossim, abordar-se- o contexto em que A Lei de Anistia foi inserida e quais as reais intenes de sua criao. Este trabalho versar ainda, sobre a situao das pessoas que sofreram perseguies, tortura, represses, ou seja, sofreram abusos na poca da ditadura e qual a soluo dada pelo Estado para amenizar os horrores que essas pessoas passaram e sofreram.Pgina 15
ARTIGOS CIENTFICOS
E ainda trataremos da Ao Direta de Preceito Fundamental n. 153, ao esta proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil que visa declarar inconstitucional o artigo, 1, 1 da Lei de Anistia que no esclarece qual o verdadeiro conceito do que seria o crime poltico no contexto da Lei de Anistia. 2 O ORDENAMENTO JURDICO INTERNACIONAL 2.1 Direito Internacional Pblico: Conceito e Objetivo O Direito Internacional Pblico definido como um conjunto de normas que regem determinados pases soberanos, sendo que as normas jurdicas criadas so prprias da comunidade internacional e vo alm do mbito interno. So direitos e deveres em os pases soberanos passam a ter que seguir em razo dos tratados, acordos e convenes celebrados entre si. Rezek aduz que o direito internacional pblico um sistema jurdico autnomo, onde se ordenam as relaes entre os Estados soberanos.1 Nesse sentido leciona Valrio de Oliveira Mazzuoli, O direito internacional pblico, tambm chamado de direito das gentes (law of nations, nos pases anglo-americanos; droit ds genes, em francs, ou Vlkerrecht, no alemo), tradicionalmente sempre foi definido como sendo aquele direito capaz de reger as relaes interestatais, consubstanciado num complexo de normas que regulam as condutas recprocas dos Estados. Trata-se do conceito clssico (positivista) de direito internacional pblico.2 Valrio ainda nos ensina que o direito internacional pblico aquele que rege apenas as relaes entre os Estados, no abrangendo os indivduos de forma direta, pois segundo o autor dever haver a interveno estatal em um primeiro momento para a efetivao, quando for o caso, de direitos concernentes aos indivduos interessados. Assim descreve o autor: (...) nos termos da definio clssica desta nossa disciplina, somente os Estados podem ser sujeitos de direito internacional pblico, de modo que somente eles so capazes de contrair direitos e obrigaes estabelecidas pela doutrina jurdica internacional. Esta doutrina, baseando-se nas premissas tericas do dualismo de Carl Heinrich Triepel, nega que os indivduos possam ser sujeitos de direito internacional, sob o fundamento de que o direito das gentes somente regula as relaes entre os Estados, jamais podendo chegar at os indivduos, sem que haja uma prvia transformao de suas normas em direito interno. Os benefcios ou obrigaes porventura reconhecidos ou impostos a outras instituies, que no o Estado, dentro desta definio tradicional, so considerados como sendo meramente derivativos, visto terem sido adquiridos em virtude da relao ou dependncia que tiveram com o Estado respectivo, este sim nico sujeito internacionalmente vlido.3 Com a evoluo do direito internacional pblico o sistema clssico (1648-1918) foi substitudo pelo sistema moderno (que surgiu aps o trmino da Primeira Guerra Mundial). A Primeira Guerra Mundial ajudou a estabelecer progressos em relao a poltica internacional, pois pela Conferncia de Paz de Versailles de 28 de junho de 1919 foi criada a Liga das Naes (Pacto da Sociedade das Naes) que tinha como premissas bsicas: o respeito ao direito internacional, a vedao do uso da fora e a cooperao entre os Estados-Membros. A partir deste momento, como refora Renata Campetti Amaral, comea a surgir a idia de um 1 REZEK, Jos Francisco. Direito internacional pblico: curso elementar. So Paulo: Saraiva: 1998. p.3. 2 MAZZUOLI, Valrio de Oliveira. Direito internacional pblico: parte geral. 4 ed. rev., atual. e ampl. So Paulo:Editora Revista dos Tribunais: 2008. p. 12.
3 Ibidem, p. 13.Pgina 16
ARTIGOS CIENTFICOS
sistema normativo com o objetivo de instituir o dever jurdico de cooperao entre entidades autnomas (Estados).4 Mas a Liga das Naes perdeu fora em razo das freqentes brigas de seus associados por espaos no Conselho e porque os pases membros invadiam uns aos outros e a Liga no conseguia aplicar-lhes sanes. Ademais, cabe destacar que a Segunda Guerra Mundial desestruturou totalmente a Liga das Naes que acabou sendo extinta em 1947. Com o advento da Segunda Guerra Mundial e o fim da Liga das Naes houve a necessidade de se criar bases slidas quanto s normas de direito internacional e sua aplicao. Assim em 26 de junho de 1945, com a Conferncia de San Francisco, foi instituda a Organizao das Naes Unidas. Em um primeiro momento apenas os pases que j participavam da Liga assinaram a Carta das Naes Unidas, ou seja, somente 51 pases, e aps as devidas ratificaes finalmente em 24 de outubro de 1945 seu texto entrou em vigor. A criao da ONU teve como objetivos os constantes no artigo primeiro da Carta das Naes Unidas (1945), quais sejam, Artigo 1 Os propsitos das Naes unidas so: 1. Manter a paz e a segurana internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaas paz e reprimir os atos de agresso ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacficos e de conformidade com os princpios da justia e do direito internacional, a um ajuste ou soluo das controvrsias ou situaes que possam levar a uma perturbao da paz; 2. Desenvolver relaes amistosas entre as naes, baseadas no respeito ao princpio de igualdade de direitos e de autodeterminao dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 3. Conseguir uma cooperao internacional para resolver os problemas internacionais de carter econmico, social, cultural ou humanitrio, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e s liberdades fundamentais para todos, sem distino de raa, sexo, lngua ou religio; e 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ao das naes para a consecuo desses objetivos comuns. Ou seja, a ONU teve como sua principal meta a paz e a segurana internacionais, bem como a cooperao internacional. Mas hoje enquanto sujeitos do direito internacional pblico, as organizaes internacionais passaram a ladear os Estado. At o indivduo que antes no tinha espao no mbito internacional, hoje objeto de estudo do direito internacional pblico. Segundo Politis O direito internacional pblico um conjunto de regras que governam as relaes dos homens pertencentes aos vrios grupos nacionais.5 Concluindo o tema Hidelbrando Accioly complementa aduzindo que o direito internacional pblico o conjunto de princpios e regras destinados a reger os direitos e deveres internacionais, tanto dos Estados ou outros organismos anlogos, quanto dos indivduos.6 2.2 Fontes do Direito Internacional As fontes do Direito internacional Pblico so divididas em duas acepes ou teorias: a positivista e a objetivista. A positivista tambm chamada de voluntarista e que tem como adeptos os doutrinadores italianos, determina que a nica fonte do DIP a vontade comum dos Estados, sendo que tal vontade se encontra 4 AMARAL, Renata Campetti. Direito internacional pblico e privado. 4 ed. Porto Alegre: Editora Verbo Jurdico:2008. p. 12.
5 POLITIS apud AMARAL. Ibidem, p. 15. 6 ACCIOLY apud AMARAL. Ibidem, p. 15.Pgina 17
ARTIGOS CIENTFICOS
expressamente manifestada nos tratados e, de modo tcito nos costumes. 7 Contrape-se a essa corrente a Escola objetivista que abarca as fontes formais e materiais do direito internacional pblico e a que adotada pela maioria dos internacionalistas. 2.3 Fontes Materiais e Formais As fontes materiais so aquelas que determinam o contedo das normas a serem aplicadas podendo ter origem em necessidades sociais, econmicas, polticas, morais religiosas etc.8 As fontes materiais seriam, por exemplo, a tradio, a cultura, a histria.9 As fontes materiais so dinmicas e costumam se adequar quando necessrio a evoluo do contedo da norma. Em contrapartida, as fontes formais do direito internacional pblico so os procedimentos de elaborao, em que estaro inseridas as normas correspondentes s fontes materiais. As fontes formais so limitadas e encontram-se tipificadas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justia quais sejam: Artigo 38 - 1. A Corte, cuja funo decidir em conformidade com o direito internacional as controvrsias que lhe forem submetidas, aplicar: a. As convenes internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; b. O costume internacional, como prova de uma prtica geral aceite como direito; c. Os princpios gerais de direito, reconhecidos pelas naes civilizadas; d. Com ressalva das disposies do artigo 59, as decises judiciais e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes naes, como meio auxiliar para a determinao das regras de direito. 2. A presente disposio no prejudicar a faculdade da Corte de decidir uma questo ex aequo et bono, se as partes assim convierem. Ou seja, so fontes formais: as convenes internacionais (tratados internacionais), o costume internacional, os princpios gerais de direito, a jurisprudncia e a doutrina. Segundo a Conveno de Viena de 1969 em seu artigo 2, item 1, o tratado seria um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados regidos pelo Direito Internacional, quer inserido num nico instrumento, quer em dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua designao especfica. Valrio de Oliveira Mazzuoli nos ensina que, Os tratados internacionais so incontestavelmente, a principal fonte do direito internacional pblico na atualidade, no apenas em relao segurana jurdica e estabilidade que trazem nas relaes internacionais contemporneas, mas tambm porque tornam o direito das gentes mais representativo e autntico, na medida em que se consubstanciam na vontade livre e conjugada dos atores da cena internacional. Alm de serem elaborados com a participao direta dos Estados e Organizaes Internacionais, de forma democrtica, os tratados internacionais trazem consigo a especial fora normativa de regularem matrias das mais variadas e das mais importantes. Da sua importncia como principal fonte do direito moderno.10 O costume internacional caracterizado pela prova de uma prtica geral aceita como sendo direito. A Corte Internacional de Justia entende que o contedo do costume encontra-se na unio de dois elementos essenciais: o elemento material e o elemento subjetivo ou psicolgico. O elemento material a prtica ou omisso11 de um determinado procedimento que sua repetio 7 Ibidem, p. 12. 8 MAZZUOLI, op. cit., p. 26. 9 AMARAL. op. cit., p. 16. 10 11MAZZUOLI, op. cit., p. 28. A prtica ou omisso deve ser constante, contnua e uniforme para que se caracterize o costume. Pgina 18
ARTIGOS CIENTFICOS
ao longo do tempo acarreta em uma conduta rotineira. J o elemento subjetivo seria a prova de uma prtica geral sendo aceita como direito para os Estados. Os Estados devem ter o sentimento de estarem juridicamente ligados, motivados pela conscincia de uma obrigao jurdica. Este sentimento de que a prtica deve ser obrigatria e necessria se traduz pelo brocado latino opinio juris sive necessitatis12. Os princpios gerais de direito So princpios consagrados nos sistemas jurdicos dos Estados, ainda que no sejam aceitos por todos os sistemas jurdicos estatais, bastando que um nmero suficiente de Estados os consagrem.13 Seriam aqueles princpios aceitos por todas as naes dentro de seus limites internos e tambm no mbito externo, ou seja, em relao aos outros Estados e seu povo. Exemplos: princpio da boa f, no agresso, soluo pacifica dos litgios. A jurisprudncia seria a reiterada deciso dada pelos Tribunais Internacionais sobre um determinado fato ou acontecimento. A Doutrina por sua vez seria a contribuio dos estudiosos do direito para uma maior compreenso sobre determinados temas de direito internacional. O art. 38 do Estatuto da CIJ refere-se quanto a doutrina que nela se englobam outras entidades que possam incentivar o desenvolvimento do direito internacional, como por exemplo, a Comisso de Direito Internacional da ONU. 3 OS DIREITOS HUMANOS 3.1 Conceito Os direitos humanos so aqueles inerentes ao homem como indivduo, so direitos inatos, o direito que qualquer ser humano tem desde sua concepo. um conjunto mnimo de direitos necessrios para assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade e na dignidade.14 Segundo Antnio Enrique Prez Luo, Os direitos humanos surgem como um conjunto de faculdades e instituies que, em cada momento histrico, concretizam as exigncias de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurdicos, nos planos nacional e internacional. 15 Esses direitos so considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana no consegue existir ou no capaz de se desenvolver e participar plenamente da vida o que nos ensina Dalmo de Abreu Dallari.16 Vale lembrar, que hoje o Direito Internacional dos Direitos Humanos atribui aos indivduos status de sujeito de Direito Internacional, atribuindo-lhes direitos e obrigaes na esfera internacional. 3.2 Anlise do Art. 4, II da Constituio Brasileira. Prevalncia dos Direitos Humanos Primeiramente ser transcrito o artigo em intento para uma maior compreenso sobre o tema: Art. 4 A Repblica Federativa do Brasil rege-se nas suas relaes internacionais pelos seguintes princpios: II - prevalncia dos direitos humanos; Como reza o texto acima, o Brasil em suas relaes internacionais deve obedincia s normas de 12 13 14 15A convico do direito ou da necessidade. MAZZUOLI, op. cit., p. 31. RAMOS, Andr. Processo internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 11. LUO, Antnio Enrique Peres. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitution. 4a. ed. Madrid: Tecnos, 1991, p. 48. 16 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. So Paulo: Ed. Moderna, 1998, p. 12. Pgina 19
ARTIGOS CIENTFICOS
direitos humanos, ou seja, o Brasil se comprometeu em seguir tais regras. Ademais, expressamente em seu artigo 5, 1, a Constituio determina que quando o Brasil ratifica uma norma de direitos humanos essa norma passa a vigorar automaticamente no sistema jurdico brasileiro, pois as normas de direitos humanos tm aplicao imediata. 1 - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tm aplicao imediata. Em resumo, no Estado brasileiro as normas de direitos humanos tm uma posio de destaque e so de suma importncia para a integrao do pas no mbito internacional, pois tais normas so apreciadas por todo o ordenamento jurdico internacional como preceitos importantes para a evoluo do direito. E servem como forma de represso a abusos que possam ser cometidos pelos Estados dentro do contexto internacional. 3.3 Anlise do Art. 5, 2 da Carta Magna A Constituio Federal Brasileira quando versa sobre a incorporao dos Tratados Internacionais em seu ordenamento jurdico, distingue os Tratados de Direito humanos dos demais Tratados. Artigo 5, 2 da Constituio Federal: Art. 5 Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade, segurana e propriedade, nos termos seguintes: 2 - Os direitos e garantias expressos nesta Constituio no excluem outros decorrentes do regime e dos princpios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a Repblica Federativa do Brasil seja parte. Pela redao do artigo, o Brasil passou a reconhecer claramente, no tocante ao sistema de direitos e garantias dois tipos de normas. Primeiramente normas de direito interno (direitos expressos e implcitos na CF) e normas do direito internacional (decorrentes de tratados internacionais referentes a direitos humanos) que o Brasil se prontificou a obedecer (ratificou). Deste modo, Valrio de Oliveira Mazzuoli conclui que, (...) se a Constituio estabelece que os direitos e garantias nela expressos no excluem outros provenientes dos tratados internacionais em que a Repblica Federativa do Brasil seja parte, porque ela prpria est a autorizar que esses direitos e garantias internacionais constantes dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil se incluem no nosso ordenamento jurdico interno, passando a ser considerados como se escritos na Constituio estivessem. dizer, se os direitos e garantias expressos no texto constitucional no excluem outros provenientes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte, porque, pela lgica, na medida em que tais instrumentos passam a assegurar certos direitos e garantias, a constituio os inclui no seu catlogo de direitos protegidos, ampliando, assim, o seu bloco de constitucionalidade. 17 Para o autor, esses tratados de direitos humanos seriam normas constitucionais, pois estariam no mesmo patamar que as normas contidas na Constituio. Corrobora tal entendimento, a autora Flavia Piovesan que aduz que quando os direitos e garantias expressos na Constituio no excluem outros decorrentes dos tratados internacionais, porque a contrrio sensu, est ela a incluir, no catlogo dos direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Este processo de incluso implica na [sic] incorporao pelo texto constitucional destes direitos.18 Mas este no o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 17 18MAZZUOLI, op. cit., p. 91. PIOVESAN apud VALRIO. Ibidem, p. 92. Pgina 20
ARTIGOS CIENTFICOS
Apesar de haver apenas um julgado quanto ao tema, o STF se manifestou de forma a considerar os tratados de direitos humanos como normas supralegais. (STF - RE. 466.343 SP). Utilizando a Teoria Normativa de Hans Kelsen, as normas de direitos humanos, das quais, o Brasil vier a aderir (ratificar) entrariam em vigor no ordenamento jurdico ptrio como normas constantes acima das leis e ao mesmo tempo estariam abaixo da Constituio. Ademais, segundo o STF e a redao dada pelo artigo 5, 3 da Constituio Federal apenas quando houvesse a aprovao em dois turnos por trs quintos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, os tratados de direitos humanos entrariam no ordenamento jurdico com equivalncia de emenda constitucional. 3.4 Dos Crimes Contra a Humanidade A primeira invocao feita para definir os crimes contra a humanidade ocorreu com o advento do Estatuto de Nuremberg que definiu em seu artigo 6, c o conceito de crimes contra a humanidade. Artigo 6, c: (...) (c) Crimes contra a humanidade: A saber, o homicdio, o extermnio, a escravido, a deportao e outros atos desumanos cometidos contra a populao civil antes da guerra ou durante a mesma, a perseguio por motivos polticos, raciais ou religiosos na execuo daqueles crimes que sejam de competncia do Tribunal ou relacionados aos mesmos, constituam ou no uma violao da legislao interna do pas onde foram perpetrados. (grifo nosso).19 Esta definio foi reconhecida e ratificada pela ONU em 12.11.1946 pela Resoluo n. 95. Segundo Marlon Alberto Weichert o crime considerado pelo direito internacional como atentatrio humanidade aquele praticado dentro de um padro amplo e repetitivo de perseguio a determinado grupo (ou grupos) da sociedade civil, por qualquer razo (poltica, religiosa ou racial e tnica).20 Complementa ainda, que os crimes contra a humanidade so caracterizados pela prtica de atos desumanos, como o homicdio, a tortura, as execues sumrias, extralegais ou arbitrrias e os desaparecimentos forados, cometidos em um contexto de ataque generalizado e sistemtico contra uma populao civil, em tempo de guerra ou paz. Essa a definio efetiva dos crimes contra a humanidade, tambm conhecidos como crime de lesa-humanidade, adotada inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. (grifo nosso) 21 Ou seja, a definio de tais crimes bem abrangente ao passo que engloba vrias condutas. Ademais, Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos nos ensina que Os crimes contra a humanidade so similares a outras graves violaes dos direitos humanos; eles se diferenciam, entretanto, na sua natureza coletiva e massiva, a referncia populao nos crimes contra a humanidade que lhes configura a sua massividade.22 Observa-se que no tocante ao corpus iuris do direito internacional, um crime contra a 19.WEICHERT apud Traduo livre do texto. Disponvel em: Acesso em 24.09.2007. 20 WEICHERT, Marlon Alberto. Crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil. Lei de anistia e prescrio penal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, 2008, n. 74, p. 174, setembro outubro de 2008 ano 16. 21 WEICHERT apud Cf. Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Excepciones Preliminares, Fondo Reparticiones y Costas. Sentena em 26.09.2006. Srie C, n. 154. Par. 96. Disponvel em: . Acesso em 24.09.2007. 22 BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. As leis de anistia face o direito internacional. O caso brasileiro. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007, p. 32. Pgina 21
ARTIGOS CIENTFICOS
humanidade em si mesmo uma grave violao aos direitos humanos e afeta toda a humanidade. 23 Vale lembrar que o direito internacional no que tange aos direitos humanos no reconhece legislaes internas que visam impedir responsabilizao por crimes contra a humanidade. Assim, as regras de direitos humanos determinam que os crimes contra a humanidade, por serem crimes demasiadamente graves so tidos como crimes imprescritveis24 e no so passiveis de eventual possibilidade da concesso da anistia25 3.5 Da Aplicabilidade do Direito Internacional no tocante aos Direitos Humanos dentro do ordenamento jurdico brasileiro (Pacto de So Jos da Costa Rica) A aplicabilidade das normas internacionais dentro do ordenamento jurdico nacional ocorre pela falta de habilidade dos mecanismos estatais normais de controle para tratar da criminalidade provocada pelo prprio Estado ou por seus lderes pois somente mecanismos internacionais poderiam administrar esse problema.26 Segundo Canado Trindade, quando o Estado inerte a violao dos direitos humanos este estar deixando de cumprir com o seu dever de assegurar os direitos das pessoas sobre sua jurisdio. () quer a violao dos direitos humanos reconhecidos tenha sido cometida por agentes ou funcionrios do Estado, por instituies pblicas, quer tenha sido cometida por simples particulares ou mesmo pessoas ou grupos no-identificados ou clandestinos, se o aparato do Estado atua de modo que tal violao permanea impune e no se restabelea vtima a plenitude de seus direitos o mais cedo possvel, pode afirmar-se que o Estado deixou de cumprir com seu dever de assegurar o livre e pleno exerccio de seus direitos s pessoas sob sua jurisdio. Caso Velsquez Rodriguez, n. 4, p. 72, par. 176; Srie C, n. 5, p. 76, par. 187. 27 Ou seja, a inrcia do Estado no tocante a punio pelos crimes cometidos contra os direitos humanos no pode prevalecer. O Brasil atravs do Decreto n. 678 de novembro de 1992 promulgou a Conveno Americana dos Direitos Humanos (Pacto de So Jos da Costa Rica), a qual dispe que quando houver violao aos direitos humanos e o ente estatal no tomar as devidas providncias, este ser rechaado pelo direito internacional, em razo de ter se comprometido ao cumprimento da norma internacional e no t-la cumprido. O artigo 2 do Pacto de So Jos da Costa Rica estabelece que o pas comprometido com o documento em epgrafe deve garantir por qualquer meio o cumprimento efetivo dos direitos e liberdades institudos no artigo 1 do mesmo documento. Artigo 2 - Dever de adotar disposies de direito interno Se o exerccio dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda no estiver garantido por disposies legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposies desta Conveno, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessrias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. (grifo nosso)
23 24
WEICHERT, op. cit., p. 181/182 Imprescritvel a punio pode ocorre a qualquer tempo, desde que haja indcios de autoria e materialidade do delito. 25 Anistia sf (gr amnesta) 1 Ato do poder legislativo pelo qual se extinguem as consequncias de um fato punvel e, em resultado, qualquer processo sobre ele; medida ordinariamente adotada para pacificao dos espritos aps motins ou revolues. No se confunde com o ato de indulto, por crime comuns, decretado por chefes de Estado. 2 Em sentido amplo, esquecimento, perdo. Disponvel em: Acesso em 26.03.2009. 26 BASTOS, op. cit., p. 33. 27 CANADO TRINDADE apud MARLON ALBERTO WEICHERT, op. cit., p. 186. Pgina 22
ARTIGOS CIENTFICOS
Quando o Estado se tornar omisso em relao ao esclarecimento de crimes cometidos no passado este ser responsabilizado, pois as vtimas, bem como seus familiares tm o direito e o Estado o dever de aclarar tais fatos. Em outras palavras, o direito interno brasileiro e a atuao material dos rgos estatais no podem impedir a concretizao das obrigaes firmadas no mbito da Conveno Americana de Direitos Humanos, inclusive o direito das vtimas a verem esclarecidos crimes ocorridos no passado. De fato, com fundamento nesses comandos convencionais (arts. 1.1,2.,8.e25.1), a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem reiteradamente decidido que quando houver continuidade ou permanncia, limitaes temporais fixadas no ato de ratificao da competncia da Corte no eximem os Estados-parte de atuarem na responsabilizao por violaes aos direitos humanos perpetradas [sic] anteriormente.28 Pela Jurisprudncia da Corte e tomando como base o caso Las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador temos que: 66. La Corte no puede ejercer su competencia contenciosa para aplicar la Convencin y declarar una violacin a sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado demandado que pudiera implicar responsabilidad internacional, son anteriores al reconocimiento de la competencia del Tribunal. 67. Sin embargo, cuando se trata de una violacin continua o permanente, cuyo inicio se hubiere dado antes de que el Estado demandado hubiere reconocido la competencia contenciosa de la Corte y que persiste an despus de este reconocimiento, el Tribunal es competente para conocer de las conductas ocurridascon posterioridad al reconocimiento de la competencia y de los efectos de ls violaciones.29 Pela citao de parte da sentena do caso Las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos podemos observar que a Corte no pode exercer sua competncia para aplicar a Conveno e declarar uma violao a suas normas quando os fatos alegados ou a conduta do Estado demandado que podia implicar em responsabilidade internacional so anteriores ao reconhecimento do Tribunal. Mas, quando se tratar de uma violao contnua e permanente, cujo incio tenha ocorrido antes que o Estado demandado tenha reconhecido a competncia contenciosa da Corte e que persista mesmo depois desse reconhecimento. O Tribunal ser competente para conhecer as condutas ocorridas posteriormente ao reconhecimento da competncia e dos efeitos das violaes. Pelo exposto e fazendo um paralelo com o direito ptrio, podemos dizer que enquanto o Brasil se omite em investigar e punir os crimes cometidos no perodo da Ditadura contra seus cidados estar violando os deveres determinados no Tratado que se obrigou a cumprir. E ainda, estar ferindo os preceitos da apurao da verdade e do processo justo, preceitos estes basilares a persecuo dos direitos das vtimas e de seus familiares, que buscam o esclarecimento dos fatos ocorridos naquela poca. Sendo assim, apesar do Brasil ter aderido ao Pacto de So Jos da Costa Rica apenas em setembro de 1992, quando o Estado Brasileiro, se omitir na investigao, processamento e responsabilizao dos culpados pela prtica de crimes contra a humanidade, bem como os ocorridos durante o Regime Militar, este ser responsabilizado. 28 29WEICHERT, op. cit., p. 186/187. 66. A Corte no pode exercer sua competncia contenciosa para aplicar a Conveno e declarar uma violao a suas normas quando os fatos alegados ou a conduta do Estado demandado que poderia implicar em responsabilidade internacional so anteriores ao reconhecimento do Tribunal. 67. Mas, quando se tratar de uma violao contnua e permanente, cujo incio tenha ocorrido antes que o Estado demandado tenha reconhecido a competncia contenciosa da Corte e que persista mesmo depois desse reconhecimento. O Tribunal ser competente para conhecer as condutas ocorridas posteriormente ao reconhecimento da competncia e dos efeitos das violaes. Pgina 23
ARTIGOS CIENTFICOS
4 A DITADURA MILITAR 4.1 Breves Consideraes Histricas O Estado Brasileiro foi comandado pelos militares no perodo compreendido entre 1964 a 1985, com isso, nesta poca, se formaram vrios grupos opositores que tinham como intuito a retomada do Estado Democrtico de Direito no Brasil. Por volta de 1968 houve uma forte represso a estes grupos. Os militares municiaram-se de tcnicas repressivas to violentas que causaram, alm de seqestros e prises ilegais, torturas e homicdios deliberados contra quem opusesse o Sistema Ditatorial.30 Deste modo, pode-se vislumbrar que a poltica estatal que visava reprimir de forma violenta qualquer indcio de ciznia poltica fulminou no ataque deliberado e generalizado contra a populao civil ptria. O Regime Militar foi marcado por uma srie de atos atentatrios aos direitos humanos, sendo reconhecido tal intento com a publicao da Lei 9.140/95 31 denominada de Direito Memria e Verdade. Essa Lei foi criada com o objetivo do reconhecimento pelo Estado Brasileiro, de que no perodo da Ditadura houve graves leses aos direito humanos. 32 Pelo prejuzo decorrente das perseguies polticas, o Brasil j beneficiou com indenizaes mais de vinte e quatro mil famlias. Mas estima-se que o nmero de pessoas presas e torturadas neste perodo tenha ultrapassado a marca de trinta mil pessoas. Destarte, podemos concluir que os crimes praticados contra civis em tempos de Ditadura revestem (como explica Marlon Alberto Weichert) a qualidade de crimes contra a humanidade, pois foram consumados dentro de um padro sistemtico e generalizado de atos violentos. Ademais, cabe ressaltar que a Justia Transicional (que o perodo de transio entre a fase de represso e o Estado Democrtico de Direito) que caracterizada por ser um conjunto de medidas tendentes a superao de perodos de graves violaes aos direitos humanos ocorridas no mbito de motins armados ou mesmo perodos ditatoriais, precisa esclarecer os atos cometidos em tempo de graves violaes dos direitos humanos para que se torne pleno o instituto do Estado Democrtico de Direito.33 Outrossim, devemos destacar que a Justia Transicional visa a aplicao de medidas tendentes a: 30 31WEICHERT, op. cit., p. 179. A Lei n 9140, de 4 de dezembro de 1995, reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas em razo de participao, ou acusao de participao, em atividades polticas no perodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Dessa forma o Estado brasileiro reconheceu a responsabilidade no desaparecimento forado de 136 pessoas relacionadas no Anexo I da Lei. A Lei previu ainda a criao de uma Comisso Especial, que foi instituda pelo Decreto de 18 de dezembro de 1995, com as seguintes atribuies: I Proceder ao reconhecimento de pessoas: a) desaparecidas, no relacionadas no Anexo I da Lei; b) que, por terem participado ou por terem sido acusadas de participao em atividades polticas, no perodo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, tenham falecido, por causa no naturais, em dependncias policiais ou assemelhadas. II localizao de corpos de pessoas desaparecidas no caso de existncia de indcios quanto ao local em que possam estar depositados. Em 14 de agosto de 2002, foi promulgada a Lei n 10.536, que ampliou o perodo de abrangncia da lei anterior, para 5 de outubro de 1988 e reabriu o prazo para apresentao de novos requerimentos. Em 1 de julho de 2004, foi promulgada a Lei n 10.875, que ampliou os critrios de reconhecimento, contemplando as vitimas de manifestaes pblicas ou de conflitos armados com agentes do poder pblico, e as que tenham falecido em decorrncia de suicdio praticado na iminncia de serem presas ou em decorrncia de seqelas psicolgicas resultantes de atos de tortura. Neste ato, a Comisso Especial passou a se vincular Secretaria Especial de Direitos Humanos e foi novamente aberto o prazo, por mais cento e vinte dias, para apresentao de requerimentos. O referido prazo extinguiu-se em 29 de setembro de 2004. 32 BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direito memria e verdade: comisso especial sobre mortos e desaparecidos polticos. Braslia: Secretaria Especial de Direitos humanos, 2007, p. 23. 33 WEICHERT, Marlon Alberto. Crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil. Lei de anistia e prescrio penal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, 2008, n. 74, p. 183 setembro outubro de 2008 ano 16. Pgina 24
ARTIGOS CIENTFICOS
a) esclarecer a verdade, tanto histrica (mediante Comisses de Verdade) quanto judicial (atravs de investigaes das instituies que compem o sistema de justia), sempre mediante abertura dos arquivos estatais relacionados ao perodo de exceo; b) realizar a justia mediante a responsabilizao dos violadores de direitos humanos, notadamente os autores de crimes considerados de lesa-humanidade. Na realizao da justia devem ser afastados quaisquer bices para a persecuo penal, tais como autoanistia, prazos prescricionais e limitaes materiais e polticas s investigaes; e c) reparar os danos s vtimas. 34 Portanto, podemos concluir que a verdade, a justia e a reparao so os princpios basilares para que haja a efetivao da Justia Transicional. E a concretizao destes princpios faz com que nasa um quarto princpio que o da no-repetio. Marlon Alberto Weichert alerta quanto ao tema dizendo que a no responsabilizao dos crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil impede, pois, a concluso da transio democracia a ao Estado de Direito. 35 4.2 Crimes Polticos Conforme conceituao dada pelo Supremo Tribunal Federal crime poltico aquele praticado com motivao poltica (elemento subjetivo) e em face de bens jurdicos da ordem poltica (elemento objetivo). Min. Celso de Mello, em voto-vista no RE 160.841-2-SP. Rel. Seplveda Pertence, Pleno, unnime, j. 03.08.1995.36 Ou seja, o bem jurdico violado e a motivao tm que ser de natureza poltica. Para que exista o crime poltico necessrio que o crime lese ou exponha a perigo: a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrtico de direito, a Federao, o Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos Poderes da Unio. E quando o crime estiver previsto em outros textos legais para que haja crime poltico a motivao e os objetivos do agente, bem como a leso real ou potencial aos bens jurdicos tem que ser relativos a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrtico de direito, a Federao, o Estado Democrtico de Direito ou a pessoa dos chefes dos Poderes da Unio. 37 Artigo 1 e 2 da Lei de Segurana Nacional. Art. 1 - Esta Lei prev os crimes que lesam ou expem a perigo de leso: I - a integridade territorial e a soberania nacional; Il - o regime representativo e democrtico, a Federao e o Estado de Direito; Ill - a pessoa dos chefes dos Poderes da Unio. Art. 2 - Quando o fato estiver tambm previsto como crime no Cdigo Penal, no Cdigo Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-o em conta, para a aplicao desta Lei: I - a motivao e os objetivos do agente; II - a leso real ou potencial aos bens jurdicos mencionados no artigo anterior. A Lei de Segurana Nacional nos traz o conceito dos crimes polticos puros (ou prprios) que so os crimes praticados contra o Estado por motivao poltica. 38 Por sua vez, o crime poltico imprprio aquele em que est ausente o elemento objetivo (dano a um ente estatal poltico), mas presente o elemento subjetivo (motivao poltica). 39 34 35 36 37 38 39Ibidem, p. 183. Ibidem, p. 184. Ibidem, p. 213. Ibidem, p. 214-217. Ibidem, p. 214. Ibidem, p. 216.
Pgina 25
ARTIGOS CIENTFICOS
4.3 A Lei de Anistia (Lei 6.683/79) A luta pela anistia comeou com um movimento organizado por um grupo de mulheres e que acabou tomando propores grandiosas vindo a ser difundido por todo o pas. O sentimento de luta pela anistia e a presso exercida pelo povo e por toda a sociedade acabou fazendo com que os militares (titulares do poder naquele momento histrico) tomassem uma posio. Assim, em 28 de agosto de 1979 nascia a Lei de Anistia. Em um primeiro momento a conquista foi saboreada por todo o povo brasileiro com muita veemncia, pois eram vrios os brasileiros que estavam no crcere, que perderam seus direitos polticos ou ainda, que se encontravam fora do pas em razo da represso sofrida pela Ditadura. Nilmrio Miranda nos relata com muita emoo o momento em que a Lei foi sancionada: A anistia foi comemorada pelo nosso povo! Eram mais de 100 brasileiros presos, alguns deles condenados a ficar o resto de suas vidas encarcerados. A sociedade comeou a admir-los e a querer que fossem libertados. A anistia foi portanto, a grande vitria que possibilitou abrir as portas dos crceres, recuperar os direitos polticos dos cassados e dos que estavam na clandestinidade, trazendo de volta mais de 10 mil brasileiros que estavam no exterior, recebidos de forma festiva. Foi realmente um dos momentos mais belos das pginas de lutas do povo brasileiro. Na poca, o pas inteiro acreditou que aquele movimento era possvel: uma vitria arrancada da ditadura. 40 Mas apesar de toda essa euforia no se atentou, com mincias, o que estava descrito na lei que agora se encontrava no ordenamento jurdico brasileiro. Os militares aproveitaram o momento para anistiar todas as pessoas indistintamente, ou seja, inclusive a eles mesmos. Com isso as injustias cometidas em tempo de Ditadura se perpetuaram... (...) ali no se percebeu o mal que apenas se verificaria com o passar do tempo. Injustias que ficaram para trs como, por exemplo, a impunidade dos crimes cometidos contra os mortos e desaparecidos. Tambm a no punio dos torturadores e assassinos foi definitiva para a perpetuao da impunidade que hoje tanto nos atormenta face iniquidade. 41 Em que pese a situao em epigrafe, hoje, existem vrios movimentos querendo mudar este quadro de vergonha para o Brasil. Tanto as organizaes de direitos humanos, quanto a comunidade internacional querem uma resposta do pas quanto ao tema. Assim, por iniciativa da OAB foi instaurada Ao Direta de Preceito Fundamental (ADPF153), que questiona entre outros temas, a anistia daqueles que praticaram atos de tortura durante o regime militar. 4.4 Da (in) constitucionalidade do artigo 1o, 1o da Lei 6.683/79 A Lei de Anistia em seu artigo 1, 1 tem a seguinte redao: Artigo 1 - concedida anistia a todos quantos, no perodo compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes polticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos polticos suspensos e aos servidores da Administrao Direta e Indireta, de Fundaes vinculadas ao Poder 40 MIRANDA, Nilmrio. A Lei da Anistia. Disponvel em: . Acesso em 10.04.2009. 41 Ibidem.Pgina 26
ARTIGOS CIENTFICOS
Pblico, aos servidores dos Poderes Legislativo e Judicirio, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 1 - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes polticos ou praticados por motivao poltica. O Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ADPF42 para definir qual o conceito jurdico e interpretao correta aplicada ao artigo 1, 1 da Lei de Anistia, ou seja, determinar qual o conceito correto de crimes polticos e crimes conexos pertinentes a Lei em contento. Segundo precedentes do STF a tendncia que seja utilizada a teoria mista para a definio do crime poltico conexo, artigo 1, 1 da Lei de Anistia, pois a definio para o crime poltico puro estaria no artigo 1 da Lei (STF, HC 73.451, rel. Min. Mauricio Correa, Dj 06/06/1997; STF, Rc 1468. Rel. Mauricio Correa, Dj 16/08/2000; voto Min. Marco Aurlio no RE 160841, Dj 22/09/1995). Para que os crimes polticos imprprios fossem anistiados estes deveriam ser conexos a um crime poltico prprio (puro). Um dos objetivos do 1 do art. 1 da Lei foi, dessarte, excluir da anistia os casos de mera conexo comprobatria. Ademais, a expressa referncia a crimes praticados com motivao poltica conexos a crimes polticos teve o condo de deixar claro que a anistia tambm se aplicava aos crimes polticos mistos ou relativos, se e quando conexos a um crime poltico puro. (...) Assim, o preceito do referido pargrafo ao art. 1 da Lei 6.683/79 teve carter restritivo, na medida em que (1) afastou a anistia nas hipteses de mera conexo probatria e (2) esclareceu que apenas os crimes polticos puros foram autonomamente anistiados, prevalecendo o beneficio aos delitos com motivao poltica to somente quando fossem crimes conexos queles. (...) em sntese, pode-se concluir que a anistia foi concedida efetivamente para: a) crimes polticos em sentido estrito, ou seja, crimes praticados contra bens do Estado, por motivao poltica; b) crimes eleitorais; e c) crimes materialmente conexos aos crimes polticos, inclusive os crimes polticos imprprios ou mistos, que consistem nos crimes praticados com motivao poltica contra bens jurdicos da sociedade ou do cidado. No foram, destarte, abrangidos pela anistia os (a) crimes polticos imprprios que no sejam conexos a crimes polticos puros e (b) os crimes apenas processualmente conexos com os crimes polticos. 43 Marlon Alberto Weichert nos ensina que para que haja o crime poltico necessrio que se atinja bens jurdicos relativos a organizao poltica do Estado: (...) os crimes praticados pelos agentes estatais na represso dissidncia poltica no visavam atingir o Estado. Ao contrario, objetivavam proteg-lo contra os que o pretendiam atingir. Assim, suas condutas no preenchem o requisito objetivo qualificador do crime poltico, ou seja, no provocavam danos a bens jurdicos da organizao poltica do Estado. 44 Deste modo, podemos concluir que os crimes dos agentes estatais no so crimes praticados com motivao poltica e por isso no teriam sido anistiados pela Lei da Anistia. 42 43 44Ao Direta de Preceito Fundamental n. 153. WEICHERT, op. cit., p. 218/219. Ibidem, p. 214.
Pgina 27
ARTIGOS CIENTFICOS
5 CONCLUSO Pelo que foi redigido neste trabalho, podemos concluir que a discusso sobre a Lei de Anistia e seus efeitos de suma importncia, pois quando essa Lei foi criada visava a anistia a quem lutava contra a ditadura e no a impunidade de quem detinha o poder naquela poca pelos crimes cometidos. Deste modo, no possvel admitir que a interpretao desta lei seja no sentido da impunidade e muito menos ter o condo de socorrer e no condenar as autoridades Estatais que cometeram atrocidades no perodo supracitado. Sendo assim, se o Brasil no investigar esses crimes e punir seus algozes sofrer sanes (ser responsabilizado). Porquanto se a lei interna no se encarregar em estabelecer sanes quanto a esses fatos, certamente a comunidade internacional far, pois o Brasil se comprometeu perante a sociedade internacional a cumprir a Conveno Americana de Direitos Humanos. Ou seja, se o pas violar as regras que prometeu cumprir ter que responder por suas atitudes. Ressalta-se ainda, que o Estado brasileiro agindo desta forma estar tendo uma postura favorvel a impunidade, postura essa totalmente reprovvel pelo ordenamento jurdico internacional que impe o dever dos Estados de investigar e processar os autores desse tipo de crime. Crimes estes que na sua essncia so crimes contra os direitos humanos e a humanidade. REFERNCIAS _______, ADPF 153. Parecer da OAB. Disponvel em: < http://www.stf.jus.br/portal/processo/ verProcessoAndamento.asp?numero=153&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em 02 de abril de 2009. _______, Estatuto da Corte Internacional de Justia, de 24 de outubro de 1945. Disponvel.em:.. Acesso em 29 de maro de 2009. _______, Pacto de So Jos da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969 (ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992). Disponvel em: < http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose. htm>. Acesso em 27 de maro de 2009. AMARAL, Renata Campetti. Direito internacional: pblico e privado 4 edio. Porto Alegre: Verbo Jurdico, 2008. BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988..Disponvel.em:.. Acesso em 24 de maro de 2009 BRASIL. Decreto n. 4.463, de 08 de novembro de 2002. Disponvel em: . Acesso em 24 de maro de 2009. BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direito memria e verdade: comisso especial sobre mortos e desaparecidos polticos. Braslia: Secretaria Especial de Direitos humanos, 2007 BRASIL. Lei n. 6.683, de 28 de agosto de 1979. Disponvel em: . Acesso em 24 de maro de 2009. BRASIL. Lei n. 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Disponvel em: . Acesso em 24 de maro de 2009. BRASIL. Lei n. 9.140, de 04 de dezembro de 1995. Disponvel em: . Acesso em 24 de maro de 2009. BASTOS, Lucia Elena Arantes Ferreira. As leis de anistia face o direito internacional. O caso brasileiro. Tese (Doutorado em Direito). Universidade de So Paulo, So Paulo, 2007.
Pgina 28
ARTIGOS CIENTFICOS
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. So Paulo: Ed. Moderna, 1998. LUO, Antnio Enrique Peres. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitution. 4a. ed. Madrid: Tecnos, 1991. MIRANDA, Nilmrio. A Lei de Anistia. Disponvel em: . Acesso em 09 de abril de 2009. MAZZUOLI, Valrio de Oliveira. Direito internacional pblico: parte geral. 4 ed. rev., atual. e ampl. So Paulo: Editora Revista dos Tribunais: 2008. RAMOS, Andr. Processo internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. RAMOS, Andr. Processo internacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. REZEK, Jos Francisco. Direito internacional pblico: curso elementar. So Paulo: Saraiva: 1998. WEICHERT, Marlon Alberto. Crimes contra a humanidade perpetrados no Brasil. Lei de anistia e prescrio penal. Revista Brasileira de Cincias Criminais, So Paulo, 2008, n. 74, setembro outubro de 2008 ano 16.
Pgina 29
ARTIGOS CIENTFICOS
A PROTEO DO DIREITO DE CRDITO ATRAVS DA RELEITURA DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA ALIMENTAR DO DEVEDOR
TATIANE GONALVES MIRANDA GOLDHAR1
RESUMO: O presente artigo tem por objeto a anlise da impenhorabilidade do bem de famlia e da verba alimentar, do ponto de vista material e processual, insculpida na Lei do Bem de Famlia e no Cdigo de Processo Civil, buscando estabelecer uma ponderao e mitigao dessa regra em favor do direito fundamental de crdito, para reequilibrar a relao jurdica processual e concretizar o direito satisfao da dvida pertencente ao credor. PALAVRAS-CHAVE: crdito; dbito; impenhorabilidade, verba alimentar, constrio. ABSTRACT: The objective of the present article is to analyze the unseizability of familys patrimony and the wages nature, from the produrals and materials point of view, established in the Familys Good Law and in the Civil Procedural Code, aiming to set up a reflection and mitigation of this rule or principle in favor of the credit fundamental right to rebalance procedural legal relationship and realize the right to satisfaction of the creditors debt. KEY WORDS: credit; debit; unseizability; wage protection; constriction. SUMRIO: 01. Introduo; 02. O direito do credor e a busca do crdito; 03. O direito do devedor e a proteo do patrimnio mnimo de acordo com a lei do bem de famlia; 04. O processo executivo e os meios de satisfao da dvida; 05. A proteo do direito de crdito e a impenhorabilidade da verba alimentar do devedor: uma releitura do art. 649, inciso IV do CPC; 06. Concluso. Referncias.
1
Mestre em Direito Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Processo Civil. Coordenadora da Escola Superior da Advocacia em Sergipe. Advogada e Professora Universitria dos cursos de Graduao e Ps-Graduao da Estcio-FASE e da FANESE. Pgina 30
ARTIGOS CIENTFICOS
01. INTRODUO. A prtica da advocacia, em defesa dos direitos creditcios, em processos de execuo ora de ttulos judiciais ora de ttulos extrajudiciais, tem nos revelado enormes dificuldades para satisfao do crdito no desenvolvimento do processo executivo. A eficcia da proteo do direito de crdito tem sido comprometida e tolhida diante das previses legais de proteo do patrimnio do devedor, mormente quando, no atual sistema jurdico, generosa parcela do patrimnio do devedor est imune atividade executiva, porquanto ostenta a natureza de bem de famlia ou verba alimentar. A temtica escolhida convida o leitor a analisar a relao de direito material existente entre o credor e devedor e os princpios que norteiam essa relao, e principalmente a relao processual entre exequente e executado e os meios atualmente disponveis para a busca e satisfao do crdito exeqendo, tudo isso considerando as regras que protegem o patrimnio do devedor, como o exemplo do art. 649 do Cdigo de Processo Civil que trata dos bens que so protegidos pela nota da impenhorabilidade. Prope-se uma releitura do art. 649 do Cdigo de Processo Civil, mormente do inciso IV, sob a tica do direito fundamental proteo do crdito como uma forma de reavaliar a regra da impenhorabilidade da verba alimentar, preservando o mnimo vital do devedor para permitir maiores possibilidades de satisfao do crdito exeqendo. 02. O DIREITO DO CREDOR E A BUSCA DO CRDITO. Historicamente, relembra-nos Caio Mrio da Silva Pereira2 que o credor quando no obtinha o cumprimento da obrigao devida pelo devedor exigia o pagamento, em carter punitivo, com o prprio corpo do devedor, atravs de sua escravido ou, em casos mais extremos, com a morte do devedor. A relao obrigacional, durante sculos, foi marcada pela pessoalidade em funo do devedor responder com sua prpria vida/corpo pelo adimplemento da prestao. Era algo to natural da sociedade da antiguidade que muitos se tornavam eternos escravos de seus credores por no conseguirem solver o dbito. Essa realidade era prevista na Lei das XII Tbuas, em 450 A.C. e no Cdigo de Hamurabi, por volta de 1.728 e 1.686 A.C. Somente com a Lex Poetelia Papira de 428 A.C. a relao obrigacional deu os primeiros passos rumo impessoalidade, isto , passou-se a inadmitir a vida ou o corpo do devedor como forma de punio pelo inadimplemento da dvida, de modo que o Corpus Jris Civili em torno de 326 D.C. reforou essa mudana, somente consolidada e abolida definitivamente pelo Cdigo Napolenico de 1804, na Frana.3 A despeito de a lei ter proclamado a extino da escravido ou da morte do devedor como forma de resolver o inadimplemento, ainda havia muitas situaes que eram resolvidas nos moldes arcaicos, como 2 3PEREIRA, Caio Mrio da Silva. Instituies de Direito Civil. Atualizador: Luiz Roldo de Freitas Gomes. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.10 CHAVES, Cristiano de Farias; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigaes. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2010, p. 23-24.
Pgina 31
ARTIGOS CIENTFICOS
at hoje se verifica casos de morte por dvidas, sobretudo nas relaes de emprstimo particular onde se pratica de agiotagem aplicao de juros em patamares superiores ao permissivo legal-, situaes que conduzem aos extremos de prtica de justia privada, tais como subjugao, ameaas, restries liberdade, quando no a prpria morte do devedor, relembrando-nos a fase primitiva da histria humana. Percebe-se que o direito do credor e o poder que ele detinha na relao jurdica obrigacional sempre foi o foco da relao jurdica creditcia; era ele quase de carter absoluto e devia ser vingado de todas as maneiras possveis. O devedor sujeitava-se vontade do credor na busca da garantia de seu crdito. A relao dbito (shuld) e responsabilidade (haftung), desenvolvida pela escola pandectista alem, sob a liderana de Alois Von Brinz demonstrava muito bem essa caracterstica ao apresentar a obrigao como uma estrada de via nica em que somente o devedor tinha o nus, ou seja, o dbito na origem e a responsabilidade no conseqente, arcando assim com o peso da satisfao da dvida perante o credor, cuja posio jurdica material era passiva e bastante confortvel, no se cogitando qualquer postura sua que pudesse comprometer o desenvolvimento da relao. Hoje, muito desenvolvido o conceito de mora accipiendi e bastante analisada a participao do credor no desenvolvimento da relao obrigacional e no adimplemento da obrigao. No resta dvida, portanto, que o credor inicialmente ostentou uma postura vantajosa e absoluta na relao obrigacional, porquanto a lei lhe garantia todos os meios de buscar a dvida com os consectrios da mora e encargos contratuais e legais que compensassem os efeitos deletrios do inadimplemento. Hodiernamente, inconcebvel admitir qualquer ato de justia privada que almeje resolver a dvida nos moldes da pessoalidade, sobretudo ante a ontologia da Declarao Universal dos Direitos do Homem e do Pacto So Jos da Costa Rica, com fora de norma constitucional no Brasil, entre outros diplomas internacionais garantidores dos direitos fundamentais do homem.Declarao Universal dos Diretos dos Homens: Artigo 3: Todo o homem tem direito vida, liberdade e segurana pessoal. Artigo 4: Ningum ser mantido em escravido ou servido; a escravido e o trfico de escravos esto proibidos em todas as suas formas. Artigo 5: Ningum ser submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pacto So Jos da Costa Rica: Artigo 3 - Direito ao reconhecimento da personalidade jurdica Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurdica. Artigo 4 - Direito vida: Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepo. Ningum pode ser privado da vida arbitrariamente. (...) Artigo 5 - Direito integridade pessoal 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade fsica, psquica e moral. 2. Ningum deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido dignidade inerente ao ser humano.
Tambm cumpre esse mister a Constituio Federal de 1988, arts. 1 e 5 e o Cdigo Civil de 2002,Pgina 32
ARTIGOS CIENTFICOS
art. 11 e ss. quando anunciam a proeminncia da dignidade da pessoa humana, ncleo axiolgico do sistema jurdico brasileiro e o reconhecimento dos direitos da personalidade, princpios e direitos fundamentais que protegem a pessoa humana de qualquer ato degradante, humilhante, enfim, que possa comprometer a sua integridade fsica, psquica e espiritual. Nessa ordem de idias, o direito satisfao da dvida, obviamente, no pode mais se pautar em meios ilcitos e comprometedores da dignidade da pessoa humana para buscar o resultado almejado, devendo o credor adotar as alternativas processuais disponveis, constrangendo o patrimnio do devedor e no a sua pessoa, famlia ou moradia para pagamento da dvida. E no poderia ser diferente. o patrimnio do devedor, conforme expressam os arts. 391 do Cdigo Civil (pelo inadimplemento das obrigaes respondem todos os bens do devedor) e 591 do Cdigo de Processo Civil (o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigaes, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restries estabelecidas em lei), que dever servir para a satisfao voluntria ou coercitiva da dvida, atravs do Poder Judicirio e dos instrumentos existentes no processo para realizao da pretenso executiva. O art. 389 do Cdigo Civil tem a eficcia limitada pelo art. 649 do CPC que trata da impenhorabilidade de alguns bens e sua extenso delimitada pelo princpio da menor onerosidade do procedimento executivo, como confirma o art. 620 do CPC, questes enfrentadas doravante.
03. O DIREITO DO DEVEDOR E A PROTEO DO PATRIMNIO MNIMO DE ACORDO COM A LEI DO BEM DE FAMLIA. O devedor, em virtude de sua histrica posio frgil e vulnervel na relao obrigacional, especialmente quando analisada as crueldades j experimentadas, goza atualmente de grande proteo da lei e da jurisprudncia no que se refere s possibilidades de submisso de seu patrimnio no processo de pagamento da dvida. o princpio da dignidade da pessoa humana (art. 1, III e 5, da Constituio Federal de 1988) que respalda esse arcabouo legal visando a proteo do patrimnio do devedor contra os atos expropriatrios e demais meios de cobrana que possam resultar em sua ofensa, humilhao, ou ainda, destituio total dos bens. Nesse aspecto, poderoso instrumento de defesa a Lei do Bem de Famlia (Lei n. 8.009/1990), que relaciona os bens impassveis de expropriao, tais como o bem imvel que serve residncia familiar4, todos os mveis quitados que guarnecem a residncia, plantas, benfeitorias de qualquer natureza, equipamentos de uso profissional, ressalvando-se somente os veculos de transporte, obras de arte e adornos suntuoso, na dico dos arts. 1 e 2. 4 Lembre-se que na atual conjuntura do direito de famlia, deve-se conceber a famlia como uma entidade, conceito amplo e aberto quecontempla todas as formas de ncleo anmico que se forma pelos laos de vivncia e ajudas mtuas, tal como esclarece a smula 364 do STJ o conceito de impenhorabilidade de bem de famlia abrange tambm o imvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e vivas. Sobre o assunto ver LOBO, Paulo Luis Netto. Famlias. So Paulo: Saraiva, 2008.
Pgina 33
ARTIGOS CIENTFICOS
Passemos a analisar alguns pontos da Lei do Bem de Famlia. A simples leitura do texto legal j anuncia que o credor no poder constranger quase nada da esfera patrimonial do devedor. A prpria residncia s se sujeita penhora e expropriao nos casos ressalvados em lei, tais como para pagamento de dvidas de natureza propter rem, como a taxa condominial ou de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ou Imposto Territorial Rural (ITR), na linha do art. 1.715 do Cdigo Civil5. Ademais, a casa do indivduo patrimnio inviolvel, segundo o art. 5, inciso XI da Carta Magna, por constituir o abrigo que permite a sobrevivncia digna da pessoa humana e do ncleo familiar. Louvvel a redao legal do ponto de vista axiolgico no encontrando, todavia, fundamento jurdico plausvel a ressalva prevista no que pertine expropriao para pagamento das dvidas resultantes do prprio bem, haja vista que no pelo fato de a dvida decorrer do prprio bem, seja da aquisio ou de sua manuteno, que autoriza o credor a expropri-la, deixando o devedor mngua, num pas onde amide a moradia passa a ser item de luxo e direito de poucos. Se o ordenamento protege o direito moradia, elevando-o ao patamar de direito fundamental da pessoa humana, consagrado pelo Estado Democrtico de Direito, ainda que no seja absoluto, incoerente, do ponto de vista ontolgico e tico, permitir que possa ser expropriado para satisfao de dvida de imposto ou de natureza condominial, dado o abalo que isso causaria dignidade da pessoa humana e ante as possibilidades existentes para a satisfao a dvida. De mais a mais, a proteo da moradia, de sede constitucional, nada mais objetiva do que resguardar os seus habitantes e a dignidade de cada um deles ou da prpria entidade familiar. No dizer de Chaves e Rosenvald, o bem de famlia, com isso, h de estar vocacionado tutela jurdica dessa famlia instrumental, protegendo a pessoa humana que compe o ncleo familiar e a sua necessria dignidade.6 Paulo Lbo7, em sua vanguardista leitura das regras e princpios civis, apregoa que:A solidariedade do ncleo familiar compreende a solidariedade recproca dos conjugues e companheiros, principalmente quanto assistncia moral e material. O lar por excelncia um lugar de colaborao, de cooperao, de assistncia, de cuidado; em uma palavra, de solidariedade civil.
Poucos argumentos justificam ontologicamente essa exceo dentro do sistema jurdico, a qual se respalda unicamente no fato de o bem servir para saldar a dvida relacionada sua prpria existncia ou aquisio. O Superior Tribunal de Justia, no Resp. n. 873.224/RS, da relatoria do Ministro Luis Fux, tentou justificar a ressalva. Entende o Julgador, ento Ministro da Corte Superior de Justia que a quota-parte, no caso da relao condominial no se reveste de natureza fiscal, mas serve sobrevivncia da coletividade de modo a justificar a sujeio do bem ao pagamento das dvidas dessa natureza. 5 6 7Art. 1.715. O bem de famlia isento de execuo por dvidas posteriores sua instituio, salvo as que provierem de tributos relativos ao prdio, ou de despesas de condomnio.CHAVES, Cristiano e ROSENVALD, Nelson. Direto das Famlias. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumem Iuris, 2011, p. 850. LBO, Paulo Luiz Netto. Princpio da solidariedade familiar. Direito das Famlias e Sucesses out/Nov/2007, p. 152.
Pgina 34
ARTIGOS CIENTFICOS
O fato de a quota-parte da taxa condominial servir sobrevivncia da coletividade no autoriza por si s a mitigao do direito moradia do devedor, j que h outros de pagamento das dvidas e instrumentos que sejam mais eficazes do que sujeitar a habitao expropriao. Indo alm, alm do imvel residencial, a lei tambm protege todos os mveis (inciso II) que guarnecem a residncia, excluindo somente os adornos suntuosos, obras de arte e veculos de transportes. Eis onde reside o problema j que tudo aquilo que guarnecer a casa (sofs, centro, televises, armrios, aparadores, mesas de jantar, aparelhos eltricos, tapetes, quadros, lustres, geladeira, fogo, exaustor, estantes, computadores, etc), ser considerado a priori impenhorvel, tornando acanhadas as possibilidades de satisfao do crdito. A presuno, portanto, de impenhorabilidade dos bens mveis por formar o conceito de bem de famlia e viabilizar a comodidade da instituio familiar. A despeito de algumas decises judiciais, inclusive da Corte Superior8, afirmarem que fogo, geladeira, ar condicionado so bens impenhorveis, dentre outros utenslios domsticos, dado o bem-estar que trazem aos donos e habitantes do lar, coube a mesma jurisprudncia e doutrina obtemperar o texto da lei, permitindo a penhora e expropriao de bens que, embora guarneam a residncia e sejam teis vida moderna,