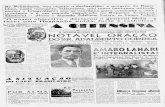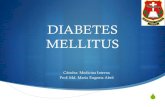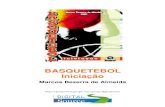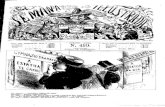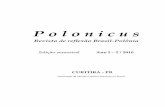formando_redes2.pdf
-
Upload
anabelabarreira -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of formando_redes2.pdf

INTERGERACIONALIDADE, REDES DE APOIO E PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO IDOSO DO SÉC. XXI
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

FICHATÉCNICA
2
INTERGERACIONALIDADE,REDES DE APOIO E PRESTAÇÃO DECUIDADOS AO IDOSO DO SÉC. XXI
ENTIDADE PROMOTORASanta Casa da Misericórdia de Mértola
EQUIPA TÉCNICASanta Casa da Misericórdia de MértolaIFH - Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano
APOIO TÉCNICO DOCUMENTALAssociação Indiveri Colucci / Clínica Médica da Linha // Casa de Repouso de Paço d’Arcos Paradoxo Humano
AUTORIACristina Coelho
GESTÃO E COORDENAÇÃOEmília Colaço (Santa Casa da Misericórdia de Mértola)José Silva e Sousa e Cláudia Miguel (IFH)
CONSULTORESCristina CoelhoMarta SimõesAna Assunção
DESIGN, PRODUÇÃO GRÁFICA, PAGINAÇÃO E REVISÃOIFH / PSSdesigners
PRODUÇÃO VÍDEOIFH - Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano
EDIÇÃOIFH - Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano
MANUAIS TÉCNICOS “CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDA-DOS: INTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E OMEIO SOCIAL DO IDOSO”
CONCEPÇÃOCristina Coelho
REVISÃO E SUPERVISÃO DE CONTEÚDOSMarta SimõesSanta Casa da Misericórdia de MértolaIFH - Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano
DESIGN, PRODUÇÃO GRÁFICA, PAGINAÇÃO E REVISÃOIFH / PSSdesigners
FICHA TÉCNICA
Produção apoiada pelo Programa Operacional de Emprego, Formação eDesenvolvimento Social (POEFDS)
Medida: 4.2. Desenvolvimento e Modernização das Estruturas e Serviçosde Apoio ao Emprego.
Tipologia do Projecto: 4.2.2. Desenvolvimento de Estudos e RecursosDidácticos.
Acção Tipo:4.2.2.2. Recursos Didácticos.
Co-financiado pelo Estado Português e pela União Europeia através doFundo Social Europeu

3
Nos países tidos como mais desenvolvidos assistimos, presentemente, a um fenómeno curioso: o envelhe-cimento da população idosa.
Como consequência, o sector da prestação de cuidados a idosos sofreu um incremento de actividade, mul-tiplicando-se os serviços disponibilizados e diversificando-se o tipo de oferta dos mesmos.
A nível nacional é importante apostar no desenvolvimento de redes sociais de apoio, eficazes e eficientes,em contexto institucional e a nível familiar.
Para que tal se verifique, é através da formação qualificada que se poderão dotar os seus intervenientes,profissionais ou cuidadores, das competências necessárias para lidar com as problemáticas inerentes aoaumento da esperança média de vida e à crescente dependência dos nossos idosos, potenciando e facilitan-do o envolvimento dos familiares na tarefa.
Neste sentido, e tendo já uma vasta experiência neste ramo de actividade, não só em termos formativoscomo também na intervenção diária em estruturas de prestação de cuidados, a Santa Casa da Misericórdiade Mértola propôs-se desenvolver o projecto “INTERGERACIONALIDADE, REDES DE APOIO EPRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO IDOSO DO SÉC. XXI”, constituído por manuais técnicos do formador edo formando e vídeos sobre a mesma temática a utilizar de forma integrada.
Temas:
• A alimentação do idoso• Cuidar do idoso com demência• Animação intergeracional• Construção de uma rede de cuidados: Intervenção com a família e o meio social do idoso
Pretende-se, como tal, colmatar, as dificuldades que os cuidadores, profissionais de saúde ou familiares, sen-tem diariamente, potenciando, em última consequência, o atraso da institucionalização dos idosos e con-tribuindo para o aumento da sua qualidade de vida.
PREFÁCIO

6. CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DECUIDADOSObjectivos geraisConstruir uma rede de cuidados - perspectiva do cuidador informalConstruir uma rede de cuidados- perspectiva organizacionalSínteseActividades propostasActividades de avaliação
SOLUÇÕES DAS ACTIVIDADES
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ANEXO 1. TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
ANEXO 2. DIAPOSITIVOS
ANEXO 3. OUTRA INFORMAÇÃO ÚTILÍndice de quadros e figurasBibliografia aconselhadaOutros auxiliares didácticos complementaresContactos úteisAgradecimentos
PÁG. 55
PÁG. 65
PÁG. 71
PÁG. 73
PÁG. 85
PÁG. 91
ÍNDICE
4
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
1. ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIOAO IDOSOObjectivos geraisA velhice e o envelhecimentoA sociedade e os idosos:principais alteraçõesCaracterísticas da sociedade portuguesaA família e o idosoSínteseActividades propostasActividades de avaliação
2. O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E APERDAObjectivos geraisEnvelhecimento normal, patológico e bemsucedidoA importância da auto-estima e auto-imagemdo idosoPassagem pelo processo de luto e perdaSínteseActividades propostasActividades de avaliação
3. MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTODE REDES DE APOIOObjectivos geraisO apoio informalO recurso ao apoio formalRedes de apoio: relação entre formal e informalSínteseActividades propostasActividades de avaliação
4. AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AOIDOSOObjectivos geraisCaracterísticas gerais e modalidades deapoioFunções ligadas à prestação de cuidados aoidosoAcções de apoio ao idosoSínteseActividades propostasActividades de avaliação
5. QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DOIDOSOObjectivos geraisQualidade de vida séniorPromoção da qualidade de vida no idosoOs direitos do idosoSínteseActividades propostasActividades de avaliação
PÁG. 5
PÁG. 7
PÁG. 15
PÁG. 27
PÁG. 35
PÁG. 47

5
A população mundial está envelhecida. Com idades cada vez mais avançadas, os idosos necessitam decuidados à medida das limitações características da terceira e quarta idades. A sua qualidade de vidadepende da conservação de um sentido para a mesma, do seu envolvimento com a comunidade e do inves-timento no envelhecimento activo, retardando a perda da sua autonomia e independência e a eventual insti-tucionalização. Cabe aos seus familiares e amigos, a chamada rede de apoio informal, criar as condiçõespara que este se mantenha no seu meio pelo maior tempo possível, conjugando esforços e recorrendo aosapoios formais existentes para este fim.
Começando por focar a evolução dos factores económicos e sociais que estão na base da necessidade deredes de cuidados, contextualiza-se o seu desenvolvimento, relacionando-o com as alterações que ocorremno individuo idoso e com as diferentes formas de organização familiar. De seguida, é analisada a diversidadede oferta, a nível de serviços, valências e programas de apoio existentes, caracterizando as várias vertentese explorando as possibilidades de conjugação de cuidados informais com a ajuda prestada pelos profissio-nais neles englobados.
Embora seja feita uma abordagem transversal a todo o manual, a qualidade de vida e direitos do idoso sãoexplorados no penúltimo capítulo, finalizando-se com um conjunto de linhas orientadoras para a construçãode uma rede de cuidados, numa perspectiva informal ou organizacional.
Com estrutura modular e acessível, permite uma aprendizagem progressiva, com a aquisição e incorporaçãodos conhecimentos, teóricos e práticos, guiada para a aplicação em contextos reais, facilitando a transferên-cia para a intervenção com redes de cuidados. Destina-se a técnicos da área da saúde, voluntários, pessoalnão especializado e aos cuidadores informais, podendo ser utilizado em contexto formativo, em intervençõespontuais de reciclagem profissional ou auto-formação, ou em acções dirigidas a familiares ou à comunidadeem geral, em que são permitidos vários níveis de exploração.
Sugere-se a utilização articulada com o videograma correspondente, bem como, quando em contexto forma-tivo, do manual do formador do mesmo tema.
INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO

6

1
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO
1ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIO AO IDOSO

1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
8
OBJECTIVOS GERAIS
• Definir envelhecimento e explicar as diferençasindividuais neste processo;
• Descrever a evolução do conceito social de idoso;
• Identificar os factores facilitadores do desenvolvi-mento de redes de apoio informal na sociedadeportuguesa;
• Indicar as alterações de estatuto e papel do idosona família, realçando a importância da actuaçãoda rede social de apoio.
A VELHICE E O ENVELHECIMENTO
O envelhecimento pode ser estudado de diferentesperspectivas. Na mais comum, em termos biológi-cos, define-se como o processo de deterioraçãoendógena e irreversível das capacidades fun-cionais do organismo e, por enquanto, é inevitável.Os orgãos vão perdendo as suas capacidades deforma diferente: os tecidos elásticos (do aparelhocirculatório, respiratório ou a pele) deterioram-semais rapidamente que os tecidos nervosos, porexemplo. A evolução dita “normal” pode ser acele-rada por factores como o stress, traumatismos oudoenças, passando a designar-se por envelheci-mento secundário ou patológico (Sousa, 2004).
Definir o envelhecimento não é tarefa fácil. Bond eColeman (1994) referem três termos para cadauma das vertentes de abordagem: senescênciapara a biológica, eldering para a social e gerontingpara a psicológica. A primeira explica o processocomo forma de aumentar a probabilidade de morrercom a idade, a segunda como a aquisição depapéis e comportamentos sociais apropriados agrupos mais velhos e a terceira como a auto-regu-lação exercida pelo próprio ao longo da sua vida.
Mesmo sendo inerente à espécie, as particulari-dades pessoais do envelhecimento tornam-no indi-vidual. De acordo com a teoria de Baltes, um dosestudiosos deste tema (citado por Fontaine, 2000),existem três grandes categorias de factores que oinfluenciam:
• Ligados ao grupo etário - a idade cronológica (fac-tores biológicos) e os acontecimentos de vida deladependentes (a escolarização, a reforma, o serviçomilitar obrigatório ou as fases de maturação e desenescência biofisiológica) são determinantes eminimamente previsíveis, reflectindo a acção domeio que é comum a todos os indivíduos e não con-trolável por ele;
• Ligados ao período histórico - a vivência de guer-ras, a obrigatoriedade e o tipo de ensino, ou as re-voluções num país, condicionam também esteprocesso, mesmo que independentes dele. É ochamado “efeito de coorte”;
• Ligados à história pessoal ou não normativos- asdecisões individuais (o casamento, constituição defamília, tipo de profissão ou emprego, local deresidência), ou os acontecimentos inesperados dasua vida (a viuvez, o desemprego, a solidão, aperda de filhos) são específicos e únicos a cadaindivíduo.
ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIO AO IDOSO

9
1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
Da interacção dos factores colectivos (de grupoetário e período histórico) e individuais (história pes-soal), surge um quadro de envelhecimento parti-cular, ajustado de acordo com a vivência pessoal. Aforça que cada grupo de factores exerce varia aolongo da vida: na infância e velhice dominam asinfluências do grupo etário, as históricas atingem oseu auge durante a adolescência e juventude, e asnão normativas têm carácter progressivo.
É frequente a afinidade entre indivíduos da mesmafaixa etária, com origens semelhantes. Encontram--se facilmente, nos bairros mais antigos das velhascidades, comunidades organizadas de pessoas oriundas da mesma zona geográfica, que evoluemcom as ramificações familiares, perdas e aquisiçõesde pessoas, meios e organizações. O seu carácterdinâmico leva a um estreitamento de laços e con-sequente formação de pequenos núcleos. Com umcontexto vivencial semelhante, está facilitada aosénior a partilha de projectos e actividades, angústiase receios, obtendo e concedendo apoio aos seuspares. A articulação destes grupos com asociedade, o seu nível interventivo e as exigênciasrealizadas vão determinar as respostas dosrestantes grupos.
A SOCIEDADE E OS IDOSOS: PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
É comum ouvir que o estatuto do idoso nasociedade se alterou significativamente nos últimosanos, estando conotado de forma negativa, sendo oseu papel descurado e desvalorizado. Mas o quesignificam exactamente estes dois conceitos?
ESTATUTO SOCIALÉ a posição relativa em dimensões de comparaçãovalorizadas tais como a profissão, nível de educaçãoou riqueza.
As comparações sociais vão traduzir-se numa hie-rarquia que pode ser de indivíduos no mesmo grupo(por exemplo, a família), ou dos vários grupos nasociedade (os jovens e os idosos, a população acti-va profissionalmente e a inactiva). Quando se falado estatuto do idoso, refere-se uma posiçãohierárquica que este ocupa no meio em que semovimenta. Se esta for elevada, a sua identidadesocial é positiva e tida como modelo.
PAPEL SOCIALÉ o conjunto de normas, direitos e deveres relativosa uma pessoa ou grupo, de acordo com o estatutoque ocupa, que vão determinar a sua acção.
É esperado que a pessoa (ou grupo) se comportede determinada forma, assegurando funçõesespecíficas. A uma alteração de estatuto poderácorresponder uma modificação considerável nopapel que a pessoa desempenha para as redessociais em que se movimenta.
Vejamos agora alguns dados sobre o idoso. Emprimeiro lugar, convém referir que só agora é vulgarviver tanto tempo: a esperança média de vida em1941 era de 47,3 anos para os homens e 51 anospara as mulheres e em 1988 era de 71,1 e 78,8anos, respectivamente (Pimentel, 2005). A tendên-cia do século passado tende a prolongar-se, esti-mando-se os valores para 2020 de 73,3 anos paraos homens e 80,1 anos para as mulheres.
Uma vez que a terceira e quarta idades correspon-dem a cerca de um quarto da vida de uma pessoa,pensar nesse período como passivo socialmente édesvalorizar o potencial sénior. O seu estatutodepende do tipo de valores sociais de uma comu-nidade: maior tradicionalismo e conservadorismoirão apreciar o conhecimento e a experiência,enquanto que o culto da juventude, beleza, vitali-dade ou materialismo apontará para uma visão deincapacidade e para a rejeição, mesmo sabendo-seque a sabedoria se desenvolve com o envelheci-mento (Parente e Wagner, 2006). É fácil o paralelis-mo com Oriente e Ocidente.

1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
10
ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIO AO IDOSO
Numa perspectiva histórica, até ao séc. XVIII, a ve-lhice era excepcional, breve e auto-determinada. Oidoso avaliava a sua capacidade de continuar agerir o património familiar, “retirando-se” quandoachasse que este estava melhor entregue àdescendência. As relações intergeracionais eramasseguradas por este pacto social e os filhosassumiam desta forma o dever de cuidar dos maisvelhos. Nos casos em que não houvesse lugar àtransmissão de bens, os idosos trabalhavam até àexaustão ou invalidez, ficando sós e sem sustento.Durante muito tempo, a velhice andou associada àmendicidade. Esta é a realidade europeia.
Por outro lado, com o desenvolvimento da eraindustrial, o aumento do desemprego e das dificul-dades económicas, a transformação do mercadoempresarial com a constante necessidade de actua-lização e adaptação a novos contextos, tecnologiase modos de trabalho desvalorizam o conhecimentoe experiência acumulados, encarando-se os idososcomo uma sobrecarga social e sendo-lhe imputadasresponsabilidades pela crise económica. Com estadrástica alteração, e inerente marginalização, atin-gir a terceira idade torna-se desprestigiante edesmotivador, havendo uma maior tendência à pas-sividade, aumento da dependência e, consequente-mente, das dificuldades.
O envelhecimento da população portuguesa deve--se maioritariamente à conjugação de três factores:
• O aumento da esperança média de vida: acom-panhando a tendência europeia, as medidas desaúde pública e os cuidados médicos disponíveispermitem o prolongamento da vida até mais tarde;
• A diminuição da taxa de natalidade: a evoluçãosocial, a transformação da condição feminina (traba-lhar fora de casa) e a fixação urbana levaram a queas famílias passassem a ter apenas um ou dois filhos;
• O regresso do surto imigratório dos anos 60 e 70:tendo partido jovens, regressam envelhecidos,muitas vezes permanecendo os filhos no exterior.
Os idosos passam a ser mais, em termos propor-cionais e em número absoluto. Com a sua probabi-lidade aumentada de desenvolver situações dedependência (características de idades maisavançadas), irão exercer maior pressão sobre ossistemas de apoio formal e informal a nível daprestação de cuidados. A rede familiar é mais restri-ta, com menos possibilidades de partilha de respon-sabilidades e encargos financeiros.
A nível nacional, acentua-se o desequilíbrio entrepopulação activa e contributiva e a população be-neficiária dos apoios sociais, ficando esta sobrecar-regada e colocando-se em causa pela indisponibili-dade de recursos (Teixeira, 2006). Neste cenário, énecessário agir, repensando as dificuldades dosénior, direccionando as intervenções para as evitarou solucionar, e preparando a sociedade para lidarcom esta nova realidade.
Pimentel (2005) salienta que, ao serem atribuídasmais verbas a apoios e equipamentos geriátricos, eperpetuando-se a visão de inutilidade e improdutivi-dade do idoso, negando-lhe capacidades ou a inte-gração social (por exemplo, pela execução de tare-fas familiares), estão a criar-se condições para umconflito geracional. Presentemente, atravessa-seuma fase de descrédito, em termos de finalidades eprincípios, questionados frequentemente por partedas camadas mais jovens da população que se vêmobrigadas a contribuir para algo que acreditamnunca poder usufruir. Esta é também uma dasrazões utilizada para acusar a população sénior derepresentar um peso para a sociedade (Pimentel,2005), agravada pela constatação do aumento doseu poder a nível político e decisório.
Em situação de crise económica, esta conjugaçãopoderá atingir proporções consideráveis em nadabenéficas também para quebrar este ciclo - a visãofragilizante da população geriátrica como desprovi-da de capacidades é socialmente imposta e geraum paternalismo que vem agravar a percepção queidoso e sociedade partilham quanto ao seu estatutoe papel.

11
1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE PORTUGUESA
Segundo Pimentel (2005), a sociedade portuguesamantém um equilíbrio e coesão social significativosdevido a um conjunto de mecanismos que tornamas relações sociais muito particulares, mesmoexistindo desigualdades entre regiões e grupos,geradas pela heterogeneidade da forma queassume a relação salarial e a sua acumulação comoutros rendimentos.
A forte ligação entre meios urbanos e rurais é mate-rializada na entreajuda, em trocas de bens eserviços ou em visitas regulares, afirmando-se ri-tualmente nas épocas festivas e garantindo, assim,a manutenção e reforço de laços de afectividade econdicionando de forma directa ou indirecta a for-mação de redes de solidariedade.
O orçamento familiar é muitas vezes equilibradopela subsistência da pequena agricultura. Para asfamílias trabalhadoras do meio rural, esta represen-ta uma redução da deficiência de mercado, bemcomo um aumento no rendimento, sendo este últi-mo benefício comum para as famílias de meiourbano que praticam a troca de géneros com elas(acedendo a produtos de maior qualidade por maisbaixo preço).
A aproximação afectiva, suportada por graus de pa-rentesco, vizinhança, conterraneidade amizade oupelas referidas trocas, pode facilitar em ocasiõesfuturas a integração profissional e social de indivídu-os que migrem para a cidade (a mobilidadegeográfica é condicionada por estes conhecimen-tos), bem como a prestação de cuidados na comu-nidade.
Embora o Estado tenha desenvolvido um esforçosignificativo na implementação de uma grande va-riedade de serviços de responsabilidade pública, oapoio prestado por estes fica aquém do esperadoem termos de cobertura e qualidade (José, Wall &Correia, 2002). Representando um envolvimentogeral dos cidadãos numa rede global, bem como asustentação dos serviços com critérios de acessibi-lidade objectivos e homogéneos, distingue-se poreste motivo da informalidade das redes de ajudamais tradicionais.
A FAMÍLIA E O IDOSO
Em termos profissionais, a evolução técnica e cien-tífica pode traduzir-se em contrariedades para oidoso: as reformas antecipadas e os despedimentossobrepõem-se frequentemente às políticas dereconversão e actualização de funcionários porimplicarem menor investimento das empresas. Asaída do mercado de trabalho fica marcada negati-vamente, e o reformado sente que o seu contributodeixa de ser válido e necessário, reforçando-se oestigma social.
Este “progresso” pode também provocar danos anível familiar quando a pessoa sénior acredita queos saberes tradicionais que pode transmitir às gerações mais jovens estão ultrapassados e obso-letos por já não se coadunarem com a realidade,havendo um desinvestimento da sua parte, com oconsequente afastamento mútuo.
Por outro lado, numa perspectiva mais geral,Pimentel (2005) fala da “privatização da vida fami-liar” como factor preponderante na alteração doestatuto do idoso, uma vez que a reorganização davida no interior das casas contribui para a sua reti-rada social. O contexto urbano, aliando a multiplici-dade de origens ao culto do individualismo e aoenfraquecimento das relações com a vizinhança oua comunidade, leva a que se sintam isolados edesenraizados, não sendo possível reproduzir osmodos de vida solidários e participativos, carac-terísticos de meios vincados pelo parentesco.

1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
12
ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIO AO IDOSO
De facto, nos bairros mais antigos ou tradicionaisdas grandes cidades, ou nos meios rurais, ainda épossível encontrar sistemas de organização socialmais alargados, em que a prestação de cuidadosaos mais dependentes é também assegurada poroutros idosos autónomos ou ainda numa velhicejovem. No entanto, as estatísticas mostram quemais de 50% das famílias unipessoais do país cor-respondem a idosos com 65 ou mais anos, essen-cialmente mulheres, estando estes dados direc-tamente relacionados com os elevados índices deisolamento que podem conduzir a situaçõesextremas como o suicídio.
Paralelamente ao papel de cidadão activo e con-tribuinte, a maior parte das pessoas também assu-miu como principal o de pai/mãe. Com a saída dosfilhos de casa coincidindo com esta alteração na suavida, é frequente a sensação de esvaziamento,inutilidade e desamparo. Este fenómeno está es-tudado e designa-se “Síndrome do ninho vazio”.
SÍNDROME DO NINHO VAZIOCrise de meia-idade constituída por problemasdecorrentes da reforma (1999, ClassificaçãoInternacional dos Cuidados Primários).
Em simultâneo com adaptação à casa vazia, é tempode reajustar a vida conjugal: um dos elementos docasal passa a ter uma disponibil idade muitodiferente, aumentando o tempo partilhado. Nestamodificação da relação existente, aspectos relegados
para segundo plano por outras prioridades ganhamagora preponderância, como as expressões de cari-nho e afecto. Por outro lado, é importante a redis-tribuição de responsabilidades relativamente às ta-refas domésticas ou à gestão financeira, por exem-plo, para permitir um maior envolvimento do séniornestas, fazendo-o sentir-se mais integrado e activo.
Quando os horários estipulados e as responsabili-dades laborais são pacificamente substituídos porplanos adiados para esta época da vida, transfor-mados em investimento em interesses e hobbies adesenvolver, a sua vivência será alegre e compen-sadora. Neste caso, aqueles que rodeiam o idosoirão percebê-lo como uma pessoa activa e empe-nhada, anulando qualquer estigma que sobre elepudesse recair e permitindo a manutenção de umestatuto social prestigiante.
Numa fase do ciclo de vida em que as tarefas prin-cipais são a redefinição da relação conjugal, a inte-gração de novos elementos na família(genros/noras e netos), a mudança dos papéisgeracionais e a assunção como a geração maisidosa, tendo de lidar com as perdas cada vez maisfrequentes (a morte do cônjuge, irmãos, amigos) ecom a ideia da sua própria morte, a manutenção doprestígio e a valorização pessoal e social são deter-minantes para o sucesso sénior neste desafio. Amanutenção da sua autonomia e independênciasão cruciais para a continuidade de uma vivênciasaudável. É neste ponto que a rede social de apoiopode intervir e fazer a diferença, estando preparadapara a terceira e quarta idades geriátricas.

13
1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
O envelhecimento é um processo inevitável. Paraalém do carácter biológico, conjugam-se factoresindividuais (história de vida) e grupais (efeito decoorte) que determinam a forma como este seprocessa e como o indivíduo o irá perceber.
O aumento da população geriátrica veio provocarum desequilíbrio social entre contribuintes e be-neficiários dos sistemas de apoio, abrindo cami-nho à possibilidade de uma crise geracional mo-tivada pelo sentimento de sobrecarga dos maisjovens e reforçando a perspectiva negativista dosénior. Esta pode ser generalizada para o meio fami-liar quando existir falta de projectos e objectivos,interesses e proactividade. A reorganização depapéis deve decorrer de modo a conferir ao idosouma função e actividades importantes, mantendo oseu sentido de vida e a perspectiva de valor.
Cabe à rede social de apoio prevenir os aspectosmenos positivos desta fase marcante da históriapessoal, criando as condições para uma velhicebem sucedida.
SÍNTESE

14
ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Considerando o dados apresentados ao longo deste capítulo, imagine como será a sua transição paraa terceira idade.
1.1. Foque as questões familiares e sociais, e estabeleça quatro objectivos/planos a realizarnessa fase da sua vida.
1.2. Aproveite a reflexão para detectar pontos fragilizantes e ponderar as alternativas.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. Defina envelhecimento.
2. Baltes desenvolveu uma teoria sobre o processo de envelhecimento, categorizando os factores que oinfluenciam e relacionando-os. Explique esta teoria.
3. Classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações. Justifique a sua escolha.
a. Estatuto e papel são dois conceitos teóricos ligados e que se referem ao valor atribuído a determinadapessoa ou grupo social, em termos de importância hierárquica.
b. Os idosos têm vindo a aumentar ao longo dos anos, envelhecendo a população, o que se deveexclusivamente à melhoria dos cuidados de saúde disponíveis.
c. O estatuto social do idoso entrou em decaída porque os valores desta mudaram: do materialismoe juventude passaram ao tradicionalismo e conservadorismo.
d. A revolução industrial veio iniciar a descida no estatuto social do idoso.
e. Os idosos que têm dinheiro têm sempre os filhos para cuidar deles.
4. Fale sobre as causas do envelhecimento da população portuguesa, relacionando-as com a necessi-dade de constituir redes de apoio familiares.
5. De que forma pode a família contribuir para valorizar o estatuto do idoso?
1.ENQUADRAMENTO
SOCIALDO APOIO
AO IDOSO
ACTIVIDADES

2
2
O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
16
OBJECTIVOS GERAIS
• Distinguir envelhecimento normal, patológico ebem sucedido, relacionando-os com a integraçãoe empenhamento social do idoso;
• Definir auto-estima, auto-imagem e auto-con-ceito, aplicando-os à capacidade de adaptação naterceira idade;
• Explicar sucintamente a teoria de life span, iden-tificando os conceitos principais e utilizando-ospara ilustrar a necessidade de manutenção doempenho social geriátrico;
•Descrever o processo de perda e luto, salientan-do a necessidade de uma actuação adequada darede social de apoio.
ENVELHECIMENTO NORMAL,PATOLÓGICO E BEM SUCEDIDO
Sendo um fenómeno dissociativo, algumas carac-terísticas individuais declinam enquanto outrasresistem à idade (Fontaine, 2000). Se for acompan-hado de doença, diz-se que é patológico. Quando oidoso apresenta boa condição física, psíquica,social e ocupacional, sem qualquer tipo dedependência e/ou perda de autonomia, diz-se quetem uma velhice bem sucedida. Este conceito estáassociado à reunião de três grandes categorias decondições:- reduzida probabilidade de doença, em especialdas que causam perda de autonomia;- manutenção de um elevado nível funcional nosplanos cognitivo e físico (velhice óptima);- conservação de empenhamento social e bem-estarsubjectivo;
Como já foi referido no primeiro capítulo, Baltes(citado por Fontaine, 2000) concebe três grandesclasses de factores que influenciam o envelheci-mento: ligados ao grupo etário (intrínsecos), aoperíodo histórico e à história pessoal (extrínsecos).Para este autor, o aumento do risco de doenças ede perda de autonomia, frequentemente referidoscomo o maior receio do idoso, não depende exclusi-vamente dos elementos relacionados com a idade.
A partir de estudos realizados com gémeos, conclui-seque, para uma pessoa com mais de 65 anos,assumem maior importância os factores extrínsec-os e o estilo de vida, ficando o contributo da hered-itariedade e idade diminuídos em proveito do ambi-ente. Este dado evidencia o carácter mo-dulável davelhice dita habitual, podendo esta ser transforma-da (ou não) numa velhice bem sucedida (Bond &Coleman, 1994).
Dois conceitos ajudam a compreender o comporta-mento destes factores (Fontaine, 2000):
PLASTICIDADETraduz as reservas de capacidades físicas e cogni-tivas de que o indivíduo dispõe para optimizar o seufuncionamento e a que habitualmente não recorre.
RESTAURAÇÃOCaso particular da plasticidade, é a capacidadepara recuperar e manter comportamentos adapta-tivos após um declínio inicial, ou uma incapacidadeconsecutiva a um acontecimento traumático oustressante.
O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA

17
A plasticidade diminui ao longo dos anos, porrazões funcionais como a subutilização dosrecursos, bem como por motivos endógenosassociados ao envelhecimento cerebral. Com opassar do tempo perde-se, não só, a capacidadede desenvolver as aptidões mentais, como a detirar o máximo partido das que estão disponíveisno momento.
É a restauração que vai permitir manter o nível defuncionamento do indivíduo, assegurando a adap-tação deste às perdas sofridas e possibilitando aprocura da velhice bem sucedida. Um estilo de vidaactivo, o empenhamento em tarefas gratificantes edinâmicas vai, para além das recompensas refe-ridas anteriormente, contribuir para que estacapacidade seja elevada, tendo o sujeito meiospara lidar com as contrariedades sofridas.
Procurando factores que a permitissem prever, a“Fundação McArthur para a velhice bem sucedida”realizou um estudo com 1189 indivíduos que foramavaliados a nível biomédico, psicológico, social efísico.
A nível cognitivo, verificou-se que o melhor preditorda velhice óptima é o nível de escolaridade, não sesabendo se pela predisposição das pessoas porintroduzirem no seu lazer actividades estimulantes(leitura, palavras cruzadas, jogos) ou se por setratar de uma aquisição precoce que se mantém. Osegundo classificado foi a capacidade de expiraçãopulmonar, o terceiro o aumento de actividade físicafatigante (sem excesso) ao seu redor, e o quarto éum factor de personalidade - a percepção de eficá-cia pessoal, que Bandura definiu como a crença dapessoa nas suas capacidades para organizar eexecutar as acções necessárias em determinadassituações da sua vida (Fontaine, 2000).
A manutenção de uma participação social elevada,não só em termos das relações sociais, como tam-bém da prática de actividades produtivas, é vital.Como resultado de estudos realizados com idosos,verificou-se que:
• O isolamento é factor de risco para a saúde;
• Os apoios sociais de natureza emocional ouinstrumental podem ter repercussões positivas nasaúde;
• Não existe uma modalidade de apoio universalpois o funcionamento deste está determinado pelaapropriação que o indivíduo faz dele;
A produtividade, habitualmente relacionada com areforma, é marcante para o idoso. A ausência deuma actividade reconhecida (de preferência remu-nerada) leva muitas vezes à classificação social doindivíduo como “velho” ou “inútil”. No entanto, estádemonstrado que actividades informais comoauxílio escolar, voluntariado, actividade política ououtras tarefas de ajuda possíveis nesta faixa popu-lacional, são essenciais para a economia do país.
Guillemard (citado por Fontaine, 2000), propõe umaclassificação de práticas da reforma mediante ograu de empenhamento social e o tipo de actividadeexercida:
• Reforma-retirada - inexistência de participaçãosocial, actividades produtivas ou projectos(mesmo que a muito curto-prazo) e até mesmode deslocações (que resumirá ao seu bairro). Oindivíduo centra-se no carácter biológico da suaexistência, desinvestindo em todos os outros, oque representa um aumento do nível de riscopara a saúde e o oposto a uma velhice bemsucedida;
• Reforma terceira idade - vivida intensamente, háintegração social através de actividades produtivas,centrais no tempo da pessoa e do seu interesse.Este tipo de vivência está associado à percepçãode uma velhice bem sucedida;
• Reforma de lazer ou família - integração socialatravés das relações familiares, multiplicando-se asreuniões, visitas, viagens e as actividades sociais
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA

2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
18
partilhadas, de carácter desportivo ou cultural, princi-palmente com os netos. Associa-se frequentementeà coabitação com os filhos ou a uma participaçãofinanceira substancial para auxílio destes e o séniortem a percepção de desempenhar um papel essencialna manutenção da estrutura familiar. A velhice bemsucedida poderá apenas ser afectada pela existênciade tensões familiares e o desenvolvimento possível desintomas depressivos.
• Reforma-reivindicação - contestação do estatutosocial de idoso, considerando-se que seria vanta-josa uma maior união da “classe” e a manutençãode actividade. Os laços com outros séniores sãoprivilegiados. A velhice bem sucedida é muitoinstável pelo que é possível e provável o sentimen-to de exclusão social.
• Reforma-participação - consumo televisivo comoactividade mais importante do idoso e seu modo deempenhamento social, mesmo não constituindouma actividade produtiva. O sedentarismo desteestilo de vida constitui uma ameaça à saúde e apercepção de uma velhice bem sucedida é fraca.
São vários os estudos que suportam a ideia de queos elevados níveis de isolamento social e seden-tarismo estão significativamente ligados a umaesperança média de vida inferior.
A proactividade revela-se, portanto, uma caracterís-tica essencial para um bom processo de envelheci-mento. No entanto, cabe também à rede social deapoio proporcionar ao idoso a hipótese de seenvolver e manter produtivo, seja pelo apoio presta-do à família (aos filhos, aos netos), pelamanutenção de uma actividade profissional menosexigente ou pelo encorajamento de actividades devoluntariado (em escolas, hospitais, paróquias, bi-bliotecas, associações comunitárias, lares, etc). Asimples integração em grupos de carácter lúdico ourecreativo, do seu interesse, poderá ser suficientepara conservar uma percepção favorável da suaimagem, muito importante nesta fase da sua vida.
A IMPORTÂNCIA DA AUTO-ESTIMAE AUTO-IMAGEM DO IDOSO
Com a entrada na terceira idade, ao confrontar-secom a sua perda de autonomia, mesmo que pro-gressiva, o idoso experimenta stress, desconforto eperda de confiança em si próprio. Como resultado,poderá existir uma diminuição na sua auto-estimacom declínio do seu auto-conceito e auto-imagem.Nesta secção, pretende-se clarificar melhor os con-ceitos e processos psicológicos do envelhecimento.Comecemos por ver o que significam exactamenteestes conceitos.
AUTO-ESTIMATraduz avaliação subjectiva que a pessoa faz de simesma, como sendo intrinsecamente positiva ounegativa em algum grau, sendo depois expressanos seus comportamentos ou atitudes.
AUTO-CONCEITORefere-se à percepção que a pessoa tem do seuvalor absoluto, ou seja, do seu sentido para a vida,resultante da existência de um propósito ou de umaesperança.
AUTO-IMAGEMÉ a percepção que a pessoa tem de si, das suascapacidades e do seu valor, em termos compara-tivos com outras.
O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA

19
Estando interligados, estes assumem umaimportância extrema para a população geriátrica,uma vez que determinam directamente a suapredisposição para se manter activa o que, como já foivisto, é essencial para um envelhecimento bem suce-dido. Prevenir a conversão negativa destas avaliaçõespessoais, evitar que o sénior deixe de gostar ou acre-ditar em si, isolando-se e desenvolvendo pensamen-tos depressivos, é essencial.
Coleman (1994) afirma ser possível que a capaci-dade de adaptação pessoal às alterações de vidana terceira idade se encontre aumentada. Salientaque esta é muito influenciada pela percepção quecada um tem de si e do seu lugar nas relações comos outros, o que remete também para os conceitosde estatuto e papel abordados no primeiro capítulo.Refere ainda que geralmente, é mantido o nível deauto-estima através dos ajustamentos graduais deexpectativas e uma maior auto-aceitação sénior. Adescoberta de novas formas de reforçar a auto-esti-ma à medida que se envelhece, com a diversi-ficação de interesses e actividades encaminha oenvelhecimento para o sucesso.
Por outro lado, refere que o sentido para a vidapode perder-se com acontecimentos muitas vezescoincidentes com a entrada na reforma, a morte doparceiro, a perda de responsabilidades de trabalho,de criar ou gerir uma família.
Pretende-se que os cuidadores sejam capazes deestimular a auto-estima e o auto-conceito do idoso,dando-lhe oportunidades para este desenvolveractividades experimentando sucesso e perceberque o seu contributo ainda é válido e apreciado.Enquanto o idoso conseguir dar um sentido positivoàs suas acções e existência, mais facilmenteultrapassará contrariedades.
Um outro autor, Whitbourne (citado por Fontaine,2000) refere a personalidade como desempenhandoum papel principal na identificação pessoal. É aidentidade que permite ao indivíduo uma construçãounificada da sua vida, conferindo significado ao seupresente, passado e à representação do futuro.Denominado life span construct, o conceito principalde uma teoria de desenvolvimento psicológico temduas componentes: o “cenário” e a “história de vida”.
CENÁRIOConstrução mental, de natureza cognitiva, cujo con-teúdo varia em função da idade, contexto cultural,nível social e económico e dos estereótipos sociais,que permite ao indivíduo projectar o futuromediante os seus planos expectativas ou aspirações.
HISTÓRIA DE VIDAConstrução mental, de natureza cognitiva, quecorresponde à descrição e ordenação mais oumenos coerente do passado individual.
A história de vida de cada indivíduo vai ser consti-tuída pelos acontecimentos que ele recupera doseu passado, em detrimento de outros que elimina,para que esta tenha significado para si. O cenário éuma projecção para o futuro de acordo com ocontexto em quem a pessoa se insere e o meio emque se movimenta. Da conjugação de cenário ehistória de vida obtém-se a “identidade do indivíduo”.
IDENTIDADEConstructo cognitivo resultante da integração do“cenário” e “história de vida”, resultante do equilíbrioque a pessoa mantém na sua vida entre períodosde mudança e estabilidade.
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA

2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
20
O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA
Ao longo do tempo, os acontecimentos novos serãointerpretados segundo os quadros já existentes(história de vida e cenário) pelo processo denomi-nado assimilação - permite alguma estabilidade daidentidade.
ASSIMILAÇÃOProcesso cognitivo de integração de dados/signifi-cados no repertório individual, de modo conser-vador. Na teoria da life span, está relacionada como pólo de estabilidade.
Após um episódio marcante, o indivíduo tende afazer uma reestruturação da sua identidade, inte-grando o significado que para si teve esse episódio,podendo alterar a leitura do seu passado (históriade vida) e a projecção de futuro (cenário) medianteo processo de acomodação - implica mudança.
ACOMODAÇÃOProcesso cognitivo de mudança, resultante davivência de um episódio de vida marcante em queas aquisições são utilizadas para transformar aidentidade e, com esta, alterar os significados asso-ciados à história pessoal e ao cenário.
Trata-se, portanto, de um ciclo, ilustrado na Figura 2.1.
Identidade
Experiências
Figura 2.1. - Esquema do ciclo de construção da identidade pessoal, segundo a teoria da life span.
AssimilaçãoAcomodaçãoPólo da
estabilidadePólo da mudança

21
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
Num exemplo prático, se o sénior tiver um identi-dade positiva, enquanto pessoa competente,agradável, com quem os outros possam contar, osacontecimentos da sua vida serão interpretadosmediante esta, adquirindo, no processo de assimi-lação, uma conotação positiva e, como tal, con-tribuindo para o seu bem estar geral.
No entanto, perante a experiência de um aconteci-mento traumático como o desenvolvimento de umaincapacidade, uma perda (que já se sabe vulgarnesta altura da vida) ou a retirada profissional força-da, poderá ser realizada uma re-avaliação da suaidentidade e, mediante a acomodação, esta ganharuma conotação menos negativa. Se o sénior acre-ditar que deixou de ter valor, os acontecimento sub-sequentes da sua vida serão assimilados medianteesta nova identidade, ganhando, assim, um valornegativo e contribuindo para o mal-estar pessoal.
Será fácil perceber que o tipo de actividades que osujeito desenvolver e as experiências que tiver vãoinfluenciar a sua percepção da identidade e, comesta, a avaliação que fazem da sua história de vidae projecção correspondente ao cenário. Logo, paraaumentar a qualidade de vida de um idoso, é vitalsujeitá-lo a situações que possam contribuir para odesenvolvimento de uma identidade positiva demodo a que as dificuldades que possa experimentarsejam assimiladas e acomodadas de forma positiva(Fontaine, 2000).
PASSAGEM PELO PROCESSO DE PERDA E LUTO
Agora que se abordou a questão dos vários tipos deenvelhecimento, importa acrescentar que o sucessoda velhice depende também da capacidade de fazero luto de todas as perdas sofridas ao longo da vida(Silva, 1996). Sidell (1993) salienta que os idososgeralmente preferem a ideia de morrer em casa,que ganha maior valor quando estão instituciona-lizados.
Sousa (2005) refere a morte como a preocupaçãogeriátrica principal: o desejo de uma “boa” morte(rápida e fácil), de não constituir um “fardo” (grandedependência) e de conseguir, de certa forma, con-trolar o modo, métodos e momento do processo, ouainda de identificar formas que tornem a morte legí-tima e significativa (o surgir no ciclo de vida certo,após ter visto filhos e netos crescer, o facto de se tercuidado de alguém que também deixou de existir).As poupanças para os rituais associados são, porexemplo, outra forma de controlo.
Os idosos preocupam-se, por ordem decrescente,com a morte do cônjuge, irmãos e dos filhos (umavez que sentem que estes não devem morrer antesde si). A viuvez é o acontecimento mais marcanteda velhice, vivido com desorientação e solidão,geralmente pela mulher. Neste período, as tarefasde vida mais relevantes são o luto e o reinvestimen-to no funcionamento futuro: as experiências parti-lhadas passam a memórias, a atenção é dirigidapara as exigências do funcionamento diário apósaproximadamente um ano, e por fim, encontram-senovas actividades e renovam-se os interesses.
O processo de luto é um tempo propício àdepressão, principalmente se acompanhado desolidão, pouco apoio social e incapacidade. Quandoa morte surge de forma repentina, não existe umtempo prévio de preparação, pelo que o sentimentode desamparo e perda assumem proporções con-sideráveis. A espiritualidade ou religião podemajudar neste processo, servindo como apoio.
Após uma morte, a família precisa de realizar tare-fas adaptativas que lhe permitirão perspectivar aperda e seguir em frente, mesmo que não seja com-pletamente aceite. Estas tarefas passam peloreconhecimento partilhado da perda e pela reorga-nização do sistema familiar e reinvestimentonoutras relações e projectos de vida.

2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
22
Nesta fase da vida é também frequente a pessoadeparar-se com a anunciação da sua própria morte,tendo assim que fazer o seu luto pessoal. Kübler--Ross (1969) propõe um modelo explicativo desteprocesso, constituído por 5 fases:
1. Recusa - resultado do choque emocional de rece-ber a notícia que está a morrer, a pessoa entra emnegação, não querendo aceitar que esta é a suarealidade. Leva a comportamentos como a troca demédico, adesão a seitas ou religiões, ou procura deerros no diagnóstico, terminando com a aceitaçãodeste;
2. Cólera - a revolta resultante da impotência e frus-tração sentidas leva a que, por vezes, a pessoatenha comportamentos de cólera para com quem arodeia, espelhando a injustiça que sente;
3. Negociação - passada a cólera, a pessoa tentafrequentemente chegar a acordo com uma forçasuperior pela sua vida: ”se viver serei bompai/mãe/filho/profissional/pessoa…”. Nesta fase, omoribundo pode perder a lucidez. Quando tal nãoacontece, passa-se à fase seguinte;
4. Depressão - surgem sentimentos de mágoa, cul-pabilidade ou vergonha relativos à sua doença;
5. Aceitação - quando o doente finalmente aceita ainevitabilidade da sua condição, alcançando pazinterior que irá transmitir a quem o rodeia e inician-do o seu afastamento.
Fontaine (2000) salienta que a teoria de Kübler--Ross não é universalmente aceite, existindo mode-los de três fases. No entanto, é fácil estabelecer acorrespondência entre eles agrupando as quatroprimeiras fases em dois blocos e mantendo-se aaceitação como fase final. O luto obedece a ummodelo semelhante.
Para um cuidador, conhecer as fases do processode perda e luto permite-lhe perceber melhor eacompanhar alguém, mediante as suas necessi-dades, tendo as precauções possíveis para facilitarou aliviar este processo e evitar agravá-lo com ati-tudes ou comportamento inadequados.
No caso de um casal de idosos em que um dos doisfalece, torna-se essencial prevenir os quadros deluto patológico no que permanece vivo. Quando,após dois ou três anos, a pessoa continua a ter per-turbações de apetite, sono e do juízo-crítico, conti-nuando a culpabilizar-se por algo, geralmente deforma obsessiva e desmesurada, a sua auto-estimavai deteriorar-se, sendo vulgar a busca pela solidãocomo único meio de suportar a existência. Estaspessoas, caso não sejam acompanhadas por umespecialista, deixam-se morrer de tristeza.
O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA

23
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
Embora seja um processo comum, o envelheci-mento pode ser normal, patológico ou bem sucedido,para o que será essencial o empenhamento e inte-gração social do idoso, a sua proactividade e ocontributo da rede de apoio a fim de conservar asua actividade e capacidades de adaptação.
A percepção que a pessoa tem de si e do seu valorpara os outros, vai influenciar a sua intervenção nacomunidade e na família. É a identidade pessoalque determina a interpretação dos acontecimentosde vida e a projecção do seu futuro. A conservaçãodo positivismo desta também cabe aoscuidadores, devendo estes proporcionar experiên-cias de sucesso, benéficas ao bem estar geral dosénior.
A morte (sua ou dos seus) é a preocupação ge-riátrica principal. O conhecimento das fases de umprocesso de luto e morte permite que a pessoa equem a rodeia se preparem para o mesmo,compreendendo as reacções e adequando o seucomportamento às necessidades de cada etapa,tornando o processo o mais pacífico possível.
SÍNTESE

24
ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Todas as pessoas têm alturas da sua vida em que se sentem mais desanimadas. Recue até um dessesmomentos e utilize-o para ilustrar o esquema relativo à construção da identidade apresentado na figura 2.1..
2. Identifique os momentos de mudança (para o ciclo negativo e ciclo positivo) e quais os factores queinfluenciaram essa mudança.
3. Agora, imagine que tem setenta anos. Será que a situação que analisou se desenrolaria da mesmaforma? Indique as alterações possíveis e o tipo de repercussões previsíveis.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. Estabeleça a correspondência entre os conceitos e as frases.
Conceitos
1 - Envelhecimento normal
2 - Envelhecimento patológico
3 - Envelhecimento bem sucedido
4 - Auto-estima
5 - Auto-imagem
6 - Auto-conceito
7 - Plasticidade
8 - Restauração
Definições
A - A curiosidade do Sr. João pela saúde levou-o a ler maissobre o assunto depois da reforma. Soube que a memória de-clinava com o avançar da idade, o que se podia atenuar peloexercício e investiu em enigmas e nas palavras cruzadas. Dizque passou a esquecer-se menos dos objectos e recados eestá muito satisfeito.
B - Com 70 anos, o Sr. António faz o seu exercício pela manhã,antes de ir levar o neto ao infantário. No Centro de Dia onde éresponsável pela sala de internet, conhecem-no pelo seudinamismo. Mesmo depois de enviuvar ficou em casa, assegu-rando todas as tarefas.
C - A D. Joana acha que as amigas no lar fazem sempre asactividades melhor sucedido que ela sentindo-se inferior e ten-tando escapar quando a animadora pede que participe.
D - A D. Maria enviuvou, veio da aldeia e passa um mês comcada filha. Saudável para a idade, vai ajudando em casa e comos netos. Às vezes, triste, diz que tem saudades da vida docampo e das comadres, deixando correr uma lagrimazita.
E - O Sr. José lamenta todos os dias a sorte da mulher: aos 68anos, as dores não lhe permitem fazer a vida da casa, quantomais continuar no negócio, como era seu gosto.
F - A D. Marta diz que sempre foi muito bonita em jovem. Aindahoje se nota o cuidado e vaidade no arranjo pessoal.
G - O Sr. Manuel diz que, antes de morrer, ainda tem muito queajudar os filhos e que não tem estofo para arrumar as botas eficar à espera da morte.
H - A D. Matilde já recuperou os movimentos da mão e quaseregularizou a fala desde que teve o AVC. É um grande esforço,mas ela diz que não quer ser velha aos 70 anos.
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA
ACTIVIDADES

2. Complete os espaços em branco.
3. Explique porque razão o empenho social deve ser mantido na terceira idade. Recorra à teoria da lifespan, falando sobre o envelhecimento bem sucedido e auto-estima e auto-imagem do idoso.
4. Quantas fases tem o modelo de Kübler-Ross para o processo de luto e perda? Defina-as e ordene-as.
4 -
1 - Sr. Francisco
6 - 5 - 2 - 3 -
25
2.O IDOSO,
O ENVELHECIMENTO
E A
PERDA

26

3
3
MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE REDES DE APOIO
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO
28
OBJECTIVOS GERAIS
• Descrever o desenvolvimento de redes de apoioinformal, salientando as particularidades do papelde cuidador;
• Reconhecer a importância do recurso ao apoioformal, para, mediante as suas necessidades,garantir a autonomia e independência do idoso;
• Explicar as causas da institucionalização e osaspectos negativos desta;
• Ilustrar a importância do envolvimento do idoso noprocesso de decisão, indicando os critérios geraispara a sua satisfação com a institucionalização;
• Descrever a articulação entre redes de apoio formal e informal, indicando as dificuldades maisvulgares, medidas para as atenuar e benefícios deuma boa relação.
O APOIO INFORMAL
A sociedade portuguesa continua a caracterizar-sepelos fortes laços de solidariedade familiar e comu-nitária (Pimentel, 2005). No entanto, os cuidadosprestados pelas redes informais são muitas vezesresultantes de um sentimento de obrigação: apressão social acentua o carácter negativo da insti-tucionalização. A retribuição do sacrifício dos pais,o querer corresponder a expectativas, transmitir oexemplo aos filhos ou não suportar a censura dosvizinhos, são, muitas vezes os principais motivospara reorganizar a vida familiar e integrar o idoso.
O cuidador informal será respeitado pelas con-cessões que fará perante as novas exigênciasdo seu papel, embora raramente o assumavoluntariamente: estudos demonstraram quemais facilmente há ajuda quando não existe a perspectiva de encargo e dependência. A contínuaperda de autonomia do sénior ou a desistência deum antecessor, a viuvez, uma doença ou acidenteinesperados, poderão despoletar a necessidade e oenvolvimento progressivo. O papel é assumidogeralmente pelas esposas ou filhas (embora onúmero de homens esteja a aumentar), que vivempróximo ou em coabitação com o idoso (José, Wall& Correia, 2002). Na Europa, é mais frequente quenão tenham uma profissão remunerada e a relaçãode cuidados estende-se, frequentemente, por maisde cinco anos.
MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE REDES DE APOIO

29
A carreira de cuidador informal envolve 3 estádios:- preparação e aquisição do papel;- assunção das tarefas e responsabil idades relacionadas com os cuidados em casa e, even-tualmente, numa instituição formal;- libertação da prestação de cuidados em resultadodo falecimento do idoso.
Prestar apoio envolve sentimentos contraditórios,momentos de angústia, stresse e frustração. É umprocesso dinâmico que evolui reestruturando asrelações prévias mediante as necessidades.Embora todos tenham os seus contextos vivenciais,a dependência implica uma nova percepção de si edo outro, para todos os elementos do grupo fami-liar, alterando-se os poderes: para o idoso, esta é asua incapacidade para realizar determinadas activi-dades básicas enquanto que para o cuidador é odever de o substituir nessas mesmas actividades.Este sentimento é particularmente presente quandose entra na esfera da intimidade, sendo agravadopelo constrangimento mútuo.
Sendo a família um sistema, assumir a prestaçãode cuidados tem um impacto enorme sobre a suaestrutura e restantes relações. A nova divisão dastarefas, a reorganização de horários, responsabili-dades e rotinas traz transtornos e poderá ser fontede conflitos, quer para o cônjuge de quem cuida,quer para os filhos (José, Wall, & Correia, 2002).
Por outro lado, a própria rede de cuidados temcarácter dinâmico, criando inclusões e exclusões,hierarquias e subordinações, definindo obrigaçõesem função da proximidade subjectiva ou em termosde género, geracionais, nacionais, étnicos, raciaisou de classe e de estilo de vida. Os deveres indivi-duais variam com o nível e forma de inserção, e oseu estatuto instável vai-se alterando, tal como oscontributos.
Um estudo de Nunes de 1995 (citado por Pimentel)concluiu-se que as redes informais com base nafamília são limitadas em termos de eficácia e deresposta dado o seu carácter restrito: funcionapelos conhecimentos. Daí que seja essencialalargá-las, envolvendo amigos e vizinhos, sempreque possível, repartindo a sobrecarga e aliviando apressão geral.
O RECURSO AO APOIO FORMAL
O recurso a um centro de dia, de convívio ou aoserviço domiciliário, tem a intenção de manter osénior em casa. As duas primeiras opções rela-cionam-se com um carácter mais lúdico e social,enquanto que a terceira indica necessidades maistécnicas. A modalidade de apoio escolhida deveenquadrar-se nas necessidades do idoso, pre-tendendo conservar a sua autonomia e inde-pendência pelo maior tempo possível.
O idoso deve continuar em casa enquantoestiverem garantidas cinco condições que assegu-ram a sua qualidade de vida (Sousa, 2005):• estabilidade clínica;• apoio de um cuidador competente;• ambiente adequado ou adaptado às necessidadespessoais e dos cuidadores;• acesso aos diversos serviços profissionais;• apoio financeiro adequado.
A institucionalização resulta de situações agudas,mas também de ocasiões em que as famílias sesentem impotentes e exaustas e procuram algumalívio, resistindo em aceitar o regresso do idoso. Éfrequente a lotação dos hospitais com esta popu-lação aumentar muito no período de férias ou festas.
3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO

3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO
30
Quando hospitalizado, os níveis de desconforto edesagrado do sénior aumentam muito e a condiçãofísica deteriora-se rapidamente. Estatisticamente,os índices de mortalidade aumentam cerca de 20%nos seis meses seguintes após um primeiro interna-mento. Estes aspectos negativos resultam de umconjunto de factores que vão promover a asso-ciação de toda a experiência a uma aproximação daincapacitação e morte:• desconhecimento: do meio, das pessoas, da lin-guagem e procedimentos;• anulação da identidade: standardização decuidados e rotinas, retirada de roupas e objectospessoais;• retirada do poder deliberativo: direito a opinião anível de comida, visitas e horários;• sujeição a procedimentos intrusivos e dolorosos.
Geralmente, a institucionalização permanenteocorre na sequência de uma reavaliação aquandoda morte do cônjuge ou após uma queda oudoença. As más condições de habitabilidade(muitas escadas, muita humidade, frio), o local daresidência (muito isolada, de difícil acesso) ou omedo do isolamento (segurança física ou incapaci-dade de contacto em situação de emergência) esolidão, são factores que conduzem à tomada dedecisão.
Considerando que esta irá alterar a vida do idoso,ele pode e deve ser envolvido na escolha do larpodendo a sua participação ser:
• Preferencial - exerce o direito de decisão.Tipicamente após a morte do cônjuge, perante ainsegurança ou a percepção de sobrecarga para osfamiliares mediante o desenvolvimento dedependência;
• Estratégica - reflecte um planeamento ao longo davida. Frequente em pessoas solteiras e/ou viúvas,sem filhos ou em que estes moram longe ou nãotêm condições financeiras para apoiar, sendo osénior proactivo na procura e selecção da instituição,na sua inscrição e até pagamento de quotas parareservar lugar;
• Relutante - resistência ou desacordo relativamenteà institucionalização, sendo o idoso forçado;
• Passiva - os idosos dementes ou resignados, queaceitam sem qualquer reclamação as decisões deterceiros sem questionar.
Os idosos adaptam-se mais facilmente a um “bomlar”, que é geralmente definido com base nosseguintes critérios:• tem actividades de animação;• possibilita saídas (passeios, acesso fácil às activi-dades de lazer da comunidade);• fornece boa alimentação;• tem pessoal simpático e competente e não estásempre a mudar;• permite ter quarto individual;• promove o companheirismo entre os residentes; • oferece conforto físico;• disponibiliza serviços de apoio (fisioterapia, enfer-magem, educação física);• é seguro;• não é demasiado grande.
O seu nível de satisfação aumenta quando osprofissionais lhes fornecem informações sobre assua doença, prognóstico e se preocupam com oseu estado de saúde geral em oposição àquelesque mostram sempre pressa não dão explicações eagem como se estivessem a fazer um favor. Oconsentimento, a escolha, o envolvimento dosénior são determinantes para o sucesso dequalquer que seja a opção de cuidados.
MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE REDES DE APOIO

31
REDES DE APOIO: RELAÇÃO ENTRE FORMALE INFORMAL
Inicialmente, as instituições apresentavam-se comodetentoras de um conhecimento não acessível aosfamiliares, impondo os cuidados sem qualquer tipode justificação. Por volta dos anos 1970/1980,houve uma v i ragem: são reva lo r i zados osprogramas centrados nos agregados familiares enum contexto comunitário, o que facilita o empenhogeral e esbate a autoridade simbolizada peloscontextos oficiais. No entanto, a intervenção tendea ser pensada e dirigida a uma só pessoa, mesmoassumindo que existem outros envolvidos: a famíliacontinua a ter de obedecer às prescrições profis-sionais, o que a torna “colaborante”, sem que assuas necessidades sejam de facto ouvidas e muitomenos atendidas.
Estão definidos quatro modelos de articulação entreprofissionais do apoio formal e família:
• Especialista - clássico, em que o técnico é aautoridade e a família tem a função de fornecerinformação para que ele decida, devendo, depois,cumprir as indicações;
• Transplante - os técnicos partilham e transferemalguns dos seus saberes para os clientes, agindocomo instrutores e consultores que guiam a vidados outros;
• Negociação - baseada na abordagem consumista,coloca o cliente no papel de consumidor, reco-nhecendo-lhe direitos e exigências sobre o serviçoprestado. Frequentemente estas são depoisdesvalorizadas e os clientes inferiorizados. É nesteâmbito que, por exemplo, os familiares colaboramnas actividades num centro de dia;
• Parceria - a parceria implica uma associação depessoas numa relação de igualdade, reconhecendoreciprocamente conhecimentos, capacidades e par-tilhando as tomadas de decisão na procura deconsensos.
Vulgarmente, as expectativas de cuidadores for-mais e rede informal não são clarificadas, sentindoambos que o seu papel é óbvio e que deve ser ooutro a justificar as suas acções. Esta falta de diá-logo origina frustrações, conflitos e decepçõesmútuas, sendo o idoso apanhado nesta ambigu-idade e sofrendo.
Neste tipo de contexto, são frequentes as seguintesdificuldades:
1. Identificar objectivamente o cliente (o idoso ou afamília), atribuindo o respectivo nível de importância(principal e secundário) nas tomadas de decisão.
2. Definir e aceitar regras: ao serem rigorosas eimpostas pelo profissional, poderão ser incompreen-didas e desencorajadas pelo cuidador informal. Osconflitos e a confusão do idoso, as acusaçõesmútuas de negligência ou inflexibilidade levarão aotérmino da relação por incompatibilidade.
3. Estabelecer limites: a intervenção do profissionalem áreas não contratadas especificamente é senti-da como intrusão sua, causando desconforto doidoso e família.
4. Atribuir responsabilidades: culpar a instituiçãoindiscriminadamente por falhas no serviço prestadopode deixar o profissional posição difícil quanto àlealdade.
5. Criar alianças: as relações familiares colocadas àprova reavivam questões antigas entre irmãos oucom os pais. As diferentes opiniões quanto ao apoionecessário podem induzir uma ligação aos técni-cos, que deverão manter-se neutros e agir nomelhor interesse do idoso, confirmando infor-mações e afastando-se se necessário.
3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO

3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO
32
6. Ter excesso de zelo: perante situações particu-larmente fragilizantes, os profissionais tendem amostrar-se altamente competentes, acabando porsubstituir a família. Mas o seu afastamento seráinterpretado como abandono, impelindo a um maiorempenho do técnico e gerando-se um ciclo que seauto-perpetua. O treino da família é essencial parapreservar a importante autonomia desta e o seuacompanhamento do idoso.
Em situações de institucionalização permanente, oidoso fica numa situação de dupla pertença entrefamília e organização, tendo de tomar partido, fre-quentemente, em função das críticas que surgemde parte a parte. Esta é um posição ingrata, pois,cada parte se vai ressentir mediante a sua escolha,agindo de acordo com a sua percepção do acon-tecimento: a família sente que houve um afastamentoe os cuidadores formais sentem ingratidão.
Destacam-se, pela sua vulgaridade, algumas situações:
• O profissionais criticam a família pela sua ausên-cia e pouco interesse - além de não trazer benefí-cios, o utente fica ressentido com ambos;
• Queixas infundadas do idoso - provocam o afastamento dos cuidadores formais que se sentem indignados com a sua injustiça e ingratidão;
• O afastamento da família - fonte de tensão para oidoso, por se sentir rejeitado, e para a instituiçãoque tem de tomar decisões que são da responsabi-lidade do núcleo familiar.
A fim de evitar este tipo de situações, a entidadedeve apostar em dois aspectos importantes: a ade-quada formação da sua equipa e a adopção de umacomunicação directa com a família, evitando o ruídoadicionado por cada intermediário.
O número cada vez maior de serviços públicos e pri-vados especializados na prestação de cuidados,apresenta-se como uma boa alternativa para asfamílias. No entanto, segundo alguns estudos,recorrer sistematicamente a este tipo de serviçosleva a uma certa desresponsabilização destas nassuas funções, o que pode substituir os laços afec-tivos e conduzir a alguma segregação e afastamen-to das gerações com a criação de equipamentosespecíficos para as faixas etárias mais avançadas.
Por este motivo, é essencial o esforço para que asfamílias continuem a acompanhar os seus idosos. Oenvolvimento nas actividades dinamizadas e oscontributos que possam fazer para estas, mediante
o conhecimento privilegiado que têm da pessoa,permitem diminuir a despersonalização dosserviços e aumentar o sentimento de integração epertença.
A conjugação das duas redes de apoio - o sistemamisto - apresenta mais benefícios: se o profissionalexplicar as actividades e as executar, negociando eenvolvendo o cuidador informal, são atendidas tam-bém as suas necessidades, o nível de satisfaçãocom esta relação aumenta consideravelmente, e éconstituída uma verdadeira parceria. Garante-seo apoio técn ico de qual idade, em espaços perfeitamente preparados, a personalização doatendimento mediante orientação de familiares eamigos e a maior disponibilidade destes paratarefas de carácter não instrumental.
Nas situações de patologia demencial, a conju-gação de redes é vital dado que familiares e amigosconstituem a ponte entre o idoso e o mundo realquando este deixa de conseguir comunicar. Estetema aparece mais desenvolvido no manual técni-co do formando e videograma sobre “Cuidar doidoso com demência”.
MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE REDES DE APOIO

33
3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO
Apesar de ser uma herança cultural portuguesa, oapoio informal é muitas vezes assegurado devidoà pressão social para evitar a institucionalização.O papel de cuidador, embora enaltecido, é maiori-tariamente assumido de forma involuntária erequer grande dedicação e disponibilidade, impli-cando reorganização da vida pessoal e familiar.
A procura do apoio formal acontece no seguimen-to de uma situação de perda e quando não estãogarantidas as cinco condições fundamentais àautonomia e independência: estabilidade clínica,apoio físico, social e financeiro e ambiente ade-quado às necessidades de idosos e cuidadores. Osénior deve estar activamente envolvido na opçãopela instituição para que o nível de satisfação sejasuperior, sendo conhecidos os dez critérios quegeralmente utiliza na sua avaliação.
Existem quatro modelos de re lação entre instituições e famílias. A eliminação da ambi-guidade de papéis, a comunicação franca e aberta,o envolvimento da rede informal nas actividades erotinas formais aumentará o nível de satisfação gerale o bem-estar do idoso. A conjugação de apoios per-mite retirar os benefícios de ambos.
SÍNTESE

3.MANUTENÇÃO
E ESTA
BELECIMENTO
DE REDES DE APOIO
34
ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Faça uma lista das redes sociais a que pertence. Analise o tipo de envolvimento que tem com cadauma delas, as suas responsabilidades e papéis e em quais delas já foi cuidador.
2. Agora concentre a sua atenção nas restantes e tente imaginar que lhe pedem para assumir esse papel.Para cada uma, indique o que sentiria e o que poderia fazer.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. De que forma nasce o cuidador numa rede de apoio informal?
2. Quais são as cinco condições para avaliar a capacidade de o idoso se manter em casa sozinho?
3. Nomeie e distinga os quatro modelos de articulação entre apoio formal e informal.
4. Indique quatro exemplos ilustrativos das dificuldades que podem surgir na articulação dos dois tipos decuidadores quando a relação entre estes for ambígua.
5. Que tipo de medidas deve adoptar uma instituição para que a relação com a rede de cuidados e o idosodecorra da melhor forma?
ACTIVIDADES

4
4
AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
36
OBJECTIVOS GERAIS
• Explicar a necessidade das diferentes modali-dades de apoio, caracterizando-as e indicando ossistemas mistos como os mais benéficos;
• Indicar profissões técnicas ligadas à prestaçãode cuidados ao idoso, descrevendo as suasfunções sumariamente e referindo exemplos deactividades de suporte necessárias ao desenvolvi-mento destas;
• Enumerar medidas de apoio social definidas peloEstado português, distinguindo-as.
CARACTERÍSTICAS GERAIS E MODALIDADES DE APOIO
Os familiares e amigos são quem melhor conheceo idoso, tendo, por este motivo, maior probabilidadede corresponder às suas necessidades.Organizado numa base informal, o apoio é influen-ciado pela evolução da estrutura e dinâmica fami-liares na sociedade actual, em que as relações sãoconstituídas de modo a privilegiar valores como aautonomia e o individualismo, valorizando-se arealização pessoal/profissional de cada um erespeitando-se a sua privacidade (Pimentel, 2005).
Como já foi referido no capítulo anterior, tradi-cionalmente, cabia aos filhos tratar dos pais quandoestes envelheciam. Posteriormente o Estadoassumiu-se como promotor do bem estar social,sendo os cuidados mediados por instituições eagentes com formação e especialização na área,com o objectivo de melhorar as condições de vidados mais desfavorecidos e cujas redes de apoioinformal se revelam fracas ou inexistentes. Esteconjunto de serviços e equipamentos pretendeabranger as diferentes necessidades ou níveis decarência da população.
AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO

37
4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
QUADRO 4.1 - TIPOLOGIA DAS MODALIDADES DE APOIO
Tipologia
Lares e casas
de repouso
Centros
de dia
Residências
Centros de
convívio
Serviços de
apoio
domiciliário
Acolhimento
familiar
Características dos utentes
• Mais de 60 anos;
• Dependentes ou semi-dependentes, que
não possam continuar a manter-se na sua
própria casa.
• Idosos que se mantêm no seu meio
familiar e social.
• Pessoas com mais de 60 anos;
• Capazes de cuidar de si próprias ou da
sua habitação.
• Pessoas com mais de 60 anos;
• Independentes;
• Pessoas que permaneçam em casa (ou
na de familiares).
• Pessoas em situação de grande
dependência.
Características dos utentes
• Alojamento e alimentação;
• Higiene e tratamento de roupas;
• Cuidados médicos e de enfermagem 24h;
• Actividades ocupacionais e recreativas.
• Refeições;
• Serviços pessoais (tratamento de roupas);
• Ajuda domiciliária (cuidados de higiene);
• Actividades de tempos livres.
• Conjunto de habitações individuais;
• Serviços comuns tais como:
• Refeições;
• Tratamento de roupas;
• Actividades recreativas.
• Centros a nível local;
• Convívio e recreio de pessoas idosas;
• Horário de funcionamento variável.
• Articulada com instituições de suporte;
• Nos casos em que os restantes cuidados são assegu-
rados pelos membros da família:
• Refeições;
• Higiene pessoal e da habitação;
• Acompanhamento ao médico ou na realiza-
ção de pequenas tarefas.
• Particulares, no seu domicílio a título oneroso;
• Integração temporária ou permanentemente, em
família considerada idónea.
Os equipamentos com maior implementação nomercado são os destinados ao internamento defini-tivo, tendo sido, durante muito tempo, a únicamodalidade disponível: idosos que necessitassemapenas de apoio em cuidados específicos, poden-do permanecer em casa, eram forçados a abdicarconsideravelmente da sua autonomia e inde-pendência.
Apesar de a percentagem de idosos instituciona-lizada ser bastante reduzida (2,5%), os seus eleva-dos custos e os efeitos nefastos que representavanos casos de semi-independência criaram a neces-sidade de desenvolver serviços implantados nacomunidade, direccionados para a inclusão doidoso. De acordo com Pimentel (2005), apresenta-seno quadro 4.1. uma caracterização sumária dasvárias modalidades existentes.

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
38
Dada a elevada procura, as listas de espera delares (especialmente os públicos) são consi-deráveis. Muitas vezes, em função das vagas, asfamílias vêm-se forçadas a optar por instituiçõesque não seriam primeira escolha (este tema estábem desenvolvido no Manual técnico do formando“Cuidar do idoso com demência”), o que implica,geralmente, o afastamento dos idosos do seu meio,um maior espaçamento entre visitas, o aumento dosencargos financeiros e diminuição do nível de satis-fação com esta solução.
Quando o idoso conserva autonomia suficiente paraestar em casa e a família, vizinhança ou amigos semobiliza, é possível escolher outra solução. Estesapoios são, frequentemente, desconhecidos, querpela falta de divulgação por parte dos organismoscorrespondentes, quer pela limitada proactividadede quem a eles pode recorrer.
Os serviços de proximidade implicam um esforço dearticulação e complementaridade: os serviços desaúde asseguram os cuidados especializados e oscuidadores informais evitam o isolamento. O séniorespera destes o apoio emocional e social por lheserem mais próximos, embora os cuidados ins-trumentais possam ser prestados por outra pessoa.Os sistemas mistos são os que maiores benefíciosapresentam por respeitarem e promoverem aautonomia e independência do idoso.
FUNÇÕES LIGADAS À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS AO IDOSO
Existem profissionais essenciais nas redes deapoio, embora as equ ipas técn icas d i f i ram consoante os serviços disponibilizados ou o estadodos utentes. Seguidamente, tendo como base aClassificação Nacional de Profissões (de Agosto de2001), apresenta-se uma breve descrição das queestão mais directamente ligadas à prestação decuidados a idosos.
MédicoEstuda, aperfeiçoa, desenvolve ou aplica conheci-mentos no âmbito da medicina preventiva ou curati-va, em áreas de especialidade estritamente médica,cirúrgica ou mista. Deve consultar os utentes e,mediante exames médicos, estabelecer umdiagnóstico e estipular o tratamento necessário quepoderá ser administrado por si ou por enfermeiros.Compete-lhe ainda aplicar métodos e medidas demedicina preventiva, intervindo na comunidade, emequipas multidisciplinares, a nível da saúde pública.Poderá ainda intervir junto da família para esclare-cer dúvidas sobre as patologias ou procedimentos.
Grande parte dos lares, casas de repouso e insti-tuições semelhantes estabelece acordos com médi-cos para que façam uma ou duas visitas semanaisa fim de vigiar a saúde dos seus utentes.
PsicólogoEstudiosos dos mecanismos mentais e dos com-portamentos humanos, individuais e colectivos,aplicam os seus conhecimentos na adaptação edesenvolvimento do ser humano no plano pessoal,social, educativo e profissional.
Cabe-lhes o diagnóstico das característicasmentais (cognitivas, emocionais, volitivas) e oaconselhamento respectivo. Intervêm, envolvendoos utentes e as famílias, ao nível do apoio emo-cional e terapêutico, podendo integrar equipas mul-tidisciplinares (por exemplo em processos deadesão ao tratamento).
Enfermeiro Programa e executa os tratamentos prescritos pelomédico e presta cuidados específicos de enfer-magem, adequados à situação, no âmbito dapatologia, prevenção, tratamento e reabilitação,com o idoso, a família e a comunidade. Assegura avigilância do doente e reacções ao tratamento, re-gistando todos os dados pertinentes no "dossier" egarante os cuidados de higiene e alimentação.Participa em acções de educação para a saúde,nomeadamente de despiste sistemático e de pre-venção.
AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO

39
Animador socialOrganiza, coordena e/ou desenvolve actividades deanimação (carácter educativo, cultural, desportivo esocial) e desenvolvimento sócio-cultural de grupose comunidades, inseridas nas estruturas e objec-tivos da administração local ou serviços públicos ouprivados de carácter social e cultural. Nos ateliers,visitas a diversos locais (museus, exposições),encontros desportivos, culturais (debates, confe-rências) e recreativos, redacção e publicação dejornais, utiliza métodos pedagógicos e de ani-mação, a fim de desenvolver o espírito de pertença,cooperação e solidariedade das pessoas, bemcomo proporcionar o desenvolvimento das suascapacidades de expressão e realização. Concebe eexecuta, individualmente ou em colaboração comgrupos, suportes materiais para o desenvolvimentodas acções, reúne todos os recursos necessários,avalia os programas e efectua os respectivosrelatórios.
Assistente socialColabora na resolução de problemas de adaptaçãoe readaptação social de indivíduos, grupos oucomunidades, provocados por causas de ordemsocial, física ou psicológica, através da mobilizaçãode recursos internos e externos. Apurando as suasdificuldades, estuda com eles as possíveissoluções em termos de equipamento social de quepodem dispor, possibilidades de estabelecer con-tactos com serviços sociais, obras de beneficênciaou outros, fomentando uma decisão responsável.Mediante o diagnóstico de necessidades gerais deuma comunidade, intervindo em equipas multidisci-plinares, participa na criação de serviços própriospara as resolver, em colaboração com as entidadesadministrativas que representam os vários grupos,de modo a contribuir para a humanização dasestruturas e dos quadros sociais.
Terapeuta da falaAvalia e trata as deficiências da fala a partir deobservações directas e dos antecedentes clínicos.Reeduca alterações de linguagem, nomeadamenteperturbações da fala que resultam de perda deouvido, de afasia, da afonia, assim como das difi-culdades de articulação provocadas por causasorgânicas ou não orgânicas tais como a divisãovelo-palatino, paralisia cerebral ou laringocotomia,utilizando os métodos e técnicas mais apropriados.Orienta e aconselha os pacientes, familiares, e acomunidade, tendo em vista complementar a acçãoterapêutica, acompanhando o utente na suaevolução. Pode fazer parte de uma equipa dereabilitação ou reeducação aplicando os conheci-mentos específicos da profissão.
Terapeuta ocupacionalOrganiza e desenvolve programas particulares detratamento, com vista à readaptação física ou mentaldas pessoas incapacitadas, com o objectivo deobter o máximo de funcionalidade e independênciana aprendizagem, trabalho, vida social e doméstica.
Para tal, avalia as aptidões, os recursos, os inte-resses dos doentes e as condições do meio social,elabora um programa de reabilitação adequadoidentificando as áreas subjacentes de disfunçãoneurológica e de maturação, analisa as actividadesmais adequadas para cada caso e converte-as emexercício terapêutico. Com actividades manuais etrabalhos criadores, recupera capacidade funcionaldos músculos e movimentos das articulações, acoordenação dos movimentos e a resistência à fadi-ga. Reensina as pessoas deficientes a fazer osgestos comuns do quotidiano tais como, comer,fazer a "toilette" e vestir-se; aconselha sobre asadaptações arquitectónicas e de equipamentos deuso doméstico.
FisioterapeutaOrganiza e executa tratamentos tendo em vista arecuperação, aumento ou manutenção das capaci-dades físicas dos deficientes e lesionados, bemcomo a prevenção da incapacidade. Colabora nodiagnóstico avaliando os sintomas e capacidades,elabora programas de tratamento para a recu-peração física recorrendo à terapia pelo movimento,técnicas manipulativas, hidroterapia, electroterapia,incluindo o frio e o calor, raios laser, ultrasons e outras técnicas de inibição e facilitação neuromuscular,treinando os utentes e famílias para efectuarem osexercícios em casa. O seu trabalho abrange a áreaortopédica, respiratória, neurológica e reumatológica.
4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
40
Dietista/NutricionistaElabora regimes alimentares e dá pareceres técni-cos relativos à preparação, distribuição e conser-vação dos alimentos de forma a responder àsnecessidades nutritivas das pessoas, quer estejamou não sujeitas um regime alimentar específico.Concebe as ementas de forma a obter o equilíbriodos diferentes componentes alimentares, garantir asalubridade e a higienização dos alimentos e oseguimento das prescrições médicas em casos par-ticulares, conjugando com as preferências das pes-soas e as tolerâncias dos alimentos.
Deve ser envolvido nos projectos para construçãoou remodelação de serviços de alimentação, naorganização e administração destes e na formaçãodo pessoal. Pode ainda desenvolver programaseducativos dirigidos à comunidade ou a grupos comnecessidades específicas.
Ajudante familiarProvidencia, no domicílio, cuidados a pessoas inca-pacitadas física ou mentalmente e idosos. As suastarefas incluem a confecção de refeições, tratamen-to de roupas e cuidados de higiene e conforto,acompanhamento nas deslocações e ministraçãoda medicação prescrita.
Auxiliar de lar, de geriatria ou de quartos Fazem parte das suas funções a ministração derefeições, cuidados de higiene e conforto dosutentes e dos quartos e a vigilância dos doentes soborientação do responsável. Poderá ainda, medianteos casos e as organizações, acompanhar os idososnas deslocações e participar nas actividadesdinamizadas pelos animadores. Eventualmente,tendo formação específica para tal, auxilia o enfer-meiro nos tratamentos e cuidados de enfermagem.
Para que fique completo o quadro de pessoalnecessário a estas instituições, não devem seresquecidas as pessoas que asseguram serviçosgerais, imprescindíveis para que a equipa técnicadesenvolva o seu trabalho especializado:• Director;• Director Clínico (responsável pela definição deprocedimentos e cuidados prestados);• Quadros superiores/Administrativos (na área dacontabilidade, financeira, do pessoal);• Empregada(o) de limpeza;• Cozinheira(o) e ajudantes de cozinha;• Responsável pela logística/aprovisionamento;• Recepcionista;• Motorista;
Por último, importa ainda referir o importante papeldesempenhado pelos voluntários: assegurando odesenvolvimento de algumas tarefas (desde a mi-nistração das refeições, ao desenvolvimento deactividades de animação) vão contribuir com a suadisponibilidade e empenho, não só para garantir oscuidados básicos aos idosos (mediante as indicaçõesdo pessoal responsável), mas também para minimizaro isolamento a que estão sujeitos e manterem ummodo de vida activo, autónomo e independente,enquanto for possível.
Todas as profissões são regidas por princípios éti-cos e deontológicos, regras que conduzem a actuação dos profissionais orientando-os para boas-práticas. Na área da saúde, as técnicas dis-tinguem-se pela definição de normas específicasaplicadas à vida humana, mas todas assentam norespeito pela pessoa enquanto indivíduo com di-reitos e deveres, procurando garantir um serviço dequalidade, eficaz e que atenda as reais necessi-dades do idoso (neste caso), mediante a actuaçãocons-ciente de profissionais qualificados. A apre-sentação dos códigos de ética e deontologia queregulam a actuação de todos os envolvidos numarede de apoio ultrapassa o âmbito deste manual,mas considera-se pertinente reflectir sobre os va-lores básicos que sustentam a relação de cuidado,tema que será desenvolvido na secção “Direitos doidoso” do próximo capítulo.
AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO

41
ACÇÕES DE APOIO AO IDOSO
Numa busca rápida na internet encontram-se cen-tenas de referências de instituições que disponibi-lizam serviços de apoio a idosos, públicas e pri-vadas. Mediante as necessidades de cada caso e aanálise de outros factores (referidos na secçãoCaracterísticas gerais e modalidades de apoio),poderá ser tomada uma decisão.
Por ter sido abordada a questão do Estado-previdên-cia, considerou-se importante apresentar também asmedidas intersectoriais que têm vindo a ser imple-mentadas para promover a segurança e qualidade devida da população geriátrica:
• Programa “Apoio 65 - Idosos em Segurança”
Em vigor desde 1996, visa promover a segurançados idosos mais isolados através do policiamentode proximidade que valoriza a comunicação polícia--cidadão (em colaboração com a PSP).
• Programa Idosos em lar (PILAR)
Criado por Despacho do Secretário de Estado daInserção Social de 20 de Fevereiro de 1997, procu-ra desenvolver e intensificar a oferta de lares paraidosos, através, por exemplo, do realojamento deidosos oriundos de lares lucrativos sem condiçõesde financiamento; do aumento da oferta em zonascom baixa cobertura deste serviço; dacriação/remodelação de lugares dirigidos a utentesde Instituições Particulares de Solidariedade Socialsem condições de financiamento.
• Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII)
Criado por despacho Conjunto de 1 de Julho de1994, dos Ministros da Saúde e do Emprego eSegurança Social, contempla um número significa-tivo de serviços:
- Serviços de Apoio Domiciliário;
- Centros de Apoio a Dependentes/CentrosPluridisciplinares de Recursos - apoio temporáriocom vista à reabilitação de pessoas com dependên-cia, assegurando cuidados diversificados com baseem estruturas já existentes;
- Formação de Recursos Humanos - habilitaragentes, formais e informais para a prestação decuidados;
- Serviços de Telealarme - usando as novas tecnolo-gias, pretende diminuir o isolamento devido a pro-blemas de saúde, questões geográficas, barreirasarquitectónicas. Através de uma central, permite aintervenção atempada em caso de emergência;
- Saúde e Termalismo - permitir à população idosao acesso a tratamentos termais e o contacto commeio social diferente, prevenindo o isolamentosocial;
- Passes para a terceira idade - sem restriçõeshorárias para a população com mais de 65 anos,fomentando a sua mobilidade, integração social eparticipação na vida activa.
• Respostas Integradas que resultam da Articulaçãoentre a Saúde e a Acção Social - por DespachoConjunto 407/98, de 15 de Maio, que estão naorigem de:
- Unidades de Apoio Integrado (UAI) - centros queasseguram apoio ao longo de 24 horas a pessoasque necessitem de cuidados multidisciplinares quenão podem ser prestados no domicílio;
- Apoio Domiciliário Integrado - (ADI) - que assegu-ra a prestação de cuidados médicos e de enfer-magem e a prestação de apoio social no domicíliovisando a promoção do autocuidado.
• Plano Gerontológico Local
Planeamento de serviços e projectos em função degrupos e zonas de intervenção prioritárias, feito porequipas multidisciplinares e intersectoriais, medianteas suas orientações de intervenção.
4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
42
• Programa de Conforto Habitacional dos Idosos
Inserida no âmbito do Programa Nacional de Acçãopara a Inclusão, começou a ser implementada nodistrito de Bragança, com a reparação de 137residências. As obras passam pela substituição dostelhados, chão, paredes, adaptação de cozinhas ouinstalações sanitárias. Melhorando as condiçõesbásicas de habitabilidade, pretende-se possibilitar oserviço de apoio domiciliário e evitar a instituciona-lização e dependência.
• Contratos Locais de Desenvolvimento Social
Pretendem combater a pobreza, aumentar os níveisde qualificação e prevenir situações que conduzamà exclusão social em áreas desqualificadas, indus-trializadas ou atingidas por calamidades, através doestabelecimento de parcerias de âmbito local, quepodem envolver os serviços de emprego, de acçãosocial e instituições.
• Complemento solidário para idosos
Constitui-se num apoio financeiro de até 250 eurospor cada período de três anos, destinado a medica-mentos, óculos, lentes e próteses dentáriasremovíveis.
• Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados
Aprovado em Conselho de Ministros a 16 de Marçode 2006, tem como público beneficiário as pessoascom dependência, visando diminuir o número de
internamentos. Os serviços disponibilizadosincluem unidades de internamento (para conva-lescença, média duração/reabil i tação, longaduração/manutenção e cuidados paliativos),ambulatório (unidade de dia e de promoção daautonomia), equipas hospitalares e equipas domi-ciliárias (de cuidados continuados integrados ecomunitárias de suporte paliativo). Prevê, inclusiva-mente, a possibi-lidade de institucionalização tem-porária em unidades de cuidados continuados delonga duração para que o cuidador possa des-cansar;
A procura de apoio na prestação de cuidados devecomeçar na comunidade local. Certas instituiçõessurgem como organizadoras de serviços possíveisgraças a estas medidas ou a acordos com os váriossistemas de segurança e protecção social ouseguros de saúde: a Santa Casa da Misericórdia,as organizações religiosas (casas ou centros paro-quiais, associações dos vários cultos), as Casas doPovo e as Associações ou Comissões deMelhoramentos ou Moradores (importantesdinamizadoras das aldeias portuguesas no seumovimento regionalista), AssociaçõesComunitárias, de Pensionistas e Reformados,Uniões de trabalhadores, entre outros exemplos.Determinadas associações profissionais, sindicatosou ordens, contam com privilégios específicos,traduzidos em termos de subsídios, instituições deacolhimento disponíveis, acesso a cuidados desaúde especializados mais rápida e economicamente,ou contribuições em géneros.
Em suma, em todo este processo, é essencial aproactividade. Do idoso, dos cuidadores, da família,dos amigos e da comunidade.
AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO

43
4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
Os serviços de apoio ao idoso têm característicasdiferentes consoante a modalidade de apoiodisponibilizada. A decisão por um deles deverá terem consideração a completa resposta às necessi-dades do idoso.
O sénior pode contar com medidas, públicas e pri-vadas, criadas para melhorar a sua qualidade devida mediante a atribuição de subsídios, de apoioem géneros, do aumento da oferta de cuidados desaúde, de descontos na aquisição de serviços eaté no desenvolvimento de programas de lazer ousegurança específicos para si.
As profissões de apoio geriátrico estão interli-gadas na prestação de cuidados, sendo estas melhoradas com o trabalho em equipas multidisci-plinares, em estreita colaboração com os fami-liares ou amigos mais próximos que assumam opapel de cuidadores e podem ajudar nas decisõesrelativas a preferências pessoais e nos procedi-mentos, orientando os técnicos.
SÍNTESE

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
44
ACTIVIDADES PROPOSTAS
Imagine que está a cuidar de um idoso da sua família e informe-se quanto às modalidades de apoio a quepode ter acesso. Apresente três casos, prevendo a institucionalização (em residência ou lar, consoante onível de autonomia e independência) ou a continuidade em habitação própria, especificando os serviçosde que iria usufruir e o orçamento previsto.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. Identifique as modalidades de apoio de que os idosos estão a beneficiar pela descrição que eles fazemdos serviços.
Apoio
1 - Lar / casa de repouso
2 - Centro de dia
3 - Residência
4 - Centro de convívio
5 - Apoio domiciliário
6 - Acolhimento familiar
Descrição dos idosos
D. Joaquina: “Gosto muito da casa nova e o casal que me acolheu éatencioso e não me falta com nada. Com 74 anos e sozinha, nestascondições, não podia querer melhor!”
Sr. Caetano: “Sempre fui muito orgulhoso e não queria pesar a ninguém.Quando enviuvei vi que o melhor era tratar das coisas, ou ia andar aosmeses pelos filhos. Assim, fiz novos amigos e continuo a dormir em casa,farto-me de passear e estou bem!”
D. Aida: “Não sei se volto a andar... partir a anca aos 78 anos… sabe-secomo é. O meu homem pediu a umas meninas para virem ajudar a tratarde mim e da casa. Os filhos vivem longe... Tratam-me bem e a Sra.Doutora, quando vem, diz-me que fico boa. Mas é uma tristeza…”
Sr. Bernardo: “Isto é uma família! Em novos cada um fez por si e agoravoltámos todos à terra. Olhe, vamos conversando e fazendo o que asmeninas arranjam… o dia é comprido e não há horta para regar. Ele hácoisas do diabo, encontrar-mo-nos aqui! O filho bem disse que não iaestar sozinho mesmo ele vindo só ao Domingo!”
Sr. Salvador: “A mulher chamou-me maluco, mas só descansei quandoa trouxe. Agora é ela que me puxa! [risos] Para quê estarmos trancadosem casa? Assim conversa-se, passeia-se, dança-se… e temos a nossavidinha para ver os filhos e fazer o que nos apetece!”
D. Rosália: “Eu disse: Maneli, a gente na vai pra novos! E são os filhosque nos aturam? E consegui convencê-lo! Numa casinha nossa, parecevida de hoteli, estamos à nossa vontade e os vizinhos são como nós! Osfilhos estranharam, mas habituam-se!”
ACTIVIDADES

4.AS INSTITUIÇÕES
DE APOIO AO IDOSO
45
2. Classifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações, justificando.
a. Todos os lares têm de ter médico, enfermeiro, psicólogo e animador residentes.
b. O terapeuta ocupacional é responsável por determinar as tarefas que as pessoas mais gostam defazer, para as ajudar a passar o tempo.
c. Para a recuperação de movimentos na sequência de um AVC, o papel do fisioterapeuta pode serindispensável.
d.As actividades lúdicas e culturais do lar estão ao encargo do animador social, que está lá para distrairos utentes.
e. O psicólogo é um pouco como um padre, para os utentes desabafarem as suas tristezas.
f. O assistente social aconselha as famílias que solicitam ajuda, avaliando as suas necessidades, aju-dando-as a escolher os apoios mais adequados e encaminhando-os no processo de constituição deuma rede de apoio.
g. A ajudante familiar é responsável pelos cuidados de higiene e conforto, alimentação e tratamento deroupas dos idosos (consoante os serviços solicitados) podendo ainda acompanhá-los em pequenasdeslocações ou fazer alguns recados.
3. Complete os espaços.
a. O ____________________ promove o aumento da oferta de lares em zonas com baixa cobertura
deste serviço.
b. Contando com a PSP, o _____________________ promove o policiamento de proximidade em
zonas com idosos mais isolados.
c. É possível conseguir apoios para a reparação da habitação através do ____________________ ,
que começou em _______________________ pretende possibilitar o _________________________
e evitar a _______________________ .
d. O PAII, Programa _____________________ contempla serviços como: ____________________ ,
_________________________ , _________________________ , _________________________ ,
_________________________ e _____________________________________________________ .

46

5
5
QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DO IDOSO
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
48
OBJECTIVOS GERAIS
• Explicar o conceito de qualidade de vida, reco-nhecendo a sua importância e aplicação àprestação de cuidados;
• Descrever os direitos do idoso, aplicando exemplos.
QUALIDADE DE VIDA SÉNIOR
Segundo o Grupo de Trabalho da Qualidade de Vidada OMS, define-se como: “percepção que o indi-víduo tem da sua posição na vida no contexto desua cultura e dos sistemas de valores da sociedadeem que vive, em relação aos seus objectivos,expectativas, padrões e preocupações”. Envolvetrês condições essenciais: a subjectividade,multidimencionalidade e a inclusão de aspectos positivos e negativos (Trentini, Xavier & Fleck, 2006).
Os estudos sobre a qualidade de vida séniordesenvolveram-se principalmente nos últimos trintaanos, reflexo das variações demográficas (já abordadas num capítulo anterior deste manual).Inicialmente focados na vertente económica, foram--se alargando progressivamente até englobar con-ceitos subjectivos como liberdade, lazer, emoções,motivação ou cuidados individuais. Na área damedicina, este termo ganhou significado na ava-liação da relação custo/benefício dos protocolos detratamento na área da oncologia e, posteriormente,na investigação do “envelhecimento bem sucedido”em gerontologia.
A tónica na perspectiva individual marca o seucarácter inovador, traduzindo o resultado da apre-ciação pessoal, sujeito à influência dos significadospróprios atribuídos e seus efeitos. A sua opera-cionalização torna-se difícil devido à multidi-mensionalidade, multideterminação e porestar dependente da adaptação de cada um emgrupos, sociedades e tempos diferentes. Quer istodizer que duas pessoas, perante a mesma situação,em condições semelhantes, poderão ter uma per-
QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DO IDOSO

49
ACTIVIDADES DE VIDA DIÁRIAActividades que a generalidade dos adultos execu-ta ao longo da vida. É costume dividi-las em doisníveis de complexidade: instrumentais e básicas.As primeiras são mais complexas e envolvem usardinheiro, fazer deslocações, usar o telefone, tomarmedicação. As segundas são mais elementarescomo cuidar da higiene pessoal, escolher e vestir aroupa, deslocar-se em casa ou controlar as funçõesexcretórias.
INDEPENDÊNCIAConceito utilizado para traduzir uma condição.
AUTONOMIAConceito utilizado para designar um tipo de com-portamentos.
Pode então concluir-se que, embora vulgarmenteconfundidos, os dois conceitos têm significados econsequências diferentes: ser independente nãoequivale a ser autónomo. O idoso pode conservar asua independência mesmo necessitando de umapoio específico para algumas tarefas, ou manter asua autonomia mesmo com algum grau dedependência. O medo de constituir “um fardo/peso”é atribuído ora a um, ora a outro.
A prestação de cuidados deve consistir num apoioestável, percebido pelo sénior enquanto tal, promovendo a sua autonomia e independência,com vista a manter uma qualidade de vida boamediante as limitações impostas pelos efeitos daidade. Numa investigação realizada com populaçãogeriátrica (Trentini, Xavier & Fleck, 2006), verificou-se uma convergência nos seus critérios: activi--dades sociais e de lazer (95%), saúde (91%),relações com a família (89%), condições dehabitação (80%) e religião (75%).
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
A par de todas as iniciativas individuais que ocuidador pode dirigir especificamente ao idoso aseu cargo, existe actualmente também uma grandepreocupação com a promoção da qualidade devida, sendo esta expressa por orientações governa-mentais. A título de exemplo, no Plano Nacional deSaúde 2004-2010 o ênfase é colocado no “enve-lhecimento activo”, com orientações estratégicas epropostas de intervenções necessárias para reor-ganizar a prestação de apoio numa perspectivaintegrada, com uma abordagem multidisciplinar eintervenção intersectorial.
Em linhas gerais, para conseguir adequar os cuida-dos de saúde às reais necessidades da populaçãogeriátrica, pretende-se criar condições para a promoção e desenvolvimento da autonomia e inde-pendência:• Começando pela (in)formação sobre formas delidar com as patologias mais vulgares, preveniracidentes e quedas e manter-se activo, melhorandotambém a articulação das unidades de saúde comoos cuidados continuados;• Realizando exames médicos periódicos para iden-tificar critérios de fragilidade;• encorajando a pratica de exercício físico regular emoderado, considerando as diferenças de idade egénero;• investindo na orientação dos técnicos e profis-sionais de saúde para a detecção e eliminação debarreiras arquitectónicas;
5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
cepção de qualidade de vida completamente diferente,mediante o significado que lhe atribuírem. Pode aquiser estabelecido um paralelo com o constructo “identi-dade” abordado no âmbito da teoria da life span, nocapítulo sobre envelhecimento bem sucedido.
Num estudo realizado em Portugal, em 2003, com1747 idosos de 75 anos ou mais, verificou-se que12,5% eram “totalmente dependentes”, 14,7% “muitodependentes”, 15,8% “apenas com limitações nasactividades instrumentais de vida diária” e 54% “com-pletamente independentes” (Sousa, 2005).

5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
50
• Direccionando esses mesmos técnicos e profis-sionais de saúde para detecção e encaminhamentoadequado de situações de violência, abuso ou ne-gligência;
• Desenvolvendo uma articulação efectiva doscuidados de saúde com os grupos de apoio dasociedade civil e serviços disponibilizados peloEstado.
O Centro de Saúde é considerado o elemento cen-tral deste sistema, com a acção das equipasmutidisciplinares no desenvolvimento de programasde intervenção comunitária (ex. saúde ocupacional,cuidados continuados), conjugando esforços esaberes com psicólogos, nutricionistas ou outrostécnicos cujo envolvimento e contributo é imprescin-dível à promoção da qualidade de vida sénior.
A outro nível, nas redes de apoio formal público e pri-vado, assistiu-se também a uma evolução quanto àrequisição de técnicos e serviços disponibilizados. Odesenvolvimento estruturado de programas de ani-mação e integração na comunidade, com especialinvestimento na vertente intergeracional, ou na ofer-ta de cuidados de beleza dentro de lares e casas derepouso, são exemplos deste esforço.
Presentemente, são constituídos pacotes de turis-mo sénior, há iniciativas em conjunto com o poderlocal com benefícios para este grupo (descontos emtransportes, aquisição de produtos ou serviços) e jásão frequentes as actividades culturais que prevêem um acesso privilegiado desta população.Também o ingresso em academias, escolas, univer-sidades e clubes com a possibilidade de adquirir ouaprofundar conhecimentos (desde a elementar alfa-betização, à exploração de áreas técnicas, da ini-ciação em culturas estrangeiras ao aperfeiçoamentoe divulgação de saberes tradicionais) se torna natu-ral e vulgar, desempenhando um papel importante anível do retardamento dos efeitos do envelhecimen-to cognitivo (como exposto no capítulo dois).
A criação de condições de vida para que a terceirae quarta idades sejam um tempo de vivências inde-pendentes e autónomas, com um significado positi-vo e geradoras de satisfação, indica uma alteraçãode mentalidade e um investimento nesta faixa po-pulacional que, eventualmente, a longo-prazo, podetambém implicar uma diminuição na sobrecarga dosjovens, tal como referida no primeiro capítulo destemanual.
OS DIREITOS DO IDOSO
Com a idade avançada e o aparecimento decondições debilitantes que causem dependência eimpliquem perda de autonomia, o idoso é muitasvezes afastado das tomadas de decisão familiarese comunitárias, mesmo das que lhe dizem direc-tamente respeito. Este fenómeno acontece muitasvezes sem consciência dos cuidadores, sendo par-ticularmente fragilizante e contribuindo em muitopara a perda de qualidade de vida.
A nível institucional, podem ser desenvolvidos ma-nuais internos de boas práticas, afim de prevenireste efeito (disponíveis inclusivamente na internet).Quanto ao apoio informal, tornam-se necessáriasacções de sensibilização e formação compor-tamental. Só com o respeito dos direitos fundamen-tais de todos os envolvidos (idoso, família, amigos,cuidadores formais e informais, dirigentes e pes-soal técnico) se pode garantir uma boa prestaçãode cuidados.
Apresentam-se, de seguida, os valores fundamen-tais das relações entre cidadãos. Considerandoessencial lembrar que o idoso, mesmo demencia-do, continua a ser uma pessoa, é neles que se devebasear toda a relação de prestação de cuidados.Acrescenta-se, para cada um, sugestões de si-tuações muito comuns que ilustram o respeitadopor esses valores.
QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DO IDOSO

51
DignidadeServe de base a todos os valores e princípios deque nascem os direitos que lhe são reconhecidos.São de evitar expressões que diminuam a pessoacomo, por exemplo, falar de dela na sua presençacomo se não estivesse ali.
RespeitoDemonstrar que se respeita alguém é transmitir-lheque é importante, que é tida em consideração porquem a rodeia. Na relação de apoio pode manifes-tar-se na contenção quanto a comentários menosagradáveis sobre a habitação da pessoa ou a suaapresentação. Em caso de institucionalização, avalorização das tentativas de caracterizar o seuespaço, o cuidado com os objectos pessoais, comas suas histórias e experiências será a forma dedemonstrar o apreço e valor que o utente merece.
IndividualidadeUm aspecto particular do respeito, traduz-se noreconhecimento da diferença (de ideias, opiniões,aparência, religião, gostos, procedimentos,decisões) e na valorização desta. Conhecer osidosos, a forma como gostam de ser tratados, aspreferências a nível de actividades ou refeições, ashistórias que contam, os seus contextos vivenciais,amigos ou familiares com que se relacionam é maisuma forma de lhes demonstrar a importância quetêm para os outros, de os fazer sentir em casa(quando estão institucionalizados) e de os fazersentir queridos.
AutonomiaComo tem vindo a ser referido, um idoso que seconserve autónomo sente-se mais saudável eempenha-se mais na sua vida activa. Deste modo,ao invés de o substituir em tarefas que pretendedesempenhar com o pretexto de que não devecansar-se ou que é mais rápido se for outra pessoaa fazer, deve encorajar-se a sua participação,desde que segura, sempre que possível. Numainstituição, o utente pode querer ajudar nasrefeições, ou noutras pequenas tarefas, e esta deveestar fisicamente preparada em termos de mobili-dade e segurança.
DeliberaçãoUm dos requisitos básicos da autonomia, é essen-cial que o utente continue a decidir os seus assun-tos enquanto disso for capaz: o que veste, o quecome, quando realizar as actividades e quais inte-grar. Mais uma vez, para além de se promover oestilo de vida activo, transmite-se ao idoso o valorque lhe é reconhecido enquanto pessoa.
Privacidade e intimidadeEm instituição ou apoio domiciliário, cuidador formalou informal, familiar, amigo ou vizinho, deverespeitar a privacidade e intimidade do idoso. Ofacto de ele estar mais limitado em termos deautonomia, não implica que se possa invadir a suaesfera íntima (cartas, telefonemas, cuidados dehigiene) transformando-a em domínio público. Sóse deve estar presente quando o idoso disso fizerquestão.
ConfidencialidadeApenas a própria pessoa poderá revelar infor-mações da sua vida pessoal, devendo as mesmasser geridas de acordo com a forma como foramdisponibilizadas: em confidência, em conversacasual, ou numa anedota.
IgualdadeEvitar qualquer tipo de discriminação em função desexo e orientação sexual, idade, raça, religião, con-vicções políticas, situação económica ou de saúde.Mitos e preconceitos devem ser esquecidos quandose presta cuidados, garantindo o respeito por todos.
ParticipaçãoO utente da rede de cuidados deverá ter umaopinião sobre a mesma, a nível da estrutura, orga-nização, funcionamento, envolvimento de pessoase em qualquer aspecto que considere pertinente.
5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO

5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
52
Os cuidadores ou responsáveis pela organizaçãode redes de cuidados deverão aceitar as suassugestões, valorizando-as. A nível institucional,qualquer inovação deve envolver os utentes inte-ressados no processo de análise e planeamento,sendo comunicada antes da sua implementação epodendo ser alterada mediante as suas sugestões.
Outro modo de promover a participação dos idosos éenvolvê-los, por exemplo, na organização das activi-dades: jogos, ateliers, passeios, filmes ou outras.
Os direitos do idoso passam, portanto, pelo segui-mento destes valores: poder expressar as suasopiniões, ser respeitado em todos os aspectos ediferenças, relacionar-se (a todos os níveis) comquem escolher, manter o controlo financeiro e efec-tivo dos seus bens enquanto o mesmo for possívele ser cuidado por alguém com formação e adequada,que lhe assegure os serviços contratados, comqualidade. No fundo, o idoso tem direito a ver assuas necessidades (físicas, psíquicas e emocionais)correctamente detectadas e satisfeitas.
QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DO IDOSO

53
5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
O tema da qualidade de vida na terceira idade tevegrandes desenvolvimentos nos últimos anos.Alargando-se da garantia das condições básicasde vida para aspectos mais sócio-emocionais dosmais velhos, implica os agentes que intervêm comesta população podendo proporcionar maior satis-fação. A nível do Estado-previdência, estão criadas medidas de apoio específicas para promovero bem-estar do idoso, disponíveis à população.
Com a chegada de idades mais avançadas e afragilidade que as mesmas representam, orespeito pelos valores e direitos do sénior torna-seessencial para conservar a sua auto-imagem eauto-estima positivas, garantindo um possívelinvestimento e empenho do próprio na conser-vação da sua vida activa. A sensibilização doscuidadores e da comunidade para este facto,poderá traduzir-se numa melhoria da qualidade devida para o idoso.
SÍNTESE

5.QUALIDADE DE VIDA
E DIREITOS DO IDOSO
54
ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Faça um levantamento dos serviços e apoios disponibilizados ao idoso na sua comunidade, indicandode que forma promovem a melhoria da qualidade de vida.
2. Para cada um dos itens da lista anterior, identifique os direitos/valores nele contemplados.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. Defina qualidade de vida.
2. Explique de que forma se aplica à prestação de cuidados ao idoso.
3. Dê cinco exemplos de medidas que promovam a qualidade de vida sénior.
4. Identifique os valores presentes nas frases seguintes e indique de que forma se podem corrigir as situações inadequadas.
a. A D. Maria é uma ajudante de quarto muito zelosa da sua profissão. Sempre que os “seus idosos”(como lhes chama) recebem a visita dos filhos, faz uma espécie de relatório de aconte cimentos desdea última visita, onde inclui toda a informação que lhe pareça importante, indepen dentemente de osutentes assim o desejarem ou não, porque acha que a família deve estar informada. Depois dissodeixa-os sozinhos para que estejam à vontade.
b. A D. Zélia começou recentemente a trabalhar num lar bastante conceituado. De início estranhouque os quartos estivessem cheios de fotografias, livros, alguns biblôs e no caso das senhoras, atécaixas de jóias e cremes de beleza. Interrogando as colegas, foi informada que a direcção incentivavaos utentes a personalizarem o seu espaço e a manterem alguns objectos pessoais no quarto. Ficouna dúvida quanto a esta medida, até porque lhe dificultava o trabalho de limpeza.
c. Na Casa do Jardim, os idosos sabem que podem apresentar propostas à equipa quando não sesentem satisfeitos. Desde que foi criado o “Livro das Sugestões”, a ementa da cozinha está mais variada e equilibrada, tendo os idosos assistido também a uma acção de formação sobre nutrição. O nível de satisfação com os serviços tem vindo a aumentar, o que a direcção considera positivo.
ACTIVIDADES

6
6
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

OBJECTIVOS GERAIS
• Identificar as fases da construção de uma redede cuidados, formal, informal ou mista, e os pro-cedimentos nelas envolvidos;
• Construir uma rede de cuidados.
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
56
Sabemos já que têm carácter dinâmico e sãoespecíficas de cada caso, mediante as necessi-dades deste. No entanto, construir uma rede decuidados é um processo faseado, com tarefas e intervenientes próprios de cada etapa.Seguidamente apresentam-se duas propostas quepretendem constituir um guia orientador de proce-dimentos, da perspectiva do cuidador informal e daentidade, que, embora não tenha carácter normati-vo, é um exemplo de operacionalização dos con-teúdos que têm vindo a ser abordados ao longodeste manual. Salienta-se que em todos os passosé possível e desejável envolver quem precisa doscuidados, tendo em vista não só a sua qualidade devida e a garantia dos seus direitos, mas também osdaqueles que vão assegurar o apoio.
CONSTRUIR UMA REDE DE CUIDADOSPERSPECTIVA DO CUIDADOR INFORMAL
Tornar-se cuidador é um processo involuntário, pro-gressivo e envolvente. Nem todos estão prepa-rados para este papel que constitui uma sobrecar-ga física, psíquica e emocional, para além de finan-ceira. Abranger vários elementos, estruturar rotinase procedimentos ou delegar responsabilidades per-mite uma maior qualidade da relação e o aumentoda satisfação de todos os membros da rede decuidados, bem como do idoso. Este é quem tem aúltima palavra relativamente a qualquer decisão atomar, devendo ser ouvido em todo o processo emantido no seu meio sempre que possível, onde émais provável a conservação da sua autonomia eindependência.
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS

57
1. Diagnóstico de necessidadesPretende-se clarificar o cenário de partida para aconstrução da rede. Para tal, deve-se:
1.1. Esclarecer o motivo do apoio - o falecimento docônjuge, a desistência de um antecessor, acidenteou doença súbitos ou o agravamento da condiçãofísica e/ou psíquica do idoso podem determinardiferenças na receptividade deste e explicar algu-mas reacções.
1.2. Analisar os níveis de autonomia e independên-cia - quais as actividades de vida diária que aindaconsegue assegurar?
1.3. Avaliar a sua estabilidade clínica - contactar omédico assistente ou iniciar o processo, marcandouma consulta de rotina para diagnosticar o estado econfirmar o tratamento que o idoso deve fazer eque nem sempre conhece ou transmite correc-tamente a quem o rodeia.
2. Decisão quanto ao apoioÉ o resultado de todos os dados recolhidos, do factor financeiro, da adequação ou adaptação domeio às necessidades do sénior e cuidador e dafacilidade de acesso a serviços profissionais.
Quando está clinicamente estável e pretende con-tinuar em sua casa embora precise de ajuda, énecessário recrutar e seleccionar cuidadores. Asprimeiras “fontes” a considerar deverão ser afamília, os amigos ou algum vizinho mais chegado,de acordo com a indicação do idoso, desde quereunam as competências exigidas para o apoio aprestar, e que sejam independentes e autónomos.Se for possível incluir mais do que uma pessoa, partilha-se a responsabilidade, mas dividem-se astarefas, o que torna o seu envolvimento mais fácil.Podem criar-se categorias como higiene (pessoal edo meio), alimentação, tratamento de roupas,serviços pessoais (compras, pequenos recados) eactividades ocupacionais e recreativas. A sua arti-culação depende obviamente número de pessoas eda sua disponibilidade (tempo, vontade, horários,pessoal). Se for possível financeiramente e desejadopelo idoso, as tarefas que representam maiorintrusão a nível da intimidade podem ficar a cargo deum profissional de forma a manter maior disponibili-dade para o apoio emocional e social, tão impor-tante.
2.1. Procurar apoios formais - consultar a assistentesocial ou as organizações da comunidade quedisponibilizam serviços nesta área, pode representaruma ajuda financeira ou em géneros. Os processosde requisição ou candidatura são guiados por técni-cos competentes e conhecedores, que explicam ascondições de acesso e benefícios possíveis.
3. Elaboração do plano de cuidadosOs membros da rede de apoio devem participar nasua estruturação. As suas necessidades tambémdevem ser atendidas, assegurando-se a suaresponsabilização e evitando sentimentos deimposição. O idoso tem sempre a última palavra.
Para um plano eficiente, é essencial clarificar objec-tivos, definir papéis e responsabilidades de cadaum, atr ibuir tarefas e est ipular horár ios ou calendários de visitas. Os cuidadores devem teralguma formação (nem que seja ao nível da sensi-bilização) para o que está envolvido na prestaçãode cuidados, numa perspectiva geral e em aspectosmais particulares como adequar a alimentação ourealizar procedimentos técnicos (a nível da higieneou da saúde).
Mediante a autonomia e independência do sénior, éimportante reservar-se tempo para que ele estejasozinho ou realize as suas actividades.
4. Avaliação e reajusteApós a implementação do plano definido, e emboraos primeiros tempos impliquem sempre ajustes,deverá ser feita uma avaliação da eficácia domesmo, e dos níveis de satisfação de todos osenvolvidos. Mediante esta, procede-se às reformu-lações respectivas. É importante que o plano esta-belecido seja flexível para facilitar a adesão doscuidadores.
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS

6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
58
CONSTRUIR UMA REDE DE CUIDADOSPERSPECTIVA ORGANIZACIONAL
Investir na construção de redes de cuidados numaperspectiva comunitária exige das entidades umestudo de viabilidade económica e social, quer setrate de uma organização constituída para o efeitoou de uma que pretenda diversificar os seusserviços. A partir deste, será desenhado o projecto eirá proceder-se à sua implementação. Os momentosde avaliação deverão ser previstos de modo a acom-panhar a operacionalização dos vários serviços, asua articulação com a comunidade e as parceriasestabelecidas. Para além de permitirem optimizar oseu funcionamento e integrar os reajustesnecessários, os dados recolhidos deverão ser utiliza-dos na concepção de iniciativas futuras.
1. Diagnóstico de necessidadesÉ a primeira etapa, determinante para o desenrolardo processo. Avalia-se uma dada região quanto àsnecessidades dos idosos, ao tipo de serviços eeventuais parcerias.
1.1. Idosos - é necessário traçar um perfil demográficoda região, apurando quantos são os idosos (porintervalos de idades) e como se caracteriza estapopulação a nível de saúde, recursos financeiros,condições de habitabilidade, agregados familiares,migrantes ou emigrantes com habitação na região(que indica que pensam regressar, possivelmenteenvelhecidos). Interessa saber também quais osapoios recebidos e as necessidades por responder.
1.2. Serviços - importa saber que entidades (públicase/ou privadas) estão representadas no meio, queserviços disponibilizam, as condições de acesso e aárea de cobertura.
1.3. Parcerias - averiguar a presença de organiza-ções cujos interesses estejam ligados a este tipo deinvestimentos para estudar propostas de parcerias.
2. Desenho do projecto da rede de apoio socialRecolhidos e analisados os dados, pode delinear--se o projecto, começando por decidir-se quais asmodalidades de apoio em que se pretende investir(e meios correspondentes)para se poder passar aoestudo de viabilidade económica.
2.1. Determinar os recursos necessários - dependendodas modalidades de apoio a implementar, os recursoshumanos e materiais serão muito variáveis:
• Instalações - enquanto que as redes de apoiodomiciliário apenas precisam de uma sede ou basede operações, um centro de dia contempla espaçosde convívio com áreas distintas e salas para trata-mento, por exemplo, e um lar ou casa de repousoterá de ter quartos de vários tipos. Instalaçõescomuns a todos são a cozinha e alavandaria/rouparia (para além do espaço adminis-trativo). As residências implicam uma construçãocompletamente diferente de todas as restantes.• Meios humanos - o número de funcionários, aqualificação técnica e os acordos estabelecidos(número de horas por semana) também varia como tipo de estrutura. Um lar pode apostar numaequipa alargada, com enfermeiro, psicólogo, ani-mador social e terapeuta ocupacional em per-manência, visitas semanais do médico, e acompan-hamento do fisioterapeuta e terapeuta da fala,enquanto que num centro de dia ou de convívio aequipa teria de ser mais reduzida.
2.2. Estudo de viabilidade económica - criação damatriz que projecte e planifique os resultados finan-ceiros (receitas vs. custos) atendendo-se à neces-sidade (ou não) de recurso a financiamentos(Estatais ou do FSE) e contributos de parceiros.Deve contemplar:
• Mensalidades, quotas de sócios, previsões definanciamentos;
• A construção/aquisição/arrendamento/aluguer deinstalações, viaturas, equipamentos de segurança,diagnóstico ou de hotelaria e lavandaria industrial;
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS

59
• Licenças, alvarás, certificações, seguros, serviçosde consultoria;
• As despesas com consumíveis das várias áreas(da cozinha e lavandaria, às actividades de ani-mação e material de escritório);
• As verbas destinadas aos vencimentos;• O investimento em formação (inicial e contínua)para os colaboradores, a fim de constituir umaequipa qualificada.
• A definição quanto ao suporte de determinados custos (fraldas, alimentação, deslocações paraexames ou médico, por exemplo), estipulando diferentes regimes ou escalões de acordo com aprática a adoptar pela instituição.
2.3. Parcerias - averiguar a receptividade das orga-nizações sediadas e do poder local para serem parceiros na rede, podendo o seu contributo ser anível de financiamento ou disponibilização de meiose divulgação, garantia de algumas tarefas oucondições especiais de acesso a bens e serviços.
3. Implementação da rede de apoio socialApós a aprovação do projecto, passa-se à fase daimplementação.
3.1. Constituição da empresa - caso seja fundadana ocasião, terão de ser definidos o objecto social,objectivos, missão, valores e princípios, cumprindo--se com toda a burocracia. Nos Centros deFormalidades das Empresas pode tratar-se doprocesso (excepto registo nas finanças e segu-rança social), incluindo o licenciamento, sendo fac-ultada a legislação respectiva ao funcionamento enormas de qualidade.
3.2. Recrutamento e selecção de colaboradores -constitui-se a equipa de acordo com as valências afuncionar. Para além das competências técnicas, oseu dinamismo proactividade e colaboração mul-tidisciplinar são essenciais à boa articulação entreos serviços, com os utentes e a comunidade. Éimportante que seja desenvolvido um programa deintegração para que todos partilhem da mesma cul-tura organizacional.
3.3. Organização dos vários serviços - mais umavez de acordo com as modalidades de apoiodisponibilizadas, os serviços existentes irão variar,não só em tipo mas também em dimensão. Os maiscomuns são:
• Serviços técnicos: os vários profissionais (psicól-ogo, terapeuta ocupacional, médico e enfermeiros,dietista/nutricionista, assistente social, fisioterapeu-ta), prestarão apoio aos utentes e às famílias, deacordo com a sua especialidade e com as necessi-dades destes, coordenando-se de modo a realizaruma intervenção integrada. Deverão ser constituí-dos núcleos multidisciplinares, clarificados objec-tivos, responsabilidades, papéis, meios, estratégiasde intervenção e metas para a acção destes, rea-lizando-se reuniões de trabalho (para planeamentoe discussão de casos) e de acompanhamento eavaliação do seu funcionamento. Estas equipasserão também responsáveis pela coordenação dosoutros serviços/actividades disponibilizados pelainstituição.
• Animação sócio-cultural: destaca-se pela suaespecificidade. É destinado aos utentes da insti-tuição (internos e externos) mas tem como objectivoenvolver as suas redes de apoio informal e a comu-nidade, participando também nas iniciativas desta.Com a variedade das actividades, enriquecidas coma componente intergeracional e o contributo pessoalde cada um e dos seus familiares e amigos (a nívelde competências e tradições), procura-se a inte-gração dos idosos e a promoção do envelhecimentoactivo e participativo, com vista à preservação dassuas capacidades, da sua autonomia e independên-cia, melhorando assim a qualidade de vida.
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS

6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
60
• Apoio domiciliário: a partir da divulgação e datriagem dos candidatos, são definidos os serviços aprestar (alimentação, higiene pessoal e do meio,acompanhamento em tarefas). As rotas são esta-belecidas de modo a rentabilizar o tempo e recursospara cada percurso, organizando-se os colabo-radores (motorista, ajudante de lar) e voluntários emequipas de apoio domiciliário.
• Cozinha e lavandaria: servem de base aosserviços de refeições e tratamento de roupas paraos utentes internos, externos e para o apoio domicil-iário. A sua dimensão, equipamentos e os meioshumanos envolvidos variam de acordo com eles.
• Economato: são geridos neste serviço os recur-sos materiais da instituição destinados a todas asactividades que esta desenvolva.
• Voluntariado: a divulgação deve ser feita em pontosestratégicos da comunidade (centros de convívio, dejuventude, religiosos, escolas e universidades, organis-mos de poder local) ou pelos parceiros, sendo estesprogramas essenciais para um apoio aos váriosserviços, na integração dos idosos ou no desenvolvi-mento de actividades de animação (nomeadamente asde cariz intergeracional, tema mais desenvolvido nomanual “Animação intergeracional”). Será necessário:
- Recolher a informação relativa a dados pes-soais, contactos, disponibilidade, competênciasbase e gostos dos interessados, a ter em consi-deração para a atribuição de tarefas;
- Integrá-los na organização, apresentando-os àrestante equipa de voluntários, técnicos, colabo-radores e aos utentes. Deve ser feita uma visitaguiada pela instituição explicando o funcionamen-to dos vários serviços;
- Dar formação inicial e contínua sobre aprestação de cuidados e o apoio emocional quelhes será solicitado, bem como relativamente àárea em que irão intervir;
- Elaborar escalas e horários, com tarefas estipu-ladas, clarificando objectivos, papéis, responsabi-lidades e expectativas de parte a parte;
- Realizar reuniões periódicas da equipa com opsicólogo, animador social e o terapeuta ocupa-cional, os responsáveis pelo seu acompanhamen-to, para guiar a sua actuação e discutir casosespeciais.
• Serviços de apoio: suportam o funcionamento dainstituição (do administrativo/financeiro aos auxi-liares) e, tal como o nome indica, prestam o apoionecessário aos restantes serviços desenvolvidos.
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS

61
3.4. Elaboração do plano de cuidados - conside-rando a situação do utente (se é externo, interno ouusufrui apenas de alguns serviços de apoio domici-liário, por exemplo) e os apoios disponíveis na insti-tuição, cada caso será analisado individualmente.Os técnicos devem reunir com o idoso e a família,avaliar a dinâmica desta e os recursos disponíveis(formais e informais), desenvolvendo um trabalhoconjunto para construir a rede de apoio. O seuobjectivo principal será conservar o idoso no seumeio enquanto possível, estruturando à sua volta osistema de suporte baseado no apoio informal, naconservação da sua autonomia e independência eno seu envolvimento activo com a comunidade,integrando os tratamentos ou terapêuticasnecessários. A intervenção, de carácter multidisci-plinar irá corresponder, em traços gerais, ao queestá descrito na primeira secção deste capítulo,sendo orientada por um técnico.
O acompanhamento será feito periodicamente,através de encontros com o cuidador principal e/ouutente, de visitas domiciliárias ou da recolha dedados junto dos profissionais envolvidos (ajudantesfamiliares, enfermeiro, animador, psicólogo)avaliando-se o funcionamento da estrutura e equa-cionando-se os ajustes necessários, num processocontínuo.
Para além do treino do cuidador em tarefas adesempenhar no domicílio, pode ainda ser disponi-bilizada documentação para auto-estudo e pro-movidas acções de formação destinadas às váriasredes coordenadas pela organização (informais oumistas), complementares às de carácter geral dirigi-das à comunidade.
Quando a institucionalização é inevitável, o princí-pio da intervenção mantém-se, atribuindo-se à redede apoio informal um papel activo na prestação decuidados ao seu idoso, para assegurar a sua inte-gração, a conservação das capacidades e oenvolvimento dos seus entes queridos em todo oprocesso.
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS

6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
62
3.5. Intervenção com as famílias e a comunidade:com medidas de carácter mais abrangente, a insti-tuição deverá sensibilizar e mobilizar a comunidadeem torno dos seus idosos. Para tal pode:
• Promover e realizar acções de (in)formação noâmbito da saúde pública, prevenção e segurança,cuidados geriátricos, determinadas doenças oupráticas terapêuticas;
• Acompanhar as redes informais na determinaçãode cuidados necessários, escolha de modalidades,obtenção de ajudas técnicas e apoios sociais espe-ciais para processos de patologias incapacitantesou casos de doenças terminais;
• Promover a melhoria da qualidade de vida e orespeito pelos direitos do idoso, desenvolvendo ini-ciativas (públicas e privadas) neste sentido;
• Operacionalizar as parcerias estabelecidas e divul-gar as mesmas.
3.6. Articulação com medidas de apoio intersecto-riais previstas na legislação portuguesa e desen-volvimento de acordos com sistemas de protecçãosocial diversos (referidos no capítulo 4). Devido àtransversalidade das várias modalidades de apoio(envolvendo, inclusivamente, os programas de vo-luntariado) e dependência de regiões, carácter dainstituição e objectivos desta, terão de ser estuda-dos em cada caso, e articulados com os váriosserviços e técnicos responsáveis.
4. AvaliaçãoEste projecto deve contemplar uma forte compo-nente avaliativa, intermédia e final, que permita asua reformulação constante com vista à melhoriacontínua, devendo os dados apurados no decursodas diversas iniciativas ser utilizados em ocasiõesposteriores. Devem ser alvo de confrontação comos objectivos pré-estabelecidos, em reuniões de tra-balho periódicas e no final de cada intervenção, osseguintes aspectos: o funcionamento das váriasmodalidades de apoio, a articulação dos profissio-nais e voluntários (individualmente e nas equipasestabelecidas), as parcerias, as valências, os pro-gramas de cuidados e de actividades, o acompa-nhamento dos vários grupos e das famílias, asacções com a comunidade, as intervenções pon-tuais, os apoios conseguidos e concedidos, os acor-dos estabelecidos e as iniciativas desenvolvidas.
A metodologia de avaliação deve ser objectiva, con-templar não só os resultados globais do projectocomo também os seus aspectos específicos e serconhecida por todos os intervenientes.
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS

63
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
Montar uma rede de apoio e prestação de cuida-dos não é tarefa fácil tanto a nível formal comoinformal. O processo deve estar bem estruturado,ter objectivos bem claros e conhecidos por todos,corresponder às necessidades do idoso e dosseus cuidadores e ser alvo de avaliação periódicae final, de todas as vertentes envolvidas, com vistaà sua melhoria. O acompanhamento eficiente dasua implementação é garantia do seu sucesso eda satisfação dos envolvidos.
SÍNTESE

ACTIVIDADES PROPOSTAS
1. Escolha uma entidade na sua comunidade que dinamize redes de apoio e analise as várias vertentesdisponibilizadas e o modo de funcionamento destas.
ACTIVIDADES DE AVALIAÇÃO
1. O Sr. João tem 47 anos e a sua mãe, a D. Albertina, tem 75 anos. Em conversa, explica-lhe que a mãeestá na sua habitação, “onde prefere”, mas que precisa de cuidados diários de um enfermeiro e já não dáconta da lida da casa sozinha. Você será responsável por montar a rede de apoio neste caso. Expliquecomo o faria, inventando a informação de que necessitar .
ACTIVIDADES
6.CONSTRUÇÃO DE
UMAREDE DE CUIDADOS
64

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO
s
SOLUÇÕES DAS ACTIVIDADES
SOLUÇÕES

SOLIUÇÕES
66
CAPÍTULO 1ENQUADRAMENTO SOCIAL DO APOIO AO IDOSO
1. Na perspectiva biológica é o processo inevitável dedeterioração endógena e irreversível das capacidadesfuncionais do organismo. Bond e Coleman (1994)propõem três termos:Senescência - perspectiva biológica, explica o processocomo forma de aumentar a probabilidade de morrer coma idade;Eldering - vertente social, refere a aquisição de papéis ecomportamentos sociais apropriados a grupos mais velhos;Geronting - abordagem psicológica, fala da auto-regulaçãoexercida pelo próprio ao longo da sua vida.
2. Três categorias de factores:• Ligados ao grupo etário - idade cronológica (factoresbiológicos), acontecimentos de vida dela dependentes (aescolarização, a reforma, o serviço militar obrigatório ouas fases de maturação e de senescência biofisiológica).Carácter determinante e previsível, reflecte a acção domeio (comum a todos), não controlável.• Ligados ao período histórico - guerras, obrigatoriedadee o tipo de ensino, revoluções do país. É o “efeito decoorte”;• Ligados à história pessoal ou não normativos-decisõesindividuais (o casamento, constituição de família, tipo deprofissão ou emprego, local de residência), acontecimen-tos inesperado (a viuvez, o desemprego, a solidão, aperda de filhos). Específicos e únicos a cada indivíduo.
Da interacção nasce o quadro de envelhecimento indivi-dual. Os factores têm pesos diferentes ao longo da vida:as influências do grupo etário dominam na infância e ve-lhice, as históricas durante a adolescência e juventude eas não normativas ganham progressivamente mais poder.Pode ainda estabelecer-se uma relação com asafinidades geracionais, ou de pessoas que passam porexperiências semelhantes, explicando-se os grupossociais e as suas reacções.
3. São verdadeiras as alíneas a e d.b. A melhoria dos cuidados de saúde permite o prolonga-mento da vida até idades mais avançadas, mas a popu-lação só envelhece quando o número de indivíduos commais de 65 anos é superior ao de jovens, não havendorenovação.c. Nas sociedades ocidentais, é mais comum o privilégiodo materialismo e juventude que do tradicionalismo e con-servadorismo, valores associados ao passado. No entan-to, este não é o factor único para a decaída do estatutosocial do idoso.e. Embora até ao séc. XVIII fosse prática corrente os fi-lhos cuidarem dos pais em função das possíveis he-ranças, mesmo nas famílias menos abastadas este nãoseria o principal factor. O factor dinheiro não assegura oempenho da família nem a qualidade do apoio prestado,mesmo actualmente.
4. O envelhecimento da população portuguesa deve-semaioritariamente à conjugação de três factores: aumentoda esperança média de vida, diminuição da taxa de nata-lidade e o regresso do surto imigratório dos anos 60 e 70em que as pessoas voltam envelhecidos, muitas vezespermanecendo os filhos no exterior. Os apoios disponibi-lizados pelo Estado são manifestamente insuficientespara abranger todos os idosos e, uma vez que não existerenovação efectiva da população contribuinte, represen-tam uma sobrecarga e têm tendência para serem substi-tuídos pela oferta privada ou pelas redes de cuidadosinformais. Se a família e amigos asseguraram a inte-gração do idoso na sua estrutura, atribuindo-lhe respon-sabilidades e valorizando-o, ele irá manter-se activo pormais tempo e contribuirá para a estabilidade do grupo emtermos emocionais, psíquicos e financeiros.
5. A resposta deve referir a intervenção na reestruturaçãodo seu tempo, disponibilidades e actividades, a solici-tação de ajuda em tarefas e integração nos acontecimen-tos familiares, a transmissão de que o valoriza e acreditanas suas capacidades, e a necessidade de o incentivar aque se conserve activo e autónomo, quer através de pro-postas de actividades, quer através da facilitação dadescoberta de novos interesses.
SOLUÇÕES DAS ACTIVIDADES

SOLIUÇÕES
67
CAPÍTULO 2O IDOSO, O ENVELHECIMENTO E A PERDA
1. A ordem correcta é: 1- D; 2- E; 3- B; 4- F; 5- C; 6- G; 7- A; 8- H;
2. As palavras correctas seriam: 1- Identidade; 2- Assimilação; 3- Pólo da estabilidade; 4- Experiências;5- Acomodação; 6- Pólo de mudança; 7- de construção daidentidade pessoal; 8- Life span.
3. Ao conseguir manter uma actividade regular que con-sidere importante, o idoso vai ter uma apreciação positivade si e considerar-se válido (auto-estima elevada), con-servando sentido para a sua vida (auto-conceito positivo)e sentir-se integrado numa sociedade que privilegia ajuventude (auto-imagem positiva). Este sénior verá deforma mais positiva o seu futuro (cenário) e tenderá aavaliar a sua existência como boa, recordando os acon-tecimentos pela positiva (história de vida). Ao deparar-secom os imprevistos naturais da idade, mais facilmentemanterá o ânimo e os irá encarar como desafios, em vezde contratempos (assimilação) o que corresponde a umaforma de pensar o seu dia-a-dia de forma positiva (identi-dade). Quando uma experiência for demasiado traumáti-ca para si como a morte do cônjuge, um acidente, odesenvolvimento de uma patologia incapacitante, poderádar-se uma mudança na sua forma de encarar o mundo einterpretar os acontecimentos. Esta acontece através deum processo a que, na teoria da life span se dá o nomede acomodação. Com a alteração na sua identidade, osacontecimentos passados poderão passar a ser interpre-tados de menos positivamente e o futuro poderá parecermenos risonho.
4. O modelo de Kübler-Ross prevê cinco fases para oprocesso de luto e perda:
• Recusa - resultado do choque emocional de receber anotícia que está a morrer, a pessoa entra em negação,não querendo aceitar que esta é a sua realidade. Leva acomportamentos como a troca de médico, adesão aseitas ou religiões, ou procura de erros no diagnóstico,terminando com a aceitação deste;
• Cólera - a revolta resultante da impotência e frustraçãosentidas leva a que, por vezes, a pessoa tenha compor-tamentos de cólera para com quem a rodeia, espelhandoà sua volta a injustiça que sente;
• Negociação - passada a cólera, a pessoa tenta fre-quentemente chegar a acordo com uma força superiorpela sua vida: ”se viver serei bom pai/mãe/filho/profissio-nal/pessoa…”. Nesta fase, o indivíduo pode perder alucidez. Quando tal não acontece, passa-se à faseseguinte;
• Depressão - surgem sentimentos de mágoa, culpabili-dade ou vergonha relativos à sua doença;
• Aceitação - quando o doente finalmente aceita ainevitabilidade da sua condição, alcançando paz interiorque irá transmitir a quem o rodeia, e iniciando o seu afas-tamento.
CAPÍTULO 3MANUTENÇÃO E ESTABELECIMENTO DE REDES DE APOIO
1. Geralmente a assunção do papel é involuntária. Oidoso passa a precisar de cuidados e até por acção dapressão social (da vergonha, medo da crítica, para dar oexemplo aos filhos ou para retribuir um pouco do que foifeito em criança), os familiares sentem-se na obrigaçãode lhos prestar.
2. As cinco condições são a conservação da estabilidadeclínica, ter o apoio de um cuidador competente, um am-biente adequado ou adaptado às necessidades do idosoe dos cuidadores, a facilidade de acesso aos diversosserviços profissionais e ter apoio financeiro adequado.
3. Mediante o tipo de comunicação entre apoio formal einformal, a articulação de poio formal e informal podeencaixar-se dentro do modelo:
• Especialista - clássico, em que o técnico é a autoridadee a família tem a função de fornecer informação para queele decida, devendo, depois, cumprir as indicações;
• Transplante - os técnicos partilham e transferem algunsdos seus saberes para os clientes, agindo como instru-tores e consultores que guiam a vida dos outros;
• Negociação - baseada na abordagem consumista, colocao cliente no papel de consumidor, reconhecendo-lhe di-reitos e exigências sobre o serviço prestado.Frequentemente estas são depois desvalorizadas e osclientes inferiorizados. É neste âmbito que, por exemplo,os familiares colaboram nas actividades num centro de dia;
• Parceria - a parceira implica uma associação de pes-soas numa relação de igualdade, reconhecendo recipro-camente conhecimentos, capacidades e partilhando astomadas de decisão na procura de consensos.
4. Quando a ambiguidade de papéis do cuidador formal einformal não é esclarecida, poderão surgir algumas difi-culdades na relação:
• Identificar objectivamente o cliente (o idoso ou afamília), atribuindo o respectivo nível de importância (prin-cipal e secundário) nas tomadas de decisão;
• Definir e aceitar regras: ao serem rigorosas e impostaspelo profissional, poderão ser incompreendidas e desen-corajadas pelo cuidador informal. Os conflitos e a con-fusão do idoso, as acusações mútuas de negligência ouinflexibilidade levarão ao término da relação por incom-patibilidade.
• Estabelecer limites: a intervenção do profissional emáreas não contratadas especificamente, é sentida comointrusão sua, causando desconforto do idoso e família.
• Atribuir responsabilidades: culpar a instituição indiscri-minadamente por falhas no serviço prestado pode deixaro profissional posição difícil quanto à lealdade.

SOLIUÇÕES
68
• Criar alianças: as relações familiares colocadas à provareavivam questões antigas entre irmãos ou com os pais.As diferentes opiniões quanto ao apoio necessário podeminduzir uma ligação aos técnicos, que deverão manter-seneutros e agir no melhor interesse do idoso, confirmandoinformações e afastando-se se necessário;
• Excesso de zelo: perante situações particularmente frag-ilizantes, os profissionais tendem a mostrar-se altamentecompetentes, acabando por substituir a família. Mas oseu afastamento será interpretado como abandono,impe l i n do a um ma i o r empenho do t é cn i c o e gerando-se um ciclo que se auto-perpetua. O treino dafamília é essencial para preservar a importante autonomiadesta e o seu acompanhamento do idoso.
5. A equipa de colaboradores deve receber formaçãoqualificante, a comunicação com a família deve ser constante, franca e honesta.
CAPÍTULO 4AS INSTITUIÇÕES DE APOIO AO IDOSO
1. Sr. Bernardo; 2- Sr. Caetano; 3- D. Rosália; 4- Sr. Salvador; 5- D. Aida; 6- D. Joaquina
2. Verdadeiras: c, f e g.
a. É falso. Não sendo obrigatório o carácter permanentede todos estes técnicos, os lares e casas de repousodevem contar com os seus serviços de forma regularpara prestarem um serviço de qualidade.
b. É falso. O terapeuta ocupacional procura a reabilitaçãofísica ou mental das pessoas incapacitadas, procurandoobter o máximo de funcionalidade e independência naaprendizagem, trabalho, vida social e doméstica.
d. É falso. A função do animador é mais do que distrair osutentes: com as suas actividades, pode proporcionar estí-mulos cognitivos e físicos que atrasem os sintomas nor-mais do envelhecimento, colaborando com outros técni-cos. É também o elo de integração na organização, procu-ra manter os idosos activos e empenhados socialmente.
e. O psicólogo pode prestar apoio emocional, mas a suafunção é diagnosticar as necessidades a nível mental(cognitivas, emocionais e volitivas) e aconselhar arespectiva intervenção, fazendo ele a terapia ou não.Deve ainda envolver a família e realizar o acompa-nhamento.
3. Chave para completar os espaços:a. PILAR (Programa Idosos em Lar).b. Programa “Apoio 65 - Idosos em Segurança”.c. Programa Conforto Habitacional dos Idosos; Bragança;serviço de apoio domiciliário; institucionalização edependência. d. Programa de Apoio Integrado a Idosos; apoio domici-liário; Centros de apoio a dependentes/CentrosPluridisciplinares de Recursos; formação de recursoshumanos; serviços de telealarme; saúde e termalismo;passes para a terceira idade.
SOLUÇÕES DAS ACTIVIDADES

SOLIUÇÕES
69
CAPÍTULO 5QUALIDADE DE VIDA E DIREITOS DO IDOSO
1.Segundo a OMS, é “percepção que o indivíduo tem da suaposição na vida no contexto de sua cultura e dos sistemasde valores da sociedade em que vive, em relação aos seusobjectivos, expectativas, padrões e preocupações”.
2. A prestação de cuidados ao idoso será eficaz se cor-responder às suas reais necessidades. Sendo a quali-dade de vida uma percepção subjectiva, irá depender donível de satisfação do idoso com estes serviços e com aforma como lhe permitem conservar/aumentar os seusníveis de autonomia e independência. Por ser multideter-minada, a qualidade de vida é o reflexo individual dasactividades de lazer e do apoio emocional recebido, daliberdade que a pessoa sente e da avaliação custo/bene-fício que faz de um determinado tratamento, por exem-plo. Nas relações de ajuda, a promoção da qualidade devida é um requisito para o sucesso, devendo estas pro-mover a autonomia e independência do sujeito e criarcondições de vida para que seja atribuído um significadopositivo às vivências pessoais.
3. Envolvimento de técnicos e diversificação de serviçosdisponibilizados a nível das várias modalidades de apoio;divulgação de informação; formação de técnicos e dacomunidade sobre modos de actuação adequados aproblemáticas específicas da terceira idade; pacotes deturismo sénior; condições de acesso privilegiado a activi-dades culturais, bens e serviços; investimento em acade-mias, escolas, universidades e clubes, com vertentes cul-turais, de ensino-aprendizagem ou desportivas, voca-cionados para a população geriátrica e que promovam odesenvolvimento de actividades intergeracionais.
4. a. Estão em falta os valores de dignidade - falar dealguém como se a pessoa não estivesse presente é incor-recto - e confidencialidade - ao contar os acontecimentos“independentemente de os utentes assim o desejarem ounão, porque acha que a família deve estar informada”,não está a considerar a vontade dos idosos. No entanto,a privacidade e intimidade são garantidas quando a D.Maria deixa as visitas e utentes sozinhos.
b. O lar em questão pretende manter a individualidadedos seus utentes, mas não procede correctamente comos seus colaboradores, uma vez que não lhes é feitaqualquer integração quanto às políticas de acolhimento eàs medidas de promoção pelo respeito dos direitos doidoso. A D. Zélia está a um passo de faltar ao calor dorespeito.
c. É promovida a participação e é reconhecido o direito àdeliberação.
CAPÍTULO 6CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOS
1. O exercício deve ser resolvido tendo por base o guiaapresentado no capítulo, na perspectiva do cuidadorinformal.

70

b
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
BIBLIOGRAFIA
CONSULTADA
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

BIBLIOGRAFIA
CONSULTADA
72
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
Bandeira, D., Gonçalves, T. & Pawlowski, J. (2006).Envelhecimento e Dependência: impacto sobre fami-liares-cuidadores e portadores de síndrome demencial.In Parente, M. (Ed.) Cognição e envelhecimento (p.275-284). São Paulo: Artmed Editora s. a.
Bond, J & Coleman, P. (1994). Aging into the twenty-firstcentury. In Bond, J, Coleman, P. & Peace, S. (Eds.).Ageing in Society - An introdution do social gerontology
(2nd Ed.) (p. 333-350). Londres: Sage Publications.
Cerqueira, M. (2004). O recurso aos apoios formais: afamília, o idoso e os cuidado(re)s formais. In Sousa, L.,Figueiredo, D. & Cerqueira, M. Envelhecer em família -Os cuidados familiares na velhice (p. 13 - 49). Porto:AMBAR - Ideias no Papel, S.A.
Coleman, P. (1994). Adjustmant in later life. In Bond, J,Coleman, P. & Peace, S. (Eds.). Ageing in Society - Anintrodution do social gerontology (2nd Ed.) (p. 97-132).Londres: Sage Publications.
Comissão de Classificações da Organização Mundialde Ordens Nacionais, Academias e AssociaçõesAcadémicas de Clínicos Gerais/Médicos de Família -WONCA [Organização Mundial de Médicos de Família](1999). Classificação Internacional de cuidados
primários (2ª Ed). Oxford: Oxford University Press.
Fernandes, A. (1997). Velhice e sociedade: demografia,famílias e políticas sociais em Portugal. Oeiras: Celta.
Figueiredo, D. (2004). Cuidados familiares: cuidar e sercuidado na família. In Sousa, L., Figueiredo, D. &Cerqueira, M. Envelhecer em família - Os cuidadosfamiliares na velhice (p. 51 - 73). Porto: AMBAR - Ideiasno Papel, S.A.
José, J., Wall, K. & Correia, S. (2002). Trabalhar ecuidar de um idoso dependente: problemas e soluções
[versão electrónica]. Instituto de Ciências Sociais daUniversidade de Lisboa. Retirado em 9 de Abril de 2007de www.uta.fi./laitokset/sospol/soccare/.
Melo, G. (2005). Apoio ao doente no domicílio. InCastro-Caldas, A., & Mendonça, A. A Doença de
Alzheimer e outras demências em Portugal (p. 183 -198). Lisboa: LIDEL- Edições Técnicas, lda.
Parente, M. & Wagner, G. (2006). Teorias abrangentessobre o envelhecimento cognitivo. In Parente, M. (Ed.)Cognição e envelhecimento (p. 275-284). São Paulo:Artmed Editora s. a.
Pimentel, L. (2005). O lugar do idoso na família: contex-tos e trajectórias (2ª ed.). Coimbra: Quarteto.
Silva, M.. (1996). Um psicólogo num centro de dia paraa terceira idade: relato de uma experiência. Geriatria, 9(89), 20.
Sousa, L. (2004). Ciclo (final) de vida familiar. In Sousa,L., Figueiredo, D. & Cerqueira, M. Envelhecer emfamília - Os cuidados familiares na velhice (p. 13 - 49).Porto: AMBAR - Ideias no Papel, S.A.
Teixeira, P. (2006). Envelhecendo passo a passo.Retirado em 29 de Março da www.psicologia.com.pt
Trentini, C., Xavier F. & Fleck M. (2006). Qualidade devida em idosos. In Parente, M. (Ed.) Cognição e enve-lhecimento (p. 275-284). São Paulo: Artmed Editora s. a.
Referências de página de internet:
http://www.medicosdeportugal.iol.pt/action/2/cnt_id/838/
http://www.projectotio.net
http://www.psicologia.com.pt
http://www.viver.org

CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO
t
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO

TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
74
TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
MINISTÉRIO DO TRABALHOE DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
Decreto-Lei n.º 64/2007 de 14 de Março
No âmbito de uma cada vez maior preocupaçãocom a qualidade dos equipamentos sociais no querespeita à segurança e ao bem-estar dos cidadãos,por um lado, e à simplificação dos procedimentosde licenciamento e funcionamento dos equipamen-tos, por outro, o XVII Governo Constitucionalassumiu como prioridade Diário da República, 1.ªsérie - N.º 52 - 14 de Março de 2007 1607 avaliar ereformular as regras de implementação no terrenodas respostas fundamentais para o desenvolvimen-to social das crianças, a promoção da autonomia ede cuidados com as pessoas idosas e pessoas comdeficiência e a conciliação da vida pessoal, familiare profissional das famílias portuguesas.
Neste contexto e integrando o espírito do pacto decooperação para a solidariedade social e da lei debases da segurança social, são afirmados os princí-pios da cooperação entre o Estado e o sectorsolidário, no que diz respeito ao licenciamento dofuncionamento dos serviços e estabelecimentossociais mas também à premente necessidade deum planeamento eficaz da rede de equipamentossociais, independentemente das regras de financia-mento que se venham a adoptar.
O regime de licenciamento encontrava-se jádefinido no Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio,com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lein.º268/99, de 15 de Julho. A experiência da sua apli-cação veio, entretanto, permitir a avaliação de difi-culdades, de lacunas, de procedimentos complexose burocratizados, impondo-se, assim, a alteraçãosubstancial do regime em vigor.
Considerando, desde logo, a vertente da simplifi-cação de procedimentos e o Programa deSimplificação Administrativa SIMPLEX, define-seneste diploma um interlocutor único para o licencia-mento dos estabelecimentos de apoio social geridospor entidades privadas, a realização de vistoriasconjuntas das entidades competentes, a eliminaçãoda exigência da apresentação de vários documen-tos, a redução dos prazos actualmente previstos e adivulgação no sítio da Internet da segurança socialdos actos actualmente sujeitos a publicação noDiário da República.
Esta vertente de simplificação emodernização, jácontemplada no presente decreto-lei, não prejudica,no entanto, o rigor na definição e verificação dascondições de instalação e de funcionamento dos
serviços prestados, que respeitam nomeadamenteà segurança e qualidade de vida dos respectivosutentes. A responsabilidade do Estado na garantiadessas condições é uma responsabilidade acresci-da, quando, em regra, estão em causa serviçosprestados aos grupos mais vulneráveis, comosejam crianças, jovens, pessoas com deficiência ouem situação de dependência e idosos.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio dasRegiões Autónomas, a Associação Nacional deMunicípios Portugueses e a Associação Nacionalde Freguesias.
Assim:No desenvolvimento do regime jurídico estabeleci-do pela Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, e nostermos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º daConstituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.ºObjecto
O presente decreto-lei define o regime de licencia-mento e de fiscalização da prestação de serviços edos estabelecimentos de apoio social, adiante de-signados por estabelecimentos, em que sejamexercidas actividades e serviços do âmbito dasegurança social relativos a crianças, jovens, pes-soas idosas ou pessoas com deficiência, bem comoos destinados à prevenção e reparação das situ-ações de carência, de disfunção e de marginaliza-ção social.
Artigo 2.ºÂmbito
1 - O presente decreto-lei aplica-se aos estabeleci-mentos das seguintes entidades:a) Sociedades ou empresários em nome individual;b) Instituições particulares de solidariedade socialou instituições legalmente equiparadas;c) Entidades privadas que desenvolvam activi-dades de apoio social.
2 - O presente decreto-lei não se aplica aos orga-nismos da Administração Pública, central, regionale local, e aos estabelecimentos da Santa Casa daMisericórdia de Lisboa.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
75
Artigo 3.ºEstabelecimentos de apoio social
Consideram-se de apoio social os estabelecimentosem que sejam prestados serviços de apoio às pes-soas e às famílias, independentemente de estesserem prestados em equipamentos ou a partir deestruturas prestadoras de serviços, que prossigamos seguintes objectivos do sistema de acção social:a) A prevenção e reparação de situações de carên-cia e desigualdade sócio-económica, de dependên-cia e de disfunção, exclusão ou vulnerabilidadesociais;b) A integração e promoção comunitárias das pes-soas e o desenvolvimento das respectivas capaci-dades;c) A especial protecção aos grupos mais vul-neráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoascom deficiência e idosos.
Artigo 4.ºRespostas sociais
1—Os serviços referidos no artigo anterior con-cretizam-se, nomeadamente, através das seguintesrespostas sociais:a) No âmbito do apoio a crianças e jovens: creche,centro de actividades de tempos livres, lar de infân-cia e juventude e apartamento de autonomização,casa de acolhimento temporário;b) No âmbito do apoio a pessoas idosas: centro deconvívio, centro de dia, centro de noite, lar deidosos, residência;c) No âmbito do apoio a pessoas com deficiência:centro de actividades ocupacionais, lar residencial,residência autónoma, centro de atendimento, acom-panhamento e animação de pessoas com deficiência;d) No âmbito do apoio a pessoas com doençado foro mental ou psiquiátrico: fórum sócio--ocupacional, unidades de vida protegida, autóno-ma e apoiada;e) No âmbito do apoio a outros grupos vulneráveis:apartamento de reinserção social, residência parapessoas com VIH/sida, centro de alojamento tem-porário e comunidade de inserção;f) No âmbito do apoio à família e comunidade: cen-tro comunitário, casa de abrigo e serviço de apoiodomiciliário.
2 - Consideram-se ainda de apoio social os esta-belecimentos em que sejam desenvolvidas activi-dades similares às referidas no número anteriorainda que sob designação diferente.
Artigo 5.ºRegulamentação específica
As condições técnicas de instalação e funciona-mento dos estabelecimentos são as regulamen-tadas em diplomas específicos e em instrumentosregulamentares aprovados pelo membro doGoverno responsável pelas áreas do trabalho e dasolidariedade social.
CAPÍTULO IILicenciamento ou autorização da construção
Artigo 6.ºCondições de instalação dos estabelecimentos
Consideram-se condições de instalação de umestabelecimento as que respeitam à construção,reconstrução, ampliação ou alteração de um edifí-cio adequado ao desenvolvimento dos serviços deapoio social, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 7.ºRequerimento e instrução
1 - O licenciamento de construção é requerido àcâmara municipal e está sujeito ao regime jurídicodo licenciamento municipal de obras particulares,com as especificidades previstas no presentedecreto-lei e nos instrumentos regulamentaresrespeitantes às condições de instalação dos esta-belecimentos.
2 - A aprovação do projecto sujeito a licenciamentopela câmara municipal carece dos pareceresfavoráveis das entidades competentes, nomeada-mente do Instituto da Segurança Social, I. P., doServiço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil eda autoridade de saúde.
3 - Ointeressado pode solicitar previamente ospareceres das entidades competentes, ao abrigodo artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 deDezembro.
Artigo 8.º Pareceres obrigatórios
1 - O parecer do Instituto da Segurança Social, I. P.,incide sobre:a) As condições de localização do estabelecimento;b) O cumprimento das normas estabelecidas nopresente decreto-lei e das condições definidas nostermos do artigo 5.º;

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
76
c) A adequação, do ponto de vista funcional e for-mal, das instalações projectadas ao uso pretendi-do;d) A lotação máxima do estabelecimento.
2 - O parecer do Serviço Nacional dos Bombeirose Protecção Civil incide sobre a verificação documprimento das regras de segurança contrariscos de incêndio das instalações ou do edifício.
3 - O parecer da autoridade de saúde incide sobrea verificação do cumprimento das normas dehigiene e saúde.
4 - Quando desfavoráveis, os pareceres das enti-dades referidas nos números anteriores são vincu-lativos.
5 - Os pareceres são emitidos no prazo de 30 diasa contar da data da recepção do pedido da câmaramunicipal.
6 - O prazo previsto no número anterior pode serprorrogado, uma só vez, por igual período, emcondições excepcionais e devidamente fundamen-tadas.
7 - Considera-se haver concordância das entidadesconsultadas se os respectivos pareceres não foremrecebidos dentro do prazo fixado nos númerosanteriores.
Artigo 9.ºVistoria conjunta
1 - Concluídas as obras e equipado o estabeleci-mento em condições de iniciar o seu funcionamen-to, pode a câmara municipal, nos termos do dispos-to nos artigos 63.º e seguintes do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, promover a realizaçãode uma vistoria conjunta às instalações, no prazode 30 dias após a comunicação da conclusão daobra pelos interessados e, sempre que possível,em data a acordar entre as partes.
2 - A vistoria é realizada por uma comissão com-posta por:a) Um técnico a designar pela câmara municipal,com formação e habilitação legal para assinar pro-jectos correspondentes à obra objecto da vistoria;b) Dois representantes do Instituto da SegurançaSocial, I. P., devendo ser um da área social e outroda área técnica;c) O delegado concelhio de saúde ou o adjunto dodelegado concelhio de saúde;d) Um representante do Serviço Nacional deBombeiros e Protecção Civil.
3 - O requerente da licença ou da autorização deutilização, os autores dos projectos e o técnico
responsável pela direcção técnica da obra partici-pam na vistoria sem direito a voto.
4 - Compete ao presidente da câmara municipal aconvocação das entidades referidas nas alíneas b)a d) do n.º 2 e das pessoas referidas no númeroanterior.
5 - Desde que as entidades referidas no númeroanterior sejam regularmente convocadas, a sua nãocomparência não é impeditiva nem constitui justifi-cação da não realização da vistoria, nem da con-cessão da licença ou da autorização de utilização.
6 - A comissão referida no n.º 2, depois de proce-der à vistoria, elabora o respectivo auto, devendoentregar uma cópia ao requerente.
7 -Quando o auto de vistoria conclua em sentidodesfavorável ou quando seja desfavorável o voto,fundamentado, de um dos elementos referidos nasalíneas b), c) e d) do n.º 2, não pode ser concedidaa licença ou a autorização de utilização.
Artigo 10.ºLicença ou autorização de utilização
Quando tenha sido efectuada a vistoria prevista noartigo anterior e verificando-se que as instalaçõesse encontram de harmonia com o projecto aprova-do, é emitida pela câmara municipal, no prazo de30 dias, a correspondente licença ou autorizaçãode utilização.
CAPÍTULO IIILicenciamento da actividade
Artigo 11.ºÂmbito
1 - Os estabelecimentos abrangidos pelo presentedecreto-lei só podem iniciar a actividade após aconcessão da respectiva licença de funcionamento,sem prejuízo do disposto nos artigos 37º e 38.º
2 - A instrução do processo e a decisão do pedidode licença de funcionamento são da competênciado Instituto da Segurança Social, I. P.
Artigo 12.ºConcessão da licença
A licença de funcionamento depende da verificaçãodas seguintes condições:a) Da existência de instalações e de equipamentoadequados ao desenvolvimento das actividadespretendidas;

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
77
b) Da apresentação de projecto de regulamentointerno elaborado nos termos do artigo 26.º;c) Da existência de um quadro de pessoal adequa-do às actividades a desenvolver, de acordo com osdiplomas referidos no artigo 5.º;d) Da regularidade da situação contributiva dorequerente, quer perante a segurança social, querperante a administração fiscal;e) Da idoneidade do requerente e do pessoal aoserviço do estabelecimento, considerando o dis-posto no artigo 14.º
Artigo 13.ºLegitimidade para requerer o licenciamento
Tem legitimidade para requerer o licenciamentotoda a pessoa singular ou colectiva que pretendaexercer a actividade, independentemente do títulode utilização das instalações afectas à actividade,desde que não se encontre impedida nos termos do artigo 14.º
Artigo 14.ºImpedimentos
1 - Não podem exercer funções, a qualquer título, nosestabelecimentos as pessoas relativamente às quaisse verifique algum dos seguintes impedimentos:a) Terem sido interditadas do exercício das activi-dades em qualquer estabelecimento abrangidopelo presente decreto-lei;b) Terem sido condenadas, por sentença transitadaem julgado, qualquer que tenha sido a natureza docrime, nos casos em que tenha sido decretada ainterdição de profissão relacionada com a activi-dade de estabelecimentos de idêntica natureza.
2 -Tratando-se de pessoa colectiva, os impedimen-tos aplicam-se às pessoas dos administradores,sócios gerentes, gerentes ou membros dos órgãossociais das instituições.
Artigo 15.ºRequerimento
1 - O pedido de licenciamento da actividade éefectuado mediante a apresentação de requeri-mento em modelo próprio dirigido ao órgão compe-tente do Instituto da Segurança Social, I. P., instruí-do com os documentos referidos no artigo 16.º
2 - Do requerimento deve constar:a) A identificação do requerente;b) A denominação do estabelecimento;c) A localização do estabelecimento;
d) A identificação da direcção técnica;e) O tipo de serviços que se propõe prestar;f) A lotação máxima proposta.
Artigo 16.ºDocumentos anexos ao requerimento
1 - O requerimento deve ser acompanhado dosseguintes documentos:a) Fotocópia do cartão de identificação de pessoacolectiva ou do bilhete de identidade do requerente;b) Fotocópia do cartão de identificação fiscal;c) Certidão do registo ou de matrícula e cópia dosestatutos, caso o requerente seja uma pessoacolectiva;d) Certidão do registo criminal do requerente oudos representantes legais referidos no n.º 2 do arti-go 14.º;e) Declaração da situação contributiva perante aadministração fiscal ou autorização para consultadessa informação por parte dos serviços compe-tentes da segurança social;f) Documento comprovativo do título da posse ouutilização das instalações;g) Licença ou autorização de utilização;h) Quadro de pessoal, com indicação das respecti-vas categorias, habilitações literárias e conteúdofuncional;i) Projecto de regulamento interno;j) Minuta de contrato a celebrar com os utentes ouseus representantes, quando exigível nos termosdo artigo 25.º
2 - O requerente pode ser dispensado da apresen-tação de alguns dos documentos previstos nonúmero anterior, caso esteja salvaguardado o aces-so à informação em causa por parte do Instituto daSegurança Social, I. P., designadamente por efeitode processos de interconexão de dados com outrosorganismos da Administração Pública.
3 - Os serviços do Instituto da Segurança Social, I.P., devem comprovar que a situação contributiva dasegurança social relativa ao requerente se encontraregularizada.
4 - Caso se comprove que a situação contributivado requerente não se encontra regularizada, deve ointeressado ser notificado para, no prazo de 10dias, proceder à respectiva regularização, sob penade indeferimento do pedido.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
78
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
Artigo 17.ºDecisão sobre o pedido de licenciamento
1 - O Instituto da Segurança Social, I. P., profere adecisão sobre o pedido de licenciamento no prazode 30 dias a contar da data de recepção do reque-rimento devidamente instruído.
2 - O requerimento é indeferido quando não foremcumpridas as condições e requisitos previstos nopresente decreto-lei.
Artigo 18.ºLicença de funcionamento
1 - Concluído o processo e verificando-se que oestabelecimento reúne todos os requisitos legal-mente exigidos, é emitida a licença, em impressode modelo próprio a aprovar por portaria do mem-bro do Governo responsável pelas áreas do traba-lho e da solidariedade social.
2 - Da licença de funcionamento deve constar:a) A denominação do estabelecimento;b) A localização;c) A identificação da pessoa ou entidade gestora doestabelecimento;d) A actividade que pode ser desenvolvida no esta-belecimento;e) A lotação máxima;f) A data de emissão.
Artigo 19.ºAutorização provisória de funcionamento
1 - Nos casos em que não se encontrem reunidastodas as condições de funcionamento exigidas paraa concessão da licença, mas seja seguramenteprevisível que as mesmas possam ser satisfeitas,pode ser concedida uma autorização provisória defuncionamento, salvo se as condições de funciona-mento forem susceptíveis de comprometer asaúde, segurança ou bem-estar dos utentes.
2 - A autorização referida no número anterior é con-cedida, por um prazo máximo de 180 dias, pror-rogável por igual período, por uma só vez, medi-ante requerimento devidamente fundamentado.
3 - Se não forem satisfeitas as condições especifi-cadas na autorização provisória dentro do prazoreferido no número anterior, é indeferido o pedidode licenciamento.
4 - No período de vigência da autorização pro-visória de funcionamento, os estabelecimentosbeneficiam das isenções e regalias previstas noartigo 23.º
5 - Às instituições particulares de solidariedadesocial ou equiparadas, ou outras instituições semfins lucrativos com quem o Instituto da SegurançaSocial, I. P., pretenda celebrar acordo de coope-ração, que reúnam todas as condições de funciona-mento exigidas para a concessão de licença, é con-cedida uma autorização provisória de funcionamen-to por um prazo de 180 dias, renovável até à cele-bração de acordo.
Artigo 20.ºSuspensão da licença
1 - A interrupção da actividade do estabelecimentopor um período superior a um ano determina a sus-pensão da respectiva licença.
2 - A proposta de decisão da suspensão é notifica-da ao interessado pelo Instituto da SegurançaSocial, I. P., que dispõe de um prazo de 10 diaspara contestar os fundamentos invocados para asuspensão da licença.
3 - Se não for apresentada resposta no prazo fixa-do, ou a contestação não proceder, é proferida adecisão de suspensão.
4 - Logo que se alterem as circunstâncias quedeterminaram a suspensão da licença, pode o inte-ressado requerer o termo da suspensão.
Artigo 21.ºCaducidade da licença
A interrupção da actividade por um período superi-or a cinco anos, ou a cessação definitiva, determi-na a caducidade da licença.
Artigo 22.ºSubstituição da licença
1 - Quando se verifique a alteração de qualquer doselementos previstos no n.º 2 do artigo 18.º, deveser requerida, no prazo de 30 dias, a substituiçãoda licença.
2 - Com o requerimento de substituição devem serapresentados os documentos comprovativos daalteração.
3 - O pedido de substituição é indeferido se as alte-rações não respeitarem as condições de instalaçãoe de funcionamento legalmente estabelecidas.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
79
Artigo 23.ºUtilidade social
Os estabelecimentos que se encontrem licenciadosnos termos do presente capítulo são consideradosde utilidade social.
CAPÍTULO IVDas obrigações das entidades gestoras
Artigo 24.ºDenominação dos estabelecimentos
Cada estabelecimento ou estrutura prestadora deserviços deve possuir uma denominação própria,de forma a garantir a perfeita individualização eimpedir a duplicação de denominações.
Artigo 25.ºContratos de alojamento e prestação
de serviços
Os diplomas regulamentares referidos no artigo 5.ºpodem estabelecer a obrigatoriedade de cele-bração por escrito de contratos de alojamento oude prestação de serviços com os utentes ou seusrepresentantes legais, devendo os mesmos inte-grar cláusulas sobre os principais direitos e deveresdas partes contratantes.
Artigo 26.ºRegulamento interno
Cada estabelecimento dispõe de um regulamentointerno, do qual constem, designadamente:a) As condições de admissão dos utentes;b) As regras internas de funcionamento;c) O preçário ou tabela de comparticipações, com acorrespondente indicação dos serviços prestados eforma e periodicidade da sua actualização.
Artigo 27.ºAfixação de documentos
Em local bem visível, devem ser afixados nos esta-belecimentos abrangidos pelo presente decreto-leios seguintes documentos:a) Uma cópia da licença, ou da autorização pro-visória de funcionamento;b) O mapa de pessoal e respectivos horários deacordo com a lei em vigor;c) O nome do director técnico;d) O horário de funcionamento do estabelecimento;
e) O regulamento interno;f) A minuta do contrato, quando exigível;g) O mapa semanal das ementas, quando aplicável;h) O preçário, com a indicação dos valores mínimose máximos;i) O valor da comparticipação financeira do Estadonas despesas de funcionamento dos estabeleci-mentos, quando aplicável.
Artigo 28.ºLivro de reclamações
1 - Nos estabelecimentos deve existir um livro dereclamações destinado aos utentes, familiares ouvisitantes, de harmonia com o disposto na legis-lação em vigor.
2 - A fiscalização, a instrução dos processos e aaplicação das coimas e sanções acessórias previs-tas nodiploma referido no número anterior competeaos serviços do Instituto da Segurança Social, I. P.
Artigo 29.ºTaxas
São devidas taxas, a fixar por portaria do membro doGoverno responsável pelas áreas do trabalho e dasolidariedade social, pela emissão e substituição delicenças e autorizações provisórias de funcionamento.
Artigo 30.ºOutras obrigações das entidades gestoras
1 - Os proprietários ou titulares dos estabelecimen-tos são obrigados a facultar aos serviços compe-tentes de fiscalização e inspecção o acesso a todasas dependências do estabelecimento e as infor-mações indispensáveis à avaliação e fiscalizaçãodo seu funcionamento.
2 - Os proprietários ou titulares dos estabelecimen-tos são ainda obrigados a remeter ao Instituto daSegurança Social, I. P.:a) Anualmente, o preçário em vigor, os mapasestatísticos dos utentes e a relação do pessoalexistente no estabelecimento, acompanhado dedeclaração em como não se verifica qualquer dosimpedimentos referidos no artigo 14.º;b) Até 30 dias antes da sua entrada em vigor, asalterações ao regulamento interno do estabeleci-mento;c) No prazo de 30 dias, informação de qualqueralteração dos elementos referidos no artigo 18.o e,bem assim, da interrupção ou cessação de activi-dades por iniciativa dos proprietários.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
80
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
CAPÍTULO VAvaliação e fiscalização
Artigo 31.ºAvaliação e vistorias técnicas
1 - Compete aos serviços do Instituto da SegurançaSocial, I. P., avaliar o funcionamento do estabeleci-mento, designadamente:a) Verificar a conformidade das actividadesprosseguidas com as previstas na licença de fun-cionamento;b) Avaliar a qualidade e verificar a regularidade dosserviços prestados aos utentes, nomeadamente, noque se refere a condições de instalação e aloja-mento, adequação do equipamento, alimentação econdições hígio-sanitárias.
2 - As acções referidas no número anterior devemser acompanhadas pelo director técnico do esta-belecimento e concretizam-se, nomeadamente,através da realização de, pelo menos, uma vistoriade dois em dois anos.
3 - Além das vistorias regulares, referidas nonúmero anterior, o Instituto da Segurança Social, I.P., deve promover a realização de vistorias extra-ordinárias, sempre que as mesmas se justifiquem.
CAPÍTULO VAvaliação e fiscalização
Artigo 31.ºAvaliação e vistorias técnicas
1 - Compete aos serviços do Instituto da SegurançaSocial, I. P., avaliar o funcionamento do estabeleci-mento, designadamente:a) Verificar a conformidade das actividadesprosseguidas com as previstas na licença de fun-cionamento;b) Avaliar a qualidade e verificar a regularidade dosserviços prestados aos utentes, nomeadamente, noque se refere a condições de instalação e aloja-mento, adequação do equipamento, alimentação econdições hígio-sanitárias.
2 - As acções referidas no número anterior devemser acompanhadas pelo director técnico do esta-belecimento e concretizam-se, nomeadamente,através da realização de, pelo menos, uma vistoriade dois em dois anos.
3 - Além das vistorias regulares, referidas nonúmero anterior, o Instituto da Segurança Social, I.P., deve promover a realização de vistorias extra-ordinárias, sempre que as mesmas se justifiquem.
Artigo 32.ºAcções de fiscalização dos estabelecimentos
Compete aos serviços do Instituto da SegurançaSocial, I. P., sem prejuízo da acção inspectiva dosorganismos competentes, desenvolver acções defiscalização dos estabelecimentos e desencadearos procedimentos respeitantes às actuações ilegaisdetectadas, bem como promover e acompanhar aexecução das medidas propostas.
Artigo 33.ºColaboração de outras entidades
Para efeitos das acções de avaliação e fiscalizaçãoprevistas nos artigos anteriores, o Instituto daSegurança Social, I. P., pode solicitar a colaboraçãode peritos e entidades especializadas, daInspecção-Geral do Ministério do Trabalho e daSolidariedade Social, do Serviço Nacional deBombeiros e Protecção Civil, da autoridade desaúde e de outros serviços competentes, tendodesignadamente em consideração as condições desalubridade e segurança, acondicionamento dosgéneros alimentícios e condições hígio-sanitárias.
Artigo 34.ºComunicação às entidades interessadas
O resultado das acções de avaliação e de fiscaliza-ção referidas nos artigos 31.º e 32.º deve ser comu-nicado à entidade gestora do estabelecimento noprazo de 30 dias após a conclusão das acções.
CAPÍTULO VIEncerramento administrativo
dos estabelecimentos
Artigo 35.ºCondições e consequências
do encerramento administrativo
1 - Pode ser determinado o encerramento imediatodo estabelecimento nos casos em que apresentedeficiências graves nas condições de instalação,segurança, funcionamento, salubridade, higiene econforto, que ponham em causa os direitos dosutentes ou a sua qualidade de vida.
2 - A medida de encerramento implica, automatica-mente, a caducidade da licença ou da autorizaçãoprovisória de funcionamento, bem como a ces-sação dos benefícios e subsídios previstos na lei.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
81
Artigo 36.ºCompetência e procedimentos
1 - O encerramento do estabelecimento competeao conselho directivo do Instituto da SegurançaSocial, I. P., mediante deliberação fundamentada.
2 - Para a efectivação do encerramento do esta-belecimento, a entidade referida no número anteri-or pode solicitar a intervenção das autoridadesadministrativas e policiais competentes.
3 - O encerramento do estabelecimento não preju-dica a aplicação das coimas relativas às contra-ordenações previstas no regime sancionatórioaplicável.
CAPÍTULO VIIDisposições especiais para os
estabelecimentos desenvolvidos no âmbito da cooperação
Artigo 37.ºPareceres prévios
1 - A fim de fomentar uma utilização eficiente dosrecursos e equipamentos sociais, as instituiçõesparticulares de solidariedade social ou equiparadasdevem solicitar, aos serviços competentes da segu-rança social, parecer prévio da necessidade socialdo equipamento, juntando para o efeito parecer doconselho local de acção social, cuja fundamen-tação deve ser sustentada em instrumentos deplaneamento da rede de equipamentos sociais.
2 - O parecer prévio previsto no número anteriordeve anteceder a emissão do parecer técnico pre-visto no artigo 7.º
Artigo 38.ºRegime aplicável
Os estabelecimentos das instituições particularesde solidariedade social e de outras instituições semfins lucrativos abrangidos por acordos de coope-ração celebrados com o Instituto da SegurançaSocial, I. P., estão sujeitos às condições de fun-cionamento e obrigações estabelecidas no pre-sente decreto-lei e nos respectivos diplomasespecíficos, não lhes sendo, porém, aplicáveis,enquanto os acordos vigorarem, as disposições delicenciamento da actividade constantes do capítuloIII, sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 19.º
Artigo 39.ºCondições da celebração de acordos
de cooperação
1 - A celebração de acordos de cooperação com asinstituições referidas no artigo anterior depende daverificação das condições de funcionamento dosestabelecimentos objecto dos acordos, nomeada-mente das referidas no artigo 12.º, independente-mente dos demais requisitos estabelecidos nosdiplomas especialmente aplicáveis aos acordos decooperação.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior éelaborado relatório pelos serviços competentes doInstituto da Segurança Social, I. P., que confirme aexistência de condições legais de funcionamento.
CAPÍTULO VIIIDisposições finais e transitórias
Artigo 40.ºPublicidade dos actos
1 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.,promover a divulgação dos seguintes actos:a) Emissão da licença ou, se for caso disso, da auto-rização provisória de funcionamento e suspensão,substituição, cessação ou caducidade da licença;b) Decisões condenatórias definidas no regime espe-cialmente aplicável às contra-ordenações ou quedeterminem o encerramento do estabelecimento.
2 - As divulgações referidas no número anteriordevem ser feitas em sítio da segurança social naInternet, de acesso público, no qual a informaçãoobjecto de publicidade possa ser acedida e em umdos órgãos de imprensa de maior expansão nalocalidade.
3 - No caso de encerramento do estabelecimento,os serviços competentes do Instituto da SegurançaSocial, I. P., devem promover a afixação de avisona porta principal de acesso ao estabelecimento,que se mantém pelo prazo de 30 dias.

TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
82
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
Artigo 41.ºFormulários
1 - Por portaria do membro do Governo responsá-vel pelas áreas do trabalho e da solidariedadesocial são definidos os documentos que obedecema formulários aprovados pelo mesmo diploma,tendo em vista a uniformização e simplificação deprocedimentos.
2 - Os formulários dos documentos a preencherpelas entidades requerentes devem ser acessíveisvia Internet.
Artigo 42.ºEstabelecimentos em funcionamento
Os estabelecimentos em funcionamento à data daentrada em vigor do presente decreto-lei, que nãose encontrem licenciados, devem adequar-se àsregras estabelecidas no presente decreto-lei ediplomas regulamentares referidos no artigo 5.º,com as adaptações necessárias a cada tipo deestabelecimento, nas condições e dentro dos pra-zos nos mesmos fixados.
Artigo 43.ºProcessos em curso
Os procedimentos relativos ao licenciamento cujosprocessos se encontram em fase de instrução àdata da publicação do presente decreto-lei continu-am a reger-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, e demais legislação aplicável.
Artigo 44.ºCondições de segurança contra incêndios
1 - É aplicável às condições de segurança referidasno presente decreto-lei, com as necessáriasadaptações, o disposto no Regulamento deSegurança contra Incêndios para Edifícios do TipoHospitalar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 409/98,de 23 de Dezembro, no Regulamento de Segu-rança contra Incêndios para Edifícios Escolares,aprovado pelo Decreto-Lei n.o 414/98, de 31 deDezembro, ou no Regulamento de Segurança con-tra Incêndios em Edifícios de Habitação, aprovadopelo Decreto-Lei n.o 64/90, de 21 de Fevereiro,consoante as características do estabelecimento enos termos dos diplomas previstos no artigo 5.º
2 - Nos casos em que seja aplicável o Regulamen-to aprovado pelo Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 deFevereiro, as condições mínimas de segurança sãoainda garantidas através da colocação, nas insta-lações dos estabelecimentos, dos meios deprimeira intervenção em caso de incêndio a definirnos diplomas previstos no artigo 5.º
Artigo 45.º Regime sancionatório
1 - Aplica-se ao licenciamento da actividade oregime sancionatório constante do capítulo IV doDecreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio.
2 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.,a instrução e decisão dos processos de contra-ordenação referidos no número anterior.
Artigo 46.ºAplicação às Regiões Autónomas
O presente decreto-lei é aplicável às RegiõesAutónomas dos Açores e da Madeira, nos termos dodisposto no artigo 131.o da Lei n.º 32/2002, de 20de Dezembro, com as necessárias adaptações,decorrentes nomeadamente da especificidade dosserviços competentes nesta matéria.
Artigo 47.ºNorma revogatória
Fica revogado o Decreto-Lei n.o 133-A/97, de 30 deMaio, sem prejuízo do disposto no artigo 45.º
Artigo 48.ºEntrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no prazo de60 dias após a sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 4 deJaneiro de 2007. - José Sócrates Carvalho Pinto deSousa - António Luís Santos Costa - Emanuel
Augusto dos Santos - José António Fonseca Vieira
da Silva - António Fernando Correia de Campos.
Promulgado em 26 de Fevereiro de 2007.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 28 de Fevereiro de 2007.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

83
TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
O texto seguinte foi retirado da Revista
Transdisciplinar de Gerontologia (Ano I, Vol. I,Dezembro / Maio 2006-2007).
A SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE:OLHAR, MUDAR E AGIR
Se falar, reflectir e auscultar a sexualidade nasdiferentes fases do ciclo vital é difícil, constrangedore preconceituoso, mais delicado parece ser auten-ticar a sexualidade na terceira idade.
Neste domínio muito se tem investigado, analisadoe corroborado, porém, as conclusões referem-sequase exclusivamente a amostras de adolescentes,jovens e adultos. Assim e além da longevidade dapopulação ter obrigado ao desenvolvimento de umconjunto de pesquisas relacionadas com o idoso,também é claro que parcas investigações têm sidorealizadas no âmbito desta dimensão humana - aSexualidade (Negreiros, 2004).
Entender a sexualidade é um processo complexo,íngreme e inacabado e isto deve-se, entre outros fac-tores, às representações enraizadas na sociedadedo conceito de sexualidade como sinónimo de sexo,utilizadas comummente como análogos.
É óbvio que uma das grandezas da sexualidade é arelação sexual, porém, ela não se reduz a este acto;ela compreende a necessidade de contacto, ternu-ra de intimidade, um conjunto de sentimentos, com-portamentos e afectos (OMS). É uma “dimensãohumana eminentemente relacional e íntima… umelemento essencial … no bem-estar físico e emo-cional dos indivíduos” (ME, CCPES, MS, APF, CAN& RNEPS, 2000, 23). É também uma forma daspessoas perceberem a sua identidade(Vasconcelos, 1994), pois, a intimidade e a proximi-dade dão sentido à vida dos indivíduos e ao esta-belecimento de vínculos securizantes.
Além da dificuldade em compreender o conceitoabrangente de sexualidade, denota-se uma tendên-cia em desvinculá-la deste período da vida. Comode um momento para o outro, esta dimensão desa-parecesse, fosse lacrada da vida das pessoas. Oidoso, analogamente à criança, é analisado numaperspectiva assexuada, sem quereres, sem desejos,sem sentires, sem fantasias, sem expectativas…
De facto, frequentemente deparamo-nos com dis-cursos sociais que denunciam estereótipos nega-tivos (Castro, 1999) associados às pessoas de ter-ceira idade, nomeadamente, que “não se interes-sam pela sexualidade” (Dinis, 1997). Ora, se a sexualidade é uma parte essencial do relaciona-mento com os outros, particularmente no domínioamoroso (ME et al., 2000), como é possível ponde-rar que na terceira idade não há espaço para amar,para ser amado, para sentir e para desejar. Esta ati-tude repressora da sexualidade das pessoas de ter-ceira idade é muito patente nos adultos, principal-mente nos familiares, que são um dos factores queeternizam esta assexualidade (Fericgla, 1992).
A sexualidade expressa-se de diferentes formas nasmúltiplas etapas do ciclo vital, assim a sexualidadeé evidentemente vivenciada e expressa de dife-rentes maneiras na terceira idade, comparativa-mente com as restantes etapas. Conforme refereCapodieci (2000, 231), “na idade avançada ama-sede maneira mais profunda, consegue-se purificar oamor da paixão que é mais sensual do que genital.Assim, para eles, um olhar ou uma carícia podemvaler mais do que muitas declarações de amor”. Écom estas palavras e expressões, bem mais espon-tâneas e autênticas que a sexualidade pode servivenciada pela pessoa e pelo casal nesta fase vital.
Além disso, o próprio envelhecimento fisiológicoproduz mudanças universais, afectando todas aspessoas que chegam à terceira idade (SPPC, s/d),no entanto e apesar das mudanças fisiológicas eanatómicas que se produzem, as pessoas podemmanter, se assim o desejarem, a sua actividadesexual.
De facto, a sexualidade na terceira idade, pareceestar mais associada à sua dimensão psicoafectivapois, como salienta Vasconcelos (1994, 84) “o suces-so conjugal na velhice está ligado à intimidade, àcompanhia e à capacidade de expressar sentimen-tos verdadeiros um para o outro, numa atmosfera desegurança, carinho e reciprocidade” e pode significaruma oportunidade de “expressar afecto, admiração eamor, a confirmação de um corpo funcional, aliadoao prazer de tocar e ser tocado”.

84
TEXTOS DE APROFUNDAMENTO TEMÁTICO
TEXTOS DE
APROFUNDAMENTO
TEMÁTICO
Diria mais, se a sexualidade é uma esfera da vidatão importante em todas as fases desenvolvimen-tais, dando significado e segurança às pessoas,maior segurança pode trazer às pessoas de terceiraidade pois, perante um conjunto de perdas e riscosque esta etapa pode acarretar, mais necessário setorna termos alguém com quem partilhar as nossasangústias e ansiedades.
A postura social generalizada que caracteriza a ter-ceira idade a partir de um conjunto de estereótipos,limitadamente críticos e privados de objectividade,distorcem a realidade dos indivíduos (Martins &Rodrigues, s/d). De facto, a terceira idade (assim,como as demais) tem sido objecto de múltiplascrenças, com a intencionalidade de homogeneizartodas as pessoas, ignorando a sua individualidade(Devide, 2000). Assim, a aceitação das represen-tações sociais gerontofóbicas, contribuí para que oidoso se acomode passivamente a estes rótulos,perpetuando a imagem que os próprios idosos têmem relação a si.
Desta maneira, o nosso agir, enquanto profissionaistem como ponto de partida e de chegada a nãoaceitação destas construções sociais, fazendo comque o próprio idoso tenha autonomia e capacidadepara “desmontar” as representações que se tem emrelação a este período da vida, sendo um agentepró-activo desta mudança.
Ao criarmos espaços de relação, de discussãodestes temas, especificamente, o da sexualidade,podemos estar a contribuir para a mudança de umaauto-imagem do idoso, ajudá-lo a perceber os seusdireitos, as suas capacidades, nomeadamente, acapacidade de amar, de se relacionar, de procurarcontacto, de desejar.
De facto, reflectindo e desmontando os seusreceios (muitas vezes associados à submissão daopinião de familiares, a situações financeiras, entreoutros) e percebendo e exigindo a sua individuali-dade, damos mais qualidade aos anos da sua vida.

d
DIAPOSITIVOS
DIAPOSITIVOS
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

DIAPOSITIVOS
86
DIAPOSITIVOS
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DIAPOSITIVOS
87
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DIAPOSITIVOS
88
DIAPOSITIVOS
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DIAPOSITIVOS
89
OBS.:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

90

i
OUTRA INFORMAÇÃO ÚTIL
INFORMAÇÃO ÚTIL
CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE CUIDADOSINTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA E O MEIO SOCIAL DO IDOSO
MANUAL DO FORMANDO

Figura 2.1 - Esquema do ciclo de construção da identidade pessoal, segundo a teoria da life span.
Quadro 4.1 - Tipologia das modalidades de apoio.
PÁG. 20
PÁG. 37
ÍNDICE DE QUADROS
E FIGURAS
ÍNDICE DE QUADROS E FIGURAS
92

Bond, J, Coleman, P. & Peace, S. (Eds.) (1994). Ageing inSociety - An introdution do socioal gerontology (2nd Ed.).Londres: Sage Publications.
Fernandes, A. (1997). Velhice e sociedade: demografia,famílias e políticas sociais em Portugal. Oeiras: Celta.
Figueiredo, D. (2004). Cuidados familiares: cuidar e sercuidado na família. In Sousa, L., Figueiredo, D. &Cerqueira, M.. Envelhecer em família - Os cuidados fami-liares na velhice (p. 51 - 73). Porto: AMBAR - Ideias noPapel, S.A.
Fontaine, R. (2000) Psicologia do Envelhecimento.Lisboa: Climepsi Editores.
Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social CID- Crianças, Idosos e Deficientes - Cidadania, Instituiçõese Direitos (2005). Manual de boas práticas. Uma guiapara o acolhimento residencial de pessoas mais velhas.Lisboa: instituto da Segurança Social IP
Melo, G. (2005). Apoio ao doente no domicílio. In Castro-Caldas, A., & Mendonça, A. A Doença de Alzheimer e ou-
tras demências em Portugal (p. 183 - 198). Lisboa:LIDEL- Edições Técnicas, lda.
Paúl, M. (1997). Lá para o fim da vida - Idosos, família emeio ambiente. Coimbra: Livraria Almedina.
Referências de página de internet:
http://i-gov.mrnet.pt/index.php
http://www.medicosdeportugal.iol.pt/action/2/cnt_id/838/
http://www.portaldoenvelhecimento.net
http://www.projectotio.net
http://www.seg-social.pt/
http://www.viver.org
BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA BIBLIOGRAFIA
ACONSELHADA
93

OUTROS AUXILIARES
DIDÁCTICOS
COMPLEMENTA
RES
94
Videograma Construção de uma rede de cuidados: intervenção com
a família e o meio social do idoso
Manual do formadorConstrução de uma rede de cuidados: intervenção com
a família e o meio social do idoso
OUTROS AUXILIARESDIDÁCTICOS COMPLEMENTARES

CONTA
CTOS ÚTEIS
95
APGAssociação Portuguesa de GerontopsiquiatriaServiço de Psicologia da Fac. Med. Univ. PortoAl. Prof. Hernâni Monteiro4200-319 PortoTel.: 22 502 39 63Fax (Psicologia): 22 508 80 11 (FMUP): 22 551 01 19E-mail: [email protected]://www.apgerontopsiquiatria.com/estatutos.php
Associação Portuguesa de PsicogerontologiaAv. Miguel Bombarda, nº 117, 1º1150-164 LisboaTel.: 213 546 933 ou 213 145 437Fax: 213 156 116http://www.app.com.pt
Centro de Neurociências e Biologia Molecular de CoimbraDepartamento de Zoologia, Universidade de Coimbra3004-517 CoimbraTel.: 239834729 e 239822752 Fax: 239826798 e 239822796http://www.uc.pt/cnc
Instituto de Farmacologia e Neurociências Instituto de Medicina Molecular - Faculdade deMedicina de LisboaAv. Prof. Egas Moniz1649-028 LisboaPortugalTel.: 217985183 Fax: 217999454http://www.neurociencias.pt/
Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis Av. Dr. Arlindo Vicente, n.º 68 B, Torre da Marinha 2840-403 SeixalTel.: 21 097 61 40 Fax: 21 097 61 41Email: [email protected]
Sociedade Americana de Neurociênciashttp://web.sfn.org/
SPAVCSociedade Portuguesa de AVCRua Afonso Baldaia, 574150-017 PortoTel.: 226168681/2Telemóvel: 936168681/2Fax: 226168683http://www.spavc.org/ E-mail geral: [email protected] da Direcção: [email protected] do secretariado: [email protected]
Alto Comissariado da SaúdeMinistério da SaúdeAvenida João Crisóstomo, 9, 7º piso1049-062 Lisboa Tel.: 21 330 5000Fax: 21 330 5190E-mail: [email protected]://www.acs.min-saude.pt/ACS
Santa Casa da Misericórdia de MértolaAchada de São Sebastião7750-295 MértolaTel.: 286 612 121Fax: 286 612 184E-mail: scmertola@clix
IFHInstituto de Formação para o DesenvolvimentoHumanoAv. dos Combatentes da Grande Guerra, 1C2890 - 015 AlcocheteE-mail: [email protected]
Associação Indiveri ColucciRua Lino Assunção, 6 - Paço de Arcos2770-109 Paço de ArcosTel.: 214 468 622 Fax: 214 410 188E-mail: [email protected]
Casa de Repouso de Paço d’ArcosRua José Moreira Rato, 2 - 2A2770-106 Paço de ArcosTel.: 214 427 520 / 214 427 570 / 214 437 421 Fax: 214 417 003E-mail: [email protected] www.colucci.pt
Clinia - Clínica Médica da LinhaRua Lino Assunção, 6, Paço de Arcos2780-637 Paço de ArcosTel.: 214 468 600 Fax: 214 410 188E-mail: [email protected] www.clinia.pa-net.pt
CONTACTOS ÚTEIS

AGRADECIMENTOS
96
Nenhum projecto é possível sem a colaboração ea parceria dos diferentes actores sociais.
Não seria justo, portanto, não deixar, um agrade-cimento profundo às entidades com quem esta-belecemos parcerias estratégicas que permitiramo desenvolvimento dos manuais técnicos evideogramas deste projecto.
O nosso obrigado ainda aos utentes e aos profis-sionais dessas instituições, dos mais aos menosnovos, que participaram de forma generosa nasdiversas filmagens, e que reconhecendo aimportância do nosso trabalho nos deram o alentoe a motivação necessária na prossecução dosobjectivos ambiciosos a que nos tínhamos proposto.
Destaque especial para a parceria com aAssociação Indiveri Colucci - Casa de Repouso dePaço d'Arcos / Clínica Médica da Linha, pelo apoiono desenvolvimento, permitindo, no local, traba-lhar e filmar situações-chave comuns às insti-tuições de apoio ao idoso, de uma forma positiva emambiente de grande qualidade, com a colaboraçãoactiva de toda a sua prestigiada equipa técnica.
O nosso reconhecimento muito particular ainda atodos os colaboradores e funcionários da SantaCasa da Misericórdia de Mértola e particularmenteaos seus utentes do século XXI.
A todos, o nosso Bem Hajam.
AGRADECIMENTOS

97

ENTIDADE PROMOTORA
ENTIDADE PARCEIRA