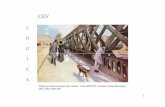Justificativas Enunciados CJF.codigo Civil
Transcript of Justificativas Enunciados CJF.codigo Civil
Direito CivilComposio do CJF Expediente Sumrio
III Jornada de
COMPOSIO DO CONSELHO DA JUSTIA FEDERAL Ministro EDSON Carvalho VIDIGAL Presidente Ministro SLVIO DE FIGUEIREDO Teixeira Vice-Presidente Ministro JOS ARNALDO da Fonseca Coordenador-Geral da Justia Federal, Diretor do Centro de Estudos Judicirios e Presidente da Turma Nacional de Uniformizao da Jurisprudncia dos Juizados Especiais Federais Ministro JOS Augusto DELGADO Ministro FERNANDO GONALVES Desembargador Federal ALOSIO PALMEIRA Lima Desembargador Federal FREDERICO Jos Leite GUEIROS Desembargadora Federal DIVA Prestes Marcondes MALERBI Desembargador Federal NYLSON PAIM DE ABREU Desembargador Federal FRANCISCO de Queiroz Bezerra CAVALCANTI Membros Efetivos Ministro FELIX FISCHER Ministro ALDIR Guimares PASSARINHO Jr. Ministro GILSON Langaro DIPP Desembargador Federal MRIO CSAR RIBEIRO Desembargador Federal Jos Eduardo CARREIRA ALVIM Desembargador Federal Paulo Octvio BAPTISTA PEREIRA Desembargadora Federal MARIA LCIA LUZ LEIRIA Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA Membros Suplentes Ney Natal de Andrade Coelho Secretrio-Geral.
COORDENADOR CIENTFICO DO EVENTO Ruy Rosado de Aguiar Jnior Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justia EDITORAO E REVISO Secretaria de Pesquisa e Informao Jurdicas do Centro de Estudos Judicirios SPI/CEJ Neide Alves Dias De Sordi Secretria Milra de Lucena Machado Amorim Subsecretria de Divulgao e Editorao da SPI/CEJ Lucinda Siqueira Chaves Diretora da Diviso de Editorao da SPI/CEJ Ariane Emlio Kloth Chefe da Seo de Edio de Textos da SPI/CEJ Maria Dalva Limeira de Arajo Chefe da Seo de Reviso de Textos da SPI/CEJ CAPA E DIAGRAMAO Alice Zilda Dalben Siqueira Servidora da Diviso de Divulgao Institucional da SPI/CEJ ILUSTRAO DA CAPA Mnica Antunes NOTAS TAQUIGRFICAS Subsecretaria de Taquigrafia do Superior Tribunal de Justia IMPRESSO Coordenadoria de Servios Grficos do Conselho da Justia Federal Luiz Alberto Dantas de Carvalho Coordenador
J82
Jornada de Direito Civil / Organizao Ministro Ruy Rosado de Aguiar Jr. Braslia : CJF, 2005. 508 p. ISBN 85-85572-80-9 1. Cdigo civil, 2002 2. Cdigo civil Enunciados 3. Direito das obrigaes 4. Responsabilidade civil 5. Direito de empresa 6. Direito das coisas 7. Direito de famlia 8. Sucesses. CDU: 347
Copyright c Conselho da Justia Federal 2005 ISBN 85-85572-80-9 Tiragem: 4.000 exemplares. Impresso no Brasil. autorizada a reproduo parcial ou total desde que indicada a fonte. As opinies expressas pelos autores no refletem necessariamente a posio do Conselho da Justia Federal.
SUMRIO1 2 Apresentao Conferncia inaugural Jos Carlos Moreira Alves
3
Conferncia de encerramento Jos de Oliveira Ascenso
4
Enunciados aprovados 4.1 Parte Geral 4.2 Direito das Obrigaes e Responsabilidade Civil 4.3 Direito de Empresa 4.4 Direito das Coisas 4.5 Direito de Famlia e Sucesses
5
Enunciados apresentados 5.1 Parte Geral 5.2 Direito das Obrigaes e Responsabilidade Civil 5.3 Direito de Empresa 5.4 Direito das Coisas 5.5 Direito de Famlia e Sucesses
6 7
Comisses ndices 7.1 ndice de artigos 7.2 ndice de assunto 7.3 ndice de autor
8
Anexo Enunciados aprovados na I Jornada de Direito Civil
APRESENTAO
O Conselho da Justia Federal, pelo Centro de Estudos Judicirios, tem na sua programao realizar, a cada dois anos, encontro nacional de juristas dedicados ao estudo do Direito Civil, com a finalidade de debater as disposies do novo Cdigo Civil. Esse diploma, que est sendo objeto de maiores e mais acesas discusses agora, depois da sua promulgao, do que durante a tramitao do Projeto, trouxe profundas modificaes no nosso ordenamento jurdico privado. Por isso, a convenincia do encontro de professores de diversas Faculdades de Direito do Pas, magistrados da Justia Federal e da Justia Estadual, promotores, procuradores, defensores e advogados, para o amplo debate das questes controvertidas. A fim de dar sentido prtico ao evento e assegurar a sua eficcia como instrumento auxiliar na prtica forense e no estudo acadmico, adotou-se o mtodo j obedecido na Primeira Jornada, realizada em 2002: previamente, recolher dos participantes proposies articuladas, com breve justificativa, e depois submet-las a discusso e votao nas comisses temticas, em nmero de quatro: Parte Geral e Direito das Coisas, Direito das Obrigaes e Responsabilidade Civil, Direito de Empresa e Direito de Famlia e Sucesses. Os enunciados aprovados constituem um indicativo para a interpretao do Cdigo Civil, estando todos diretamente relacionados a um artigo de lei, e significam o entendimento majoritrio das respectivas comisses, nem sempre correspondendo proposio apresentada pelo congressista. Tambm no expressam o entendimento do Superior Tribunal de Justia, nem do Conselho da Justia Federal, que apenas o rgo promotor e patrocinador do evento. A Terceira Jornada de Direito Civil aconteceu em Braslia, nos dias 1 a 3 de dezembro de 2004, e contou com a participao de 101 juristas, mas as sesses, instaladas na sede do Conselho da Justia Federal, eram reservadas aos inscritos. Foram realizadas duas sesses magnas, abertas ao pblico, no auditrio do Superior Tribunal de Justia. Na instalao, proferiu conferncia o Ministro Jos Carlos Moreira Alves, do Supremo Tribunal Federal e membro da Comisso que redigiu o Projeto do Cdigo Civil. O encerramento contou com a conferncia do Professor Jos de Oliveira Ascenso, da Universidade de Lisboa. Essas sesses foram presididas pelo Ministro Edson Vidigal, Presidente do Superior Tribunal Justia e do Conselho da Justia Federal, e pelo Ministro Ari Pargendler, Coordenador da Justia Federal e do Centro de Estudos Judicirios. Foram aprovados 133 novos enunciados, de nmeros 138 a 271, sobre os diversos temas abordados nas comisses. Algumas poucas dessas concluses implicaram alterao das aprovadas na Primeira Jornada (a Segunda Jornada no aprovou enunciados), assim
como est indicado no incio do n. 4, adiante. Os enunciados j foram amplamente divulgados, abrindo-se agora a oportunidade de reuni-los e public-los, juntamente com as proposies e suas justificativas. preciso deixar consignado o agradecimento a todos os que participaram do evento, colaborando como conferencistas, autores de proposies, presidentes e relatores de comisses, secretrios e componentes de grupos de apoio. So juristas eminentes, a quem muito deve a cincia jurdica nacional. Estamos todos convencidos de que o trabalho servir como instrumento til para o estudo e a aplicao do Direito Civil, apesar de suas imperfeies e da natural discordncia a respeito das matrias versadas nas proposies. Braslia, 3 de novembro de 2005.
Ruy Rosado de Aguiar Jnior
Conferncia Inaugural
11
2 Conferncia Inaugural
Conferncia Inaugural
13
ASPECTOS GERAIS DO NOVO CDIGO CIVIL BRASILEIRO
JOS CARLOS MOREIRA ALVES Ministro do Supremo Tribunal Federal
No momento que estamos vivendo, vm-me mente as palavras, que considero das mais sensatas, de um grande comercialista italiano Archangelli, que, em 1935, aludindo a Cdigo Civil, dizia que este, quando nasce, em geral nasce com vrios defeitos, mas ele o produto de estudos que se fizeram para reformular o que havia anteriormente, e, por isso mesmo, sofreu, j antes da sua promulgao, uma srie de crticas no sentido de inviabilizar o seu nascimento. Nascido, apresenta, certamente, vrios defeitos. Sem dvida alguma, o Direito Civil o ramo mais complexo do Direito. Por isso mesmo o Cdigo Civil o cdigo mais complexo dentre os cdigos. Portanto, quando se fala em descodificao, o que se quer descodificar talvez seja, justamente, o Direito Civil. Ningum quer descodificar o Cdigo Penal e, tampouco, os cdigos de processo. Mas, quando se trata de Cdigo Civil, se micro-sistema, vamos descodificar. No estamos mais em poca de codificao dessa natureza. Todo Cdigo Civil nasce com vrios defeitos e, a pouco e pouco, dizia Archangelli, a doutrina e a jurisprudncia comeam a aparar as arestas que se apresentam, ora lendo o que no est escrito, ora deixando de ler o que est escrito, e, aos poucos, o Cdigo vai melhorando. No final de certo tempo, j se considera ser um bom cdigo. E, mais adiante, quando se pensa em reformul-lo, aqueles que o atacaram impiedosamente, quando ainda era projeto, dizem: Para qu? Ele to bom! Por que no continua? J passamos da primeira etapa dessa progresso salientada por Archangelli, que corresponde aos ataques idia de reformulao do nosso Cdigo de 1916, invocando-se, a princpio, a tendncia descodificao. Aludia-se idia que surgiu na Itlia em 1978, com Irti, que ficou muito impressionado com o nmero de leis extravagantes que havia na Itlia, diante da circunstncia de que se considerava, na poca, que o que dava unidade e estabilidade ao ordenamento jurdico, inclusive ao ordenamento jurdico privado, era a Constituio italiana de 1947. Em 1992, e, posteriormente, em 1995, ele chegou concluso de que a crise da Constituio italiana era de tal ordem que verificara que o que realmente dava estabilidade s relaes entre os particulares era justamente o velho Cdigo de 1942, no s pela sua tcnica, mas pelos princpios que se mantinham estveis, em contraposio s incertezas, s discusses, s crticas ao prprio texto constitucional.
14
III Jornada de Direito Civil
No Brasil surgiu, de pronto, contra a reforma do Cdigo Civil brasileiro, a questo da descodificao, em primeiro lugar; em seguida, considerou-se e isso j ocorreu durante a tramitao do projeto de Cdigo Civil pelo Congresso Nacional a particularidade da demora na tramitao. J nos encontrvamos diante de um projeto envelhecido, incompleto, que no tratava das grandes inovaes que o mundo moderno apresentava as quais, por conseguinte, deveriam estar disciplinadas nele, tendo em vista que aquilo caracterizava a modernidade. Com isso dizia-se ser um projeto envelhecido e absolutamente incompleto. Em regime democrtico, muito difcil um Cdigo ter uma tramitao rpida nos parlamentos. Isso se observa com o BGB (o Cdigo Civil alemo), o Cdigo Civil italiano e o Cdigo Civil portugus de 1967, porque nenhum desses contou com Napoleo Bonaparte. No fora ele, obviamente a Frana no teria, em 1804, o seu Cdigo Civil francs, sua maior glria. Realmente Napoleo prestou-lhe uma colaborao decisiva, pois foi quem presidiu as inmeras reunies com aqueles que tinham elaborado o anteprojeto. Em conseqncia, por atuao dele, o Cdigo foi promulgado com relativa rapidez. Muitos no sabem que a Teoria do Casamento Inexistente surgiu por conta de uma observao de Napoleo em uma dessas reunies, ao se discutir que, em matria de casamento, no eram admitidas nulidades virtuais; por conseguinte, as nulidades teriam de ser textuais, expressas. Nesse momento, ele fez esta indagao: e se um homem unir-se a outro homem, isso casamento? Pela primeira vez surgiu a idia de que isso no era problema de nulidade, mas sim algo contra a natureza mesma do casamento. Pouco depois, em 1807, surgiu uma obra em 4 volumes, um tratado sobre Direito Civil francs, em face do Cdigo Civil da Frana, em que o autor (alemo) construiu a doutrina jurdica do casamento inexistente. Depois surgiram estudos com mais intensidade a respeito da inexistncia dos negcios jurdicos em geral. Essas tramitaes longas ocorrem, usualmente, em regimes democrticos, quando no h imposio de fora para se elaborarem leis com rapidez, principalmente quando se trata de um Cdigo altamente complexo, como o o Cdigo Civil. Ao examinarmos o problema da tramitao, verificaremos que houve, por duas vezes, uma verdadeira tragdia nessa matria. Com referncia ao Cdigo de 1916, todos estamos absolutamente cientes de que, tendo sido ele encaminhado ao Congresso Nacional por volta de 1900, s veio a ser promulgado em 1916, principalmente porque, no Senado Federal, houve aquela clebre discusso gramatical entre Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro, em que se discutiu muito mais gramtica do que propriamente Direito. O Senador Rui Barbosa, encarregado de dar seu parecer jurdico, fez longos estudos de natureza gramatical, e o referido parecer s foi publicado em 1965, pela Casa de
Conferncia Inaugural
15
Rui Barbosa, em um volume de mais de 700 pginas, tendo chegado anlise apenas dos arts. 1 a 20, de um total de 1.807. Essa foi a causa principal da demora na tramitao do Cdigo de 1916. O novo Cdigo Civil brasileiro, depois de encaminhado o projeto em 1975, s foi aprovado em 1984 pela Cmara; da seguiu para o Senado, onde ficou totalmente parado, a ponto de ser arquivado, e no fossem a dedicao e a vontade poltica do Senador Nelson Carneiro, o projeto teria fenecido nos arquivos do Senado. Mesmo depois de novamente vir tona, para efeito de continuar sua tramitao naquela Casa, s com a designao do Senador Josafah Marinho no final da dcada de 90 foi examinado pelo Senado, e a tramitao ocorreu rapidamente. O Senador Josafah Marinho, depois de uma longa anlise no sentido de aprimorar, no possvel, o projeto que vinha da Cmara, deparou-se com a circunstncia de que, depois da aprovao do projeto na Cmara dos Deputados, em sua primeira passagem (1984), em 1988 era promulgada a Constituio da Repblica, que representou, principalmente em matria de famlia, uma verdadeira revoluo no Direito brasileiro, precedida da Emenda Constitucional n. 8, de 1977, Constituio de 1969, em que se revogara o princpio da indissolubilidade do casamento e se estabelecera um dispositivo no sentido de que o casamento, necessariamente, no poderia ser indissolvel. Em geral, a indissolubilidade se explica que conste em uma Constituio, mas ter necessariamente de ser dissolvel no hiptese muito comum em texto constitucional. J a vinha um problema srio a dissoluo da sociedade conjugal e do vnculo conjugal pelo divrcio. Conseqentemente, houve modificaes importantes que se refletiram no projeto aprovado na Cmara dos Deputados. Com a Constituio de 1988, a situao se complicou muito mais, dado que, em matria de famlia, houve uma verdadeira revoluo no nosso Direito, e uma revoluo que se estabeleceu, primeiro, em um princpio que no era to revolucionrio, porque caminhvamos para isto: o da igualdade dos cnjuges, e, segundo, em outro princpio, esse, sim, revolucionrio, que era a unio estvel como entidade familiar, diferentemente do concubinato, que era disciplinado na rea do Direito das Obrigaes. At hoje no entendi a razo de ser desse dispositivo, a chamada entidade familiar monoparental, porque ningum no mundo tem dvida de que, seja o pai solteiro, seja vivo, os seus filhos so uma famlia, e famlia em sentido estrito. Assim que li isso na Constituio, pensei, logo, que a inteno teria sido a de obter um emprstimo mais rpido na Caixa Econmica Federal, porque, na minha opinio, no havia outra razo para que assim se dispusesse na Carta Magna. A igualdade dos filhos, at ento filhos legtimos e ilegtimos, fossem naturais, adulterinos ou incestuosos, j era uma tendncia que se observava no nosso Direito. Com relao aos filhos adotivos, quaisquer que fossem as espcies de adoo, ou seja, sem levar em considerao a distino entre adoo estrita e adoo
16
III Jornada de Direito Civil
plena, que, no nosso Direito, comeou a ser chamada de legitimao adotiva e seguia a orientao do Direito francs, passvamos, de uma hora para outra, a uma igualdade dos filhos. Dessa forma, todas as adoes tornavam-se plenas, e com uma gravidade: na vspera da promulgao, o filho adotivo tinha direitos bastante restritos, e direitos de natureza principalmente patrimonial entre adotado e adotante, e, j no dia seguinte, era considerado filho para todos os efeitos. Foi essa, pelo menos, a orientao do Supremo Tribunal Federal, quando surgiu o problema de saber se a adoo s podia ser plena ou se continuava a poder bifurcar-se em plena e restrita. Essas modificaes que decorreram dos arts. 226 e 227 da Constituio levaram o Senador Josafah Marinho, num trabalho hercleo e praticamente solitrio, a fazer adaptaes, razo por que, quando foi aprovado no Senado quase por aclamao , o projeto foi remetido novamente Cmara para a segunda passagem, apenas para que fossem examinadas as alteraes sofridas no Senado Federal. Houve, inclusive, a necessidade de o Relator Geral na Cmara dos Deputados, Deputado Ricardo Fiza, obter uma modificao do Regimento do Congresso Nacional para permitir que se introduzissem inovaes, principalmente na rea do Direito de Famlia, que no seriam possveis pelo Regimento anterior. Dessa forma, o projeto retornaria ao Senado Federal para que aquele rgo se manifestasse a respeito de tais inovaes e, em seguida, retornaria Cmara dos Deputados. Houve uma grande reformulao, e, por mais ateno que se tivesse, obviamente, muito difcil, em um espao de tempo no muito dilatado, fazer uma modificao dessa natureza, razo pela qual h problemas srios, pelo fato de que tais mudanas ocorreram, muitas vezes, com premncia de tempo. Esse projeto envelheceu em termos, pois a Comisso designada em 1969 para elaborar o anteprojeto, que teve como supervisor o Professor Miguel Reale, recebeu duas orientaes do governo at o seu envio ao Congresso Nacional, em 1975: em primeiro lugar, manter tudo aquilo que ainda continuasse vlido no Cdigo de 1916, e, em segundo, inovar, ou seja, moderniz-lo; no visando futuridade, criando normas sem que houvesse uma experincia para sua aplicao, mas moderniz-lo em face de um Cdigo que, embora promulgado em 1916, na realidade, era fruto do sculo XIX, uma vez que o seu projeto fora elaborado no segundo semestre de 1899 e era, portanto, imbudo de toda uma filosofia individualista que reinava naquela poca. Logo, essa modernizao deveria considerar as conquistas da doutrina e da jurisprudncia que atualizassem o que vinha de 1916, mas que, na verdade, remontava a 1899, portanto ao sculo XIX. Por isso, j naquele projeto de 1975, encontramos princpios que no so evidentemente obsoletos. Aqui mesmo foi salientada uma figura que havia no Direito Comercial brasileiro a boa-f. No entanto, os comercialistas no sabiam de sua existncia, pelo menos nunca encontrei nenhum comercialista antigo que tivesse dito que o art. 161, que trata da interpretao, constava do Cdigo Comercial de 1850,
Conferncia Inaugural
17
o qual estabelecia um preceito relativo observncia da boa-f na interpretao dos contratos. Evidentemente, tratava-se de boa-f objetiva, porque ningum interpretar contrato pela boa-f subjetiva de uma das partes. O dispositivo passou inteiramente sem o exame, sem a anlise, sem o entendimento por parte da doutrina comercial. Posteriormente, encontrvamos na nossa literatura observaes algumas feitas por um dos grandes civilistas portugueses modernos, o Prof. Antunes Varella; outras feitas por Orlando Gomes e por Darcy Bessone que procuravam extrair do sistema do Cdigo Civil de 1916, de alguma forma, um fundamento para sustentar a existncia do conceito de boa-f objetiva no nosso Direito Civil. O Cdigo, desde o seu anteprojeto inicial, em 1969, j apresentava dispositivos sobre a matria. A respeito de um deles, o Prof. Ruy Rosado perguntou: De onde vocs tiraram isso? Mais ainda, havia progressos em face do nosso Direito anterior, que depois vieram a ser incorporados nossa Constituio, e hoje so preceitos que vm da Constituio, e no do projeto de Cdigo Civil, como, por exemplo, o dano moral, que desde o anteprojeto, na Parte Geral, j constava expressamente no artigo concernente aos atos ilcitos absolutos, justamente porque, quela poca, havia uma divergncia frontal entre a doutrina e a jurisprudncia; a primeira, a considerar ser admissvel no nosso Direito o dano moral; e a jurisprudncia, a ter muita cautela, geralmente, em entender que no era admissvel. Quando cheguei ao Supremo, em 1975, havia essa divergncia, mas at ento somente o Ministro Djaci Falco era a favor do dano moral no Direito brasileiro. Naquela poca, o Supremo julgava tanto questes constitucionais quanto infraconstitucionais. Alinhei-me ao Ministro Djaci e ficvamos vencidos nessa matria, e um dos argumentos de que nos utilizvamos era justamente o de que, por vezes, o prprio Supremo Tribunal Federal tinha de admitir o dano moral. Contudo admitia dizendo que no se tratava de dano moral, mas de dano patrimonial, em questes, por exemplo, de atropelamento de crianas pobres, em que o Supremo dizia: No, nesse caso, no h problema de dano moral; o que h a verificao da perspectiva futura de essas crianas virem a ser arrimos de famlia. Conseqentemente, admitia-se a indenizao por esse dano. Mais ainda, no se admitia e a havia maior radicalidade a cumulao do dano material com o dano moral. A modernizao que se procurou fazer foi justamente com base naquilo que, doutrinria e jurisprudencialmente, j se estratificara e deveria ingressar no Cdigo Civil, embora naquele momento no houvesse esse vertiginoso progresso que ocorreu depois do envio do projeto ao Congresso Nacional, no s no terreno da medicina, como tambm da eletrnica e das cincias exatas em geral. Progresso to rpido que, naquela poca, ningum discutia, at porque no existiam, acerca de problemas relacionados internet, a software, para saber, por exemplo, no caso de software, se h ou no direito autoral, e sobre outras questes dessa natureza. Mais ainda,
18
III Jornada de Direito Civil
estvamos no incio do surgimento de problemas relacionados fertilidade in vitro, fertilidade artificial, campo em que realmente houve um rpido progresso e que apresenta, evidentemente, srios problemas. Se levarmos em considerao tudo o que surgiu, do incio do quarto quartel do sculo passado at os nossos dias, observaremos a existncia de questes relacionadas fertilidade in vitro; fertilidade artificial; a teros de outrem (as chamadas barrigas de aluguel); maternidade e paternidade afetiva, para saber se devem prevalecer tambm sobre a biolgica; operao para mudana de sexo; prpria disciplina de transplante, porque j naquela poca comeava a surgir a necessidade de se criar legislao especfica no tocante ao conceito de morte, que deixava de ser aquele relacionado morte provada tradicionalmente, como colocar o corpo deitado numa superfcie plana e depois passar uma vela acesa prxima do nariz do morto para ver se a vela apagava ou no, ou se o sangue descia por fora da gravidade; enfim, se o corpo apresentava elementos capazes de dizer se havia ocorrido a morte, o que no era suficiente para as questes relacionadas aos transplantes, que necessitavam, muitas vezes, de retirada de rgos e tecidos com certa rapidez. Veio a legislao, que tratou primeiro da morte, com o conceito de morte, para o Direito, como morte cerebral. Depois, surgiu a idia de que a morte cerebral ainda no era propriamente a morte e a de que esta, efetivamente, ocorria com a morte do encfalo. Hoje, possivelmente em razo de minha ignorncia em medicina, chego a duvidar disso, porque os anencfalos sobrevivem, ainda que por pouco tempo, o que mostra ser possvel existir vida apesar de no haver encfalo. Talvez a medicina venha considerar a respeito em um outro momento. Em um Congresso Internacional de Medicina, assisti a um painel apresentado por uma equipe de mdicos do Paran, que demonstraria um sistema de verificao de morte enceflica, o mais rpido possvel, para que houvesse a possibilidade da retirada urgente de tecidos e rgos. Aps a explanao, bastante complexa, dirigi-me ao chefe da equipe e fiz uma brincadeira com ele, dizendo: Depois da demonstrao dos senhores, chego concluso de que aquele velho sistema de colocar uma vela prxima do nariz para ver se h respirao ou no melhor, porque, evidentemente, os senhores tambm demoram bastante para terem certeza de que realmente ocorreu a morte. Mas, alm de todos esses problemas, h ainda os relacionados a desligamento de aparelhos, fazendo com que a pessoa viva vegetativamente; problemas de banco de smen, banco de embries, engenharia gentica, clulas-tronco; a questo do genoma, que se tornou uma idia mais divulgada a partir de 2000; problema relativo clonagem humana. Participei de um painel no Superior Tribunal de Justia que tratou dos problemas jurdicos de Direito Privado sobre a clonagem. Os que me antecederam trataram muito de problemas relativos dignidade humana, um preceito constitucional muito em voga hoje, para se
Conferncia Inaugural
19
considerar que neste Pas tudo inconstitucional. Depois de ouvi-los, fiquei meio em dvida comigo mesmo e me perguntei: ser que vim a um painel diferente? Imaginava que o painel trataria de repercusses sobre o Direito Civil no que diz respeito clonagem. O problema delicadssimo. Os senhores j pensaram no parentesco entre o clone e o clonado? Qual a relao entre eles? Ser que o clone filho do clonado? Ou ser que o clonado e o clone sero como irmos gmeos, embora no-univitelinos, porque, inclusive, um pode nascer 50, 60, 70 anos depois do outro, dando margem a que acontea o mesmo problema que acometeu a ovelha Dolly, que envelheceu prematuramente, passando a ter artrite com poucos anos de vida, vindo, finalmente, a morrer de velhice. J imaginaram os problemas que surgem at para que se estabelea esse vnculo de parentesco? Haveria acontecimentos realmente curiosos, admitindo-se que todos eles clonado, clone e as sucessivas clonagens que se fossem fazendo teriam pai e me comuns. Algum que fosse clonado aos 70 anos teria um irmo gmeo com 70 anos de diferena; se este fosse clonado aos 70 anos surgiria um outro, 140 anos depois do nascimento do primeiro, e teramos, evidentemente, coisas fantsticas, inclusive com relao a problemas de nascituro, para se saber como haveria sucesso de bens a esse respeito. Essas observaes so apenas para dizer que a questo da clonagem gera problemas realmente delicados, que no so para serem tratados em Cdigo Civil, e por uma razo simples: at hoje no temos nem sequer legislao extravagante para isso. Atualmente, nas questes relacionadas a bancos de smen, h pases que exigem que o doador seja absolutamente inidentificvel, annimo. H outros que entendem o contrrio, que o filho tem direito, e direito fundamental, de conhecer quem seu pai; conseqentemente, h a necessidade de que se revele quem o doador. Existem problemas relacionados a tero de aluguel, bancos de embries, que geraram, inclusive, a criao do neologismo excedentrios, dando margem a problemas srios. Uma das sugestes de modificao do texto do novo Cdigo Civil foi no sentido de equiparar esses embries que sejam excedentes daquele que veio afinal a propiciar o nascituro e, posteriormente, uma pessoa natural aos nascituros. Isso no tem sentido, por uma razo singelssima de Direito das Sucesses. Todos sabemos que os mdicos, para evitar um sofrimento maior da mulher, e tambm por questo de custo, geram vrios embries. Imaginando-se, por exemplo, que sejam onze no total, se o primeiro der certo, transforma-se em nascituro, depois, nasce com vida, adquirindo, assim, personalidade jurdica. Surge, ento, um problema: os dez outros embries, equiparados a nascituro, ficam, como diriam os romanos, com os seus cmodas, isto , suas expectativas de direito devidamente protegidas. A s esperar, Deus sabe at quando, por uma legislao que diga, primeiro, se eles podem ser destrudos, e,
20
III Jornada de Direito Civil
depois, quando sero destrudos para efeito de aquele que deu margem a um nascituro e, depois, a uma pessoa natural, vir a herdar o que tem direito. Vejam que so situaes que trazem uma srie de problemas, e de difcil resoluo. Outro exemplo o caso da Aids. Na dcada de 80 surgiu a grande epidemia, que continua at hoje, e trgica no mundo. Naquela poca, a medicina j tinha suficiente conhecimento para dizer: surgiu algo de novo. Quando verificaram que era um vrus completamente diferente dos demais por apresentar caractersticas e atividades absolutamente diversas, e esse , at hoje, o grande problema, veio a indagao: de onde surgiu isso?, e houve quem dissesse que teria vindo dos macacos da frica. Mas algum, com um pouco mais de bom senso, observou que os macacos existem na frica h milhes de anos, e que, portanto, no havia razo para que a Aids viesse a se manifestar e a ser transmitida para o resto do mundo apenas na dcada de 80. Houve tambm quem dissesse ser problema de engenharia gentica, ou decorrente de estudos com objetivo de criar bactrias que se alimentassem de ferrugem para, com isso, acabar com o problema dos metais ferruginosos no mundo inteiro, ou, ainda, que os cientistas quiseram fabricar um vrus benfico, que acabou por dar origem a um vrus malfico. Temos, ento, a possibilidade real da criao de monstros de laboratrio: os Franksteins, os Drculas e criaturas dessa natureza, antes objetos de fico e, atualmente, com o avano da medicina, podendo ser transformados em objetos de realidade. Por isso o Direito se defronta com um problema gravssimo, o de no impedir esses progressos, mas procurar disciplinar tais prticas para que, em vez de um mal, tornem-se um bem para a humanidade. Por essa razo, nada disso constou no Cdigo Civil. No entanto, era preciso que o Cdigo contemplasse, de alguma forma, tais concepes modernas. Assim, enfrentamos essa dificuldade no art. 1.597 do Cdigo atual, que estabelece: Presumem-se concebidos na constncia do casamento os filhos (...) nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivncia conjugal, nascidos nos trezentos dias subseqentes dissoluo (...). Enfim, emergem aqueles casos clssicos. E surgem trs casos novos, (...) havidos por fecundao artificial homloga; portanto, a utilizao, pela mulher, do smen do marido, mesmo que falecido. E pergunta-se como se presumem concebidos, porque uma fico, e todos sabemos que h uma diferena entre a presuno juris et de jure, absoluta, e a fico. Na presuno juris et de jure, embora no se admita prova em contrrio, h uma possibilidade ainda remota de que seja verdade, enquanto na fico, j dizia Ihering, uma mentira legal. Sabe o legislador que aquilo no pode ocorrer nunca, mas para dar o mesmo tratamento, se fosse possvel ocorrer, ele usa de uma fico.
Conferncia Inaugural
21
Portanto, uma fico dizer que nasceram na constncia do casamento os filhos havidos por fecundao artificial homloga, que pode ocorrer muito depois, inclusive com marido morto, como se v neste mesmo texto: (...) mesmo que falecido o marido. Outro dispositivo: Havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embries excedentrios, decorrentes de concepo artificial homloga; havidos a qualquer tempo, conseqentemente, tambm, havidos na constncia do casamento ou fora deste. Finalmente, os havidos por inseminao artificial heterloga, desde que tenha prvia autorizao do marido. Quer dizer, o marido, por instrumento pblico, d autorizao, e, apesar disso, presumidamente, o pai. E, pior, essas presunes, hoje, valem muito pouco, porque, com o DNA, acabou-se aquela presuno que comeava como relativa e se tornava, em breve espao de tempo, presuno absoluta. O novo Cdigo, inclusive no art. 1.601, declara isso. Com o DNA, essas presunes quase que se esvaram. H ainda a vantagem de o indivduo no precisar provar que filho de seus pais. Mas a possibilidade de se demonstrar que a presuno falsa cresceu brutalmente, e, hoje ainda, com esta circunstncia: mesmo que se diga que o exame de DNA no tem 100% de acerto, a margem muito pequena embora a eu me lembre sempre de que, quando advogava em So Paulo, um ex adverso meu, num caso desses, dizia assim: No to pequena assim. Aqui em So Paulo, por exemplo, deve dar a uns cinqenta ou sessenta mil homens, ou seja, ainda h muita gente que pode ser o pai, tendo em vista essa pequena diferena. Nem o DNA pode contra essa presuno j que ela absolutssima, apesar de o prprio pai saber que no pai, de ter consentido, de ningum ter dvida disso; contudo, presume-se que foi concebido na constncia do casamento. O problema novo, e delicado, porque no fcil fazer essa adaptao. H no muito tempo ningum pensava a respeito dessas questes. Com relao aos anencfalos, quem admitiria a possibilidade de obter a imagem de uma criana dentro do tero materno, podendo-se at fazer interveno cirrgica nesse feto? Por essa razo, no se tratou desses problemas, e corretamente, pois se trata de matria para legislao extravagante, mas legislao extravagante experimental, muito mais facilmente modificvel. muito difcil introduzir modificaes num sistema complexo sem que se cometam equvocos, porque muitas vezes se modifica o art. 1 e haver repercusso no art. 1.550, e isso ocorreu no novo Cdigo Civil. Um dos avanos foi quanto Parte Geral, a qual trata da distino entre prescrio e decadncia. E mais ainda, uma regra que no est escrita, mas existente na exposio de motivos e absolutamente verdadeira, no sentido de que prazos de prescrio s ocorriam com relao
22
III Jornada de Direito Civil
pretenso nascida de violao de direito subjetivo, e prazos de decadncia s ocorriam com relao aos chamados, nas lnguas neolatinas, direitos potestativos os alemes chamam de direitos formativos, e j chegaram a chamar at de direitos de poder jurdico, logo no incio. Ocorreu consta da exposio de motivos do professor Reale que, em todo o ento anteprojeto, hoje Cdigo, todos os prazos que no estejam nos dois artigos que tratam especificamente de prazos de prescrio so prazos de decadncia, ainda que no se aluda natureza deles. Isso segue rigorosamente, de modo que toda vez que houver um direito potestativo exercitvel dentro de um prazo e o interesse maior com relao ao problema dos litgios judiciais , esse prazo prazo de decadncia; quando se trata de violao dos direitos subjetivos, essa pretenso suscetvel ou no de prescrio. Isso est em todo o Cdigo, exceto no art. 1.601 introduzido pelas modificaes do Direito de Famlia, enquanto a prescrio est nos artigos duzentos e poucos da Parte Geral , que diz: Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade (...). A regra no constava do anteprojeto nem do projeto porque, na poca, no havia esse problema. Naquele tempo, tratava-se de presunes relativas dentro de um espao muito curto de tempo as quais, depois, transformavam-se em absolutas. Diz o art. 1601: (...) dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ao imprescritvel. A h dois termos que fogem completamente do sistema do Cdigo. O primeiro diz respeito prescrio no da ao, mas da pretenso. Com relao ao, todos sabemos tratar-se de direito subjetivo pblico, que, em ltima anlise, traduz-se em direito abstrato, o de pedir ao Estado que preste a jurisdio, tenha-se ou no razo. De modo que isso no prescreve; o que prescreve, de acordo com o sistema adotado pelo Cdigo, a pretenso, que, embora seja um elemento de difcil conceituao, pareceu ser o mais apropriado para no se falar nem que prescrevia direito, que no prescreve, nem que prescrevia a ao, ou, ainda, para no usar a terminologia de Pontes de Miranda: ao em sentido civil. Quanto a isso, o indivduo tem de conhecer Direito Romano, tem de conhecer a discusso entre Windscheid e Muther para saber se a ao no mundo moderno era diferente da axis do mundo romano, e o que seria essa ao no sentido material. Ento, adotou-se a pretenso. E o segundo que no se trata de problema de prescrio; tipicamente direito potestativo, e, portanto, caso de prazo de decadncia. De forma que esse dispositivo, para estar de acordo com o sistema adotado pelo Cdigo, deveria dizer o seguinte: Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher a qualquer tempo. No haveria prazo e, conseqentemente, a qualquer tempo significaria que no era nem prazo de prescrio, nem prazo de decadncia. A observao no crtica ao trabalho que se fez; quer-se
Conferncia Inaugural
23
apenas mostrar essa dificuldade. Depois de ultrapassada toda a etapa em que agora temos um Cdigo novo, nota-se que aqueles que o atacavam violentamente, hoje, j o aceitam, e houve ataques que chegaram a ser at um pouco jocosos, dizendo que o projeto do Cdigo Civil era inconstitucional, porque tratava primeiro do Direito das Obrigaes e do Direito das Coisas e, s depois, tratava do Direito de Famlia e do Direito das Sucesses, e que isso feria o princpio da dignidade humana. Depois dessa crtica, fiquei preocupado com o princpio da dignidade humana, porque, se assim entendermos, tudo se transformar em constitucional, e talvez at uma operao poder ferir tambm a dignidade humana de algum. O problema que, aps todas aquelas acirradas crticas, como a est o Cdigo, constata-se que j no cabe discutir se deve ou se no deve sair. Temos de estud-lo e reconhecer que ele apresenta defeitos. Isso absolutamente indubitvel, tendo em vista toda a gama de dificuldade pela qual passou a tramitao, e no apenas a tramitao, porque o anteprojeto original tambm apresenta falhas. Eu mesmo fui culpado, e digo-o porque est reproduzido ipsis litteris, com relao ao problema da incapacidade absoluta (e ainda fui verificar se isto realmente constava nos meus manuscritos originrios, e constava): Art. 3. So absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: (...) II Os que, por enfermidade ou deficincia mental, no tiverem o necessrio discernimento (...). No o necessrio. A redao deveria ter sido: no tiverem o discernimento, tanto assim que o art. 4 diz: So incapazes, relativamente, os brios habituais, os viciados em txicos e os que, por deficincia mental, tenham o discernimento reduzido. Esses so os que no tm o discernimento necessrio. Mais adiante vem falta de discernimento, inclusive com relao ao problema da curatela. De modo que isso ocorre. H alguns erros que so, evidentemente, de redao. Todos conhecem o instituto da comisto como um dos modos de aquisio da propriedade. Na redao, houve um erro e registrou-se comisso. Hoje h um Cdigo com defeitos, e isso absolutamente indubitvel. Um exemplo: H um artigo que se refere necessidade ou no de outorga do cnjuge para a alienao de bens imveis conforme o regime de casamento. O art. 1.647, nas Disposies Gerais sobre o regime de bens, reza: Ressalvado o disposto no art. 1.648 (...). Isso inovao, porque o art. 1.648 diz caber ao juiz suprir a outorga quando ela for injustificada. De modo que aqui, a rigor, no precisava nem dizer ressalvado; que, anteriormente, no projeto de 1975, estava assim redigido: Ressalvado o disposto no art. 1.711.
24
III Jornada de Direito Civil
O art. 1.656 prescreve: No pacto antenupcial que adotar o regime de participao final nos aqestos poder-se- convencionar a livre disposio dos bens imveis desde que particulares. Aqui, realmente, era uma exceo, porque dizia: Ressalvado o disposto nesse dispositivo nenhum dos cnjuges pode, sem autorizao do outro, exceto no regime de separao absoluta, alienar ou gravar de nus real os bens imveis. Portanto teramos duas excees no projeto: uma constante nesse dispositivo, o regime da separao absoluta, e a outra um pouco adiante, mas ainda no captulo concernente s Disposies Gerais, que admite poder o pacto antenupcial estabelecer a possibilidade de, sem outorga, haver alienao de imvel quando se tratar de regime de participao final nos aqestos. A situao se complica com referncia ao regime da comunho parcial de bens. Reza o art. 1.665: A administrao e a disposio dos bens constitutivos do patrimnio particular competem ao cnjuge proprietrio, salvo conveno diversa em pacto antenupcial. Aqui, o inverso da participao. Um ilustre colega me perguntou qual era a minha opinio. Respondi ser necessrio pesquisar, porque confessei a ele aquele ponto havia me escapado, pois, mesmo com um trato razovel do assunto, somente quando surgem certos problemas nos dedicamos a essas particularidades. Na realidade, temos uma disposio geral, estabelecendo uma regra que quase virou exceo, e trs excees. A primeira o regime da separao absoluta; a segunda o regime da participao nos aqestos, se o pacto nupcial assim estabelecer; e a terceira a do regime da comunho parcial de bens, porque, evidentemente, no h dvida alguma de que a disposio de bens abarca os atos de alienao. Tanto isso verdade que no art. 1.656, exceo expressa do 1.647, diz-se que: No pacto antenupcial, que adotar o regime de participao final nos aqestos poder-se- convencionar a livre disposio dos bens imveis, desde que particulares. De modo que nem se deve dar uma interpretao, porque seno haver interpretaes diferentes de termos que tratam da mesma matria proximamente, e, portanto, no h sentido fazermos essas distines. Ou, ento, anulemos o dispositivo, porque se concebermos aqui que disposio no alienao e nem onerao em nus reais, ser difcil entender o que disposio de bens nesse dispositivo concernente ao regime da comunho parcial. H outros problemas srios, como o da responsabilidade civil. O pargrafo nico do art. 927, in fine, estabelece que a responsabilidade civil ocorre quando h ato ilcito, e ato ilcito, a, ato culposo, que, por isso mesmo, foi modificado. Tambm se quis reformar esse dispositivo. Sempre considerei um erro do Cdigo Civil quando dizia no art. 159: Ocorre ato ilcito quando aquele que, por ao ou omisso voluntria, negligncia ou
Conferncia Inaugural
25
imprudncia, violar direito ou causar dano. Isso um verdadeiro absurdo, porque, na realidade, para ser ato ilcito haveria violao de direito, j que se trata de um ato obviamente doloso ou culposo em sentido estrito. E, mais ainda, quando causa dano sem haver violao, temos responsabilidade objetiva. O Cdigo, no livro concernente a Direitos e Obrigaes, no art. 927, caput, dizia: Aquele que, por ato ilcito (...) e alude justamente a esse dispositivo, e aquele outro, que considera ato ilcito o abuso de direito, (...) causar dano a outrem, fica obrigado a repar-lo. Em seguida vem o pargrafo nico, no qual realmente h um exagero, a meu ver, de responsabilidade objetiva: Haver obrigao de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ningum mais dirigir automvel neste Pas, porque, obviamente, no h nada que cause tanta possibilidade de risco do que algum ao volante dirigindo um carro. Acredito que a doutrina e a jurisprudncia iro mitigar ou reduzir essa extenso. Ainda existem casos mais srios. O problema com relao unio estvel foi curioso. O Senador Josafah Marinho e eu tivemos uma longa conversa a respeito de saber se se colocava um dispositivo sobre concubinato, e conclumos que teria de haver concubinato por uma razo: enquanto houvesse uma estabilidade que ainda no desse margem unio estvel, teria de haver alguma coisa, e isso seria o concubinato puro, e no o concubinato impuro. E como naquela poca no se admitia unio estvel, pelo menos para separao de fato, em que continua o vnculo conjugal, como continua tambm na separao judicial, estabeleceu-se, com relao a esse dispositivo sobre o concubinato, que as relaes no eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Poder-se-ia dizer que aqui h um erro do Cdigo, mas no h, seno estaramos admitindo bigamia entre unio estvel e casamento, e at entre unies estveis. Onde est escrito que um marinheiro, por exemplo, no pode ter uma unio estvel com cada mulher, em cada porto em que chega? Tampouco com relao aos impedimentos matrimoniais. Ento, para disciplinar a unio estvel, ter-seia de proceder a uma disciplina global, o que no tarefa fcil porque, quando a Constituio estabelece que a lei tem de facilitar a converso, muitos pensam que algum pode apresentar-se diante de um tabelio e dizer: Quero virar casado, e gostaria que o senhor fizesse uma escriturazinha qualquer para eu virar casado. Obviamente no se trata disso. O Supremo, inclusive, tem uma deciso plenria de 1995 no sentido ora preconizado, julgando mandado de segurana de que foi relator o Ministro Otvio Gallotti, o que significa que a unio estvel um estgio inferior ao casamento, porque ningum e nenhuma lei precisa facilitar a converso de meia dzia para seis. preciso converter uma coisa em outra e, a meu ver, corretamente.
26
III Jornada de Direito Civil
A unio estvel dificlima disciplina, inclusive para a segurana jurdica. Imaginem que se compra hoje um imvel de um homem solteiro, vivo ou separado. O primeiro passo seria investigar se h alguma relao desse homem com uma mulher e no seria preciso que convivessem sob o mesmo teto. Se assim fosse, bastaria colocar algum para verificar se haveria uma senhora morando com esse homem. Poderia ser o contrrio tambm. Alis, h algumas observaes sobre sucesso de conviventes, em que se diz: um absurdo a sucesso ser to restrita para o convivente, porque imagine uma mocinha, que nada possua, que tenha se casado com um sujeito muito rico, que no comprou coisa alguma depois da unio estvel, se ele morre, ela fica na misria. A observao evidentemente machista. Hoje h muita mulher que ganha muito mais do que o marido, de modo que, atualmente, o golpe do ba recproco. O problema da unio estvel realmente delicado. Quando da compra de um imvel, h alguns que dizem: tem de trazer umas testemunhas que compaream ao ato, para que testemunhem, mas isso, a rigor, no vale nada, porque se pode combinar com quatro ou cinco amigos para dizerem que desconhecem se existe unio estvel, e, pior, s vezes, nem a prpria pessoa sabe que est em unio estvel, e s saber quando o juiz o informar. E retroage. A nossa primeira paixo permanece por toda a vida, e a minha primeira paixo em Direito foi o Direito Romano. Estudei-o com certa profundidade e sempre o achei absolutamente utpico, mtico. Depois tive a felicidade de encontrar a mesma opinio num grande historiador do Direito italiano, Amacia, que dizia ser isso quase um daqueles exageros romnticos de romanistas italianos quando sustentam que o casamento, no Direito Romano clssico, era um estado de fato, porque no havia necessidade de nenhum ato jurdico que desse margem relao matrimonial; bastaria que duas pessoas reunissem dois elementos de fato: a convivncia, elemento objetivo, e a afectio maritatis, um consentimento continuado. Enquanto quisesse estar casado, era preciso apenas que o indivduo mantivesse o seu consentimento. No momento em que este cessasse, ocorria o divrcio, porque ele no exigia, pelo menos no Direito clssico, formalidade alguma, o que gerava uma situao dramtica, em que se fica em um estado de fato comparvel posse. Os romanistas seguidores dessa corrente sustentam que nesse caso quase haveria usucapio, mostrando justamente a dificuldade que se tinha no Direito Romano de saber se algum estava casado ou no. L, no entanto, a dificuldade no era to grande, porque havia cerimnias nupciais, seguidas religiosamente e, com isso, em meios pequenos, era fcil saber quem era ou no casado. Tanto assim que difcil distinguir concubinato de casamento. Enfrentei grandes dificuldades, at que um dia encontrei em um dos autores a soluo: ambos so relaes de fato casamento quando um homem de posio social casa-se com uma mulher que no era desonrada, nem atriz, nem prostituta, que no estava numa classe em que os romanos consideravam de desonra feminina. Ento, quando o
Conferncia Inaugural
27
homem e a mulher esto no mesmo nvel social, se viverem em comum, a presuno a de que so casados, e assim so considerados. Mas se um senador de Roma estabelecesse sua unio com uma atriz ou uma prostituta, teramos o concubinato, e, mais, se ele estabelecesse uma relao sem afectio maritatis com uma mulher do mesmo nvel dele, cometia crime de adultrio ou estuprum. complicado. Ns tambm temos vrias dificuldades. O art. 1.521 d como impedimento de casamento serem as pessoas casadas, mas no diz sobre as pessoas que se encontram em unio estvel, embora em vrios artigos haja aluso expressa unio estvel. No h nulidade nem anulabilidade de fato. O que temos existncia ou inexistncia, porque no se pode anular fato. Haver separao de fato e aqui se fala em separao de fato em matria de unio estvel? Porque separao de fato seria justamente a negao da unio estvel. Mais ainda, esse estado de fato se inicia sem nenhum ato que demonstre o incio dele. Por isso o juiz dir quando ele se iniciou. Pelo art. 1.562, o casamento se dissolve com a morte, o divrcio, a anulao, a nulidade e, tratando-se de unio estvel, com a sentena de dissoluo da unio estvel: antes de mover a ao de nulidade do casamento, a de anulao, a de separao judicial, a de divrcio direto ou a de dissoluo de unio estvel (...). Vemos a algo que realmente no muito comum. que comea sem se saber quando comea. Mas, para terminar, tem de haver uma sentena judicial de dissoluo da unio estvel, o que mostra que esse problema da unio estvel realmente grave. Tenho medo de que se mexa nisso, porque poder piorar a situao. Ao final, poderemos ter uma unio estvel em que acaba o casamento. No vim aqui pregar moralidade a ningum, e no se trata de um problema moral. um problema de instituio, e o casamento, quer se queira, quer no, ainda uma instituio que deve ser precatada. O Cdigo possui vrios defeitos, apurados a pouco e pouco. Por isso sou contrrio tentativa de modificao ainda na vacatio legis. Acho que deveramos fazer como se fez no Cdigo de 1916: dois anos depois de entrar em vigor, editou-se a lei que corrigiu os erros. Se trouxermos por emendas ao Cdigo tudo o que achamos que melhor, escreveremos outro Cdigo. Sempre considerei que se deveria, primeiro, fazer modificaes como esta: comisso, por exemplo, por comisto, correo necessria. Outra que se fez, mas, a meu ver, se fez mal, foi aquela das associaes quando se deu um grande qurum foi para a destituio de membros de diretoria e alterao dos estatutos. Mesmo assim ficou um qurum imenso e se dizia: Uma associao com vinte mil associados, para reunir um tero disso, no rene nunca. Seria necessrio um espao considervel. Em So Paulo, o Morumbi; no Rio de Janeiro, o Maracan. Fez-se algo e ficou pior. Veio uma modificao que, embora considerando pessoas jurdicas, tornou as associaes religiosas e os partidos polticos pessoas jurdicas, que no so nem associao, nem sociedade, nem fundao. Ento,
28
III Jornada de Direito Civil
ficaram praticamente no ar. E ainda se dizia: nada das associaes se aplica a essas entidades, que, evidentemente, so associaes, porque uma entidade religiosa que no tenha nenhum fim lucrativo, associao para o Cdigo Civil, como tambm o caso dos partidos polticos, que no tm interesse, embora j a Constituio dissesse que eles deveriam ser disciplinados por legislao especfica, o que foi repelido. necessria uma lei especfica, mas uma lei que pelo menos admita, no interior de um sistema, a estrutura existente dentro do Direito, ou ento a descoberta de uma quarta hiptese, alm das associaes, sociedades e fundaes. Hoje tendemos a seguir (e considero perigosssimo) o que, na Itlia, extremamente valorizado por Perlingieri a constitucionalizao do Direito Civil. No considero que o Direito Civil esteja constitucionalizado. O Direito Constitucional no constitucionaliza, seno ele constitucionalizou tudo, porque Processo, Direito Tributrio, Direito Comercial, est tudo ali inserido. Encontramos princpio para tudo que diga respeito a essas reas. O que entendo isto: ele disciplina valores, que se aplicam a diferentes ramos do Direito, e se aplicam hierarquicamente, porque h muita coisa na Constituio brasileira que no matria de Constituio, como a impossibilidade de acionar a Justia Comum sem antes esgotar a jurisdio desportiva. Evidentemente, jamais algum sustentaria que isso matria de Constituio. E temos inmeras outras. H no muito tempo, li um artigo que dizia o seguinte: um absurdo! O Cdigo Civil, em matria de tutela, desrespeita a dignidade humana. Por qu? Porque ele s trata dos bens, em matria de ausncia, do ausente. Fiquei pensando: mas ele tem de tratar do ausente? Porque o ausente, ou no se encontra no lugar, e se encontra em outro, e a ele capaz, plenamente capaz, e no nem relativamente incapaz; ou ele morreu, e, conseqentemente, no precisa mais ser tutelado como pessoa viva. Vejam que se considerava um absurdo e feria o princpio da dignidade humana que no se tivesse tratado da proteo do ausente. Isso um problema delicado, porque, hoje, no Brasil, toda vez que fixamos um princpio, a prtica, em geral, faz com que o princpio se converta no seu antpoda. Atualmente, a Constituio diz haver presuno de inocncia. Nunca houve tanta presuno de corrupo como atualmente. H presuno de constitucionalidade das leis infraconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal tem mais de trs mil aes diretas de inconstitucionalidade. Se, hoje, se promulga uma lei infraconstitucional, amanh j se invocam vrios artigos da Constituio s para dizer que aquela lei inconstitucional. Por isso temos um Supremo Tribunal Federal que possui mais aes diretas de inconstitucionalidade que todas as cortes constitucionais do mundo reunidas, que no chegam, talvez, a 20% daquelas existentes no Supremo Tribunal Federal.
Conferncia de Encerramento
29
3 Conferncia de Encerramento
Conferncia de Encerramento
31
A DESCONSTRUO DO ABUSO DO DIREITO
JOS DE OLIVEIRA ASCENSO Advogado e Professor de Direito Civil da Faculdade de Lisboa
1 A QUESTO O art. 187 do Cdigo Civil de 2002 (daqui por diante CC/02) teria consagrado a figura do abuso do direito. Seria uma das manifestaes da orientao mais substancialista adotada pelo novo Cdigo, em confronto com o Direito anterior. A categoria era j utilizada pelos intrpretes, a exemplo de orientaes estrangeiras. Passaria agora a ter assento legal. A prpria lei acusa uma derivao patente de precedentes estrangeiros. O art. 187 corresponde quase ipsis verbis ao art. 334 do Cdigo Civil portugus de 1966. Veremos a seguir quais as diferenas. Mas recorde-se que, ao tempo da elaborao do Anteprojeto do atual Cdigo Civil brasileiro, o Cdigo Civil portugus de 1966 era, salvo erro, o mais recente cdigo civil existente, e o art. 334 do Cdigo Civil portugus deriva, por seu turno, tambm quase literalmente, do art. 281 do Cdigo Civil grego. O art. 187 do CC/02 parece assim solidamente ancorado. Nos trs textos se prev que o titular exceda manifestamente os limites (...). Nos trs se refere o preceito ao exerccio. Nos trs se especifica o fim econmico ou social, a boa-f e os bons costumes (...). Todavia, h tambm diferenas sutis. Como no h jurista sem interpretao, no podemos deixar de anot-las, porque no final podem pesar muito. verdade que os trs cdigos referem a figura ao exerccio. Mas o Cdigo Civil grego qualifica este como proibido; o Cdigo Civil portugus como ilegtimo; o CC/02 como ilcito. Tambm a seo em que se situam difere. O Cdigo Civil portugus regulao a propsito do exerccio dos direitos; o CC/02 insere-o na disciplina dos atos ilcitos1. Mas talvez a diferena mais impressionante esteja, afinal, na prpria qualificao como abuso do direito. Este constitui a epgrafe do art. 334 do Cdigo Civil portugus. Mas o CC/02 no tem epgrafes; a matria no rotulada por lei como abuso do direito. A qualificao como abuso do direito, feita no Brasil por todos os intrpretes, assim meramente doutrinria. Deste modo, o jurista tem uma liberdade acrescida de a acatar ou no.
Escrito destinado aos Estudos em Memria do Des. Luiz Roldo de Freitas Gomes.
32
III Jornada de Direito Civil
isso, logo a uma primeira vista, o que est no art. 187 do CC/02. Mas h que contar tambm com o que no est. E o que no est , justamente, o ncleo histrico do abuso do direito. O abuso do direito surgiu como resposta doutrinria aos atos emulativos, contra os quais no se encontrava previso especfica nos cdigos civis. A estes se assimilaram os atos chicaneiros. Mas o art. 187 no fala nem em atos emulativos nem em atos chicaneiros. Recorre a categorias diferentes. Curiosamente, os atos emulativos surgem previstos noutro lugar do CC/02: o art. 1.228 2, no domnio do Direito das Coisas2. diante desse panorama que nos propomos proceder a uma desconstruo do abuso do direito. Apressamo-nos a esclarecer que no est aqui subjacente nenhum apelo a uma posio filosfica. Queremos apenas exprimir que nos propomos empreender uma anlise crtica da categoria (que poder ser at uma categoria aparente) para sondar seus pressupostos e sua solidez. O problema, de incio, consiste em depararmos com trs figuras muito diversas entre si. Constituiro essas figuras uma categoria prpria, a que possamos designar abuso do direito? Se a resposta for negativa, teremos ento de perguntar: e h uma categoria de abuso do direito, em absoluto? Se no reside no art. 187, onde a sua sede?
2 OS ENTENDIMENTOS A doutrina do abuso do direito desenvolveu-se na Frana e na Blgica em fins do sc. XIX, princpios do sc. XX, para permitir uma reao contra os atos emulativos, que no eram objeto de previso especfica do Code Civil. Os autores desses atos escudavam-se por isso na alegao de exerccio do direito. A eles foram assimilados tambm os atos chicaneiros. A questo centrou-se no exerccio da propriedade. O proprietrio poderia exercer o seu direito com o fim de causar prejuzos ao proprietrio vizinho. Era o caso da ereo de grandes espiges no prdio para furar os dirigveis que operavam em propriedade contgua. s objeces, o proprietrio limitava-se a observar que poderia fazer in suo tudo o que a lei no proibisse, porque esse era o contedo do seu direito. O individualismo e o positivismo reinantes no encontravam possibilidade de estabelecer uma proibio que no constava da lei. Certa parte da doutrina engendra ento a contra-argumentao: o direito permitia o uso, mas no o abuso. Com isto se afirma a existncia de um limite intrnseco dos direitos que no precisaria de constar da lei. O limite seria funcional. Haveria abuso se o direito fosse exercido para causar prejuzo a outrem. O abuso j no seria coberto pela atribuio do direito.
Conferncia de Encerramento
33
Surgia assim a contraposio a uma afirmao do direito absoluto de propriedade, to cara Revoluo Francesa, da existncia de limites intrnsecos dos direitos, de carter funcional, que no precisariam de ser expressos na lei3. A doutrina teve acolhimento favorvel, mas teve tambm seus detratores. Ficou clebre a sntese de Planiol: se h direito, no h abuso. Mas traduzia ainda o pressuposto do carter absoluto do direito. Se considerarmos que os direitos podem estar sujeitos a limites funcionais, podendo ser atribudos para certas funes, o abuso significar que o direito exercido num sentido que j no coberto pela sua funo. O abuso do direito expandiu-se por vrios pases, nomeadamente em 4 Portugal e no Brasil5, mas nunca foi objeto de uma anlise inteiramente satisfatria. O termo abuso suscita uma certa idia de reprovabilidade. Mas no essencial a considerao tica, pois basta o esclarecimento de que h limites implcitos nos direitos. Estes seriam tambm caracterizados por fins ou funes intrnsecas. Falando-se em abuso, significaria que esse fim ou funo seria postergado. Assim sendo, antes de mais nada se haveria de fixar os limites teleolgicos dos direitos. S conseqentemente seria possvel valorar os casos concretos para concluir se esses fins ou funes teriam sido inobservados, de maneira que o exerccio j no seria coberto pelo direito. Reduzir tudo a um vcio subjetivo, consistente no fim de causar prejuzo a outrem, pareceria insuficiente. Curiosamente, porm, essa linha subjetiva que aparece consagrada no BGB alemo, fruto da evoluo autnoma que se processou nesse pas. O 226 contempla o Rechtsmissbrauch, que traduzido como o exerccio inadmissvel de situaes jurdicas o exerccio dum direito inadmissvel se unicamente tiver por fim causar dano a outrem. O que decisivo, pois, um fim, e ainda por cima um fim exclusivo. uma colocao estritamente subjetiva, muito na linha, quer do esprito alemo, quer da fundamentao do Direito no sc. XIX. A doutrina alem ainda hoje pouco propensa a consideraes funcionais, em geral. Questes que em outras latitudes so resolvidas luz da funo, na Alemanha e em pases limtrofes de lngua alem so consideradas como meras questes de interpretao. Esta dir se as situaes em causa esto ou no abrangidas no contedo do direito. Por racionalizaes sucessivas se concluir se h, no caso, exerccio do direito ou no. Essa orientao manifesta-se em vrios campos, muito alm da previso subjetivista do 226 do BGB. Portanto, na fraude lei, a doutrina alem no vai pelo caminho do julgamento dos fins ou objetivos prosseguidos, ou do confronto com os legais, nem mesmo pela valorao de uma finalidade objetiva de afastar a aplicao de determinada norma. Pergunta antes se a situao que se questiona est compreendida
34
III Jornada de Direito Civil
ou no no mbito de proteo daquela norma. Logo, pretende chegar pela interpretao a circunscrever o que ou no abrangido por uma norma. Diremos assim que a problemtica do abuso do direito nos coloca perante orientaes alternativas: a) funcional, em que se procurar determinar se um tipo de exerccio satisfaz ou no a funo de um direito; b) subjetiva, que se centrar no julgamento das finalidades (exclusivas?) do agente; c) racional-descritiva, que pretender limitar-se demarcao, por interpretao, do contedo dos direitos. As duas ltimas encontram-se simultaneamente na ordem jurdica alem, mas como duas linhas de orientao independentes.
3 LIMITAO AO EXERCCIO DOS DIREITOS Posta a questo nestes termos, supomos que s a orientao funcional merece acolhimento. Todo o Direito necessariamente finalista, devendo-se por isso determinar as funes implicadas e valorar sua luz as situaes concretas. Sobretudo, pretender que tudo se resolva por interpretao incorrer em fico. Para isso se ter de admitir que a factispcie contm em si a mxima de deciso de todos os casos concretos que possam surgir. Mas isso leva a interpretao a um pormenor que no real. A interpretao, dada a generalidade da norma, no desce ao caso concreto. Assim, dever ser necessariamente completada por outra operao. Interpretada a fonte, extrada a norma, h ainda que proceder aplicao. injustificada a confuso das duas operaes, interpretao e aplicao, embora defendida at por autores que partem de pontos de vista diversos6. A interpretao pra na determinao da norma, que necessariamente geral. Deixa um espao por preencher, no que respeita justamente passagem ao caso concreto. O abuso do direito no se detecta, pois, apenas na abstrao normativa, mesmo considerando as funes que esta incorpora, mas exige uma valorao posterior luz daquelas orientaes. a aplicao que o realiza, iluminando as circunstncias do caso pelas orientaes que a interpretao revelou. No se trata propriamente da eqidade, porque o critrio no a justia, em abstrato: dado pelas orientaes nsitas na norma apurada. So elas que permitem apreciar o caso, aplicando s circunstncias concretas essas orientaes7. Dessa forma, a aplicao que permite apurar se as finalidades ou funes da lei toleram ou no aquele tipo de conduta. Se a resposta for negativa, dir-se- que h abuso do direito.
Conferncia de Encerramento
35
Exploremos ento esse ponto de partida, comeando por demarcar o mbito do assim caracterizado abuso do direito. O abuso poder ser referido a qualquer situao jurdica? Desde logo: podese invocar o abuso do direito na celebrao de um contrato para efeitos da rejeio de clusulas neste compreendidas? Dir-se-ia ter havido um abuso da faculdade ou poder de contratar, no exerccio da autonomia privada. Repare-se que deste modo o abuso poderia referir-se s prprias preliminares do contrato. Seria um abuso da autonomia privada8. A ser assim, o prprio ato invlido deveria ser considerado abusivo, por resultar de um abuso do poder de contratar. No cremos que esse caminho seja conveniente. O recurso a categorias vastssimas, que acabam por englobar figuras heterogneas, deve-se rejeitar. Perdem compreenso, como contrapartida da excessiva extenso. O abuso nasceu a propsito da problemtica especfica do direito subjetivo. Poder abranger situaes jurdicas equivalentes, mas no poderes genricos, como a faculdade de contratar, cuja distino da prpria categoria da capacidade difcil. Estas reclamam modos especficos de reao, que no se confundem com os que foram desenvolvidos a propsito do exerccio dos direitos subjetivos. Prosseguindo na demarcao das fronteiras, h que perguntar como se relaciona a categoria com a das clusulas abusivas. matria que ganhou atualmente grande relevncia, na seqncia da disciplina que lhe foi dada pelo Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor. Note-se porm que, apesar de ter naquele Cdigo a sua sede, o preceituado tem um mbito de aplicao mais vasto, porque o art. 29 do CDC permite abranger na defesa contra semelhantes clusulas no apenas consumidores, mas ainda pessoas que estiverem em condies semelhantes s dos consumidores. A qualificao das clusulas como abusivas acorda a suspeita do relacionamento com o abuso do direito: da mesma forma se cria uma idia de reprovabilidade. Mas, na realidade, o exame da matria mostra-nos que o que est antes em causa uma apreciao do contedo de certas clusulas, e no o julgamento de uma ao. A lei tem sobretudo em vista a desproporo ou desequilbrio que certas clusulas criam nas posies das partes. A matria foi considerada como representativa de abuso do direito9. No porm esse o nosso parecer. Em si, enquanto tem por objeto clusulas, refere-se formao do contrato, e no ao exerccio dos direitos. Est pois em causa a faculdade de contratar que, como acabamos de ver, sujeita a princpios diferentes. H, assim, todo o interesse em manter a matria afastada do nosso tema.
36
III Jornada de Direito Civil
4 A BUSCA DE UM NCLEO COMUM Desembaraado o campo, regressemos ao art. 187 do CC/02. Como dissemos, o dispositivo prev trs categorias muito diferentes: os atos contrrios boa-f, aos bons costumes e ao fim econmico ou social dos direitos. Mas, como afirmamos tambm, omite justamente a referncia ao ncleo histrico da figura do abuso do direito: os atos emulativos, a que se assimilam os atos chicaneiros. J no Direito romano se encontram previses que antecipam a condenao dos atos emulativos. Esta tambm pacificamente acolhida pelos praxistas, no tronco comum dos Direitos portugus e brasileiro atuais. Assim, Coelho da Rocha j exclui os atos que causem prejuzo a outrem sem nenhum interesse, e s por emulao10. E todos repetem o tradicional brocardo: Qui petit quod redditurus est (...). (Quem pede o que ter que restituir), donde resulta a proibio da chicana. Dessa forma, no podemos deixar de indagar por que falta justamente isso na previso do art. 187. A estranheza ainda cresce quando verificamos que os atos emulativos no deixam de estar previstos: mas esto no art. 1228, 2., e no no art. 187, como dissemos. Limitando-nos agora ao art. 187, vejamos se o seu contedo susceptvel de unificao substancial. H aspectos comuns: 1) Regula o exerccio dos direitos assim acontece tambm nos Cdigos grego e portugus. O defeito ou vcio da conduta verifica-se quando ocorre o exerccio de um direito; 2) Supe um excesso manifesto tambm uma caracterstica comum s trs leis e s trs categorias de casos mencionados: o exerccio em causa deve exceder manifestamente os limites impostos pela boa-f, pelos bons costumes ou pelo fim econmico ou social. bom que assim acontea. Seria muito inconveniente, e mesmo socialmente insuportvel, que todo o exerccio jurdico pudesse ser objeto de um controle social exaustivo, para verificar se haveria nele abuso ou no. Criaria uma litigiosidade sem fim, ainda que o recurso a juzo fosse deixado na disponibilidade dos interessados. S os casos de exerccio manifestamente excessivo, por abusivo, podero ser atingidos. Mas h tambm elementos que pem em causa a unificao como categoria unitria do abuso do direito. primeira vista surge a omisso da qualificao abuso do direito. A lei brasileira no menciona a figura do abuso do direito. verdade que o CC/02 no tem epgrafes, e por isso essa diferena do CC portugus deve ser relativizada. Mas tambm no pode deixar de implicar que o intrprete fica mais solto, para no final qualificar a situao realmente como abuso do
Conferncia de Encerramento
37
direito ou no. Os intrpretes no aproveitaram essa liberdade. Unanimemente, ao que pensamos, qualificaram a matria como abuso do direito, sem discutir a categoria. Vejamos ento se o art. 187 ou no refervel a essa figura; e se o no for, o que pensar do instituto tradicional do abuso do direito. 1) Exerccio inadmissvel Podero as modalidades de exerccio irregular compreendidas no art. 187 ser unificadas por referncia a um exerccio inadmissvel de situaes jurdicas? uma categoria utilizada com freqncia, no seguimento da previso do BGB. Cremos porm que a qualificao pouco explicativa ou talvez nada explicativa, pois ficamos sem saber por que inadmissvel esse exerccio. Falta a caracterizao material que estar na origem dessa inadmissibilidade. Por muitas razes o Direito pode rejeitar tipos de exerccio. Um exerccio rejeitado pelo Direito um exerccio inadmissvel, mas nem todo exerccio inadmissvel deve ser qualificado como abuso do direito. Um exerccio ilcito ou a leso so exerccios rejeitados, sem que por isso se deva caracterizar todo exerccio ilcito ou a leso como abuso do direito. 2) Exerccio disfuncional Uma vez que vai contra a funo, poderemos dizer que h um exerccio disfuncional? De fato, na origem histrica recente da figura tiveram-se em vista situaes de exerccio disfuncional. Porm, desde j se h de observar que a disfuno no necessariamente repelida pela ordem jurdica; pode a disfuncionalizao ser deixada autonomia privada. O que dizemos ilustra-se flagrantemente com a figura do negcio indireto. Fala-se em negcio indireto quando um negcio utilizado para um fim que no o seu tpico. O negcio indireto no proibido11. O recurso a este est dentro dos limites da autonomia privada. O que importa distinguir os tipos em que a finalidade legal se impe s partes e aqueles em que deixada autonomia privada. Tal como as partes podem criar negcios atpicos, assim podem nesses termos recorrer a negcios indiretos. Por isso, tambm os casos de abuso do direito no podem ser definidos como casos de exerccio disfuncional de situaes jurdicas.
38
III Jornada de Direito Civil
3) Estar em causa a funcionalidade? Assim acontece efetivamente quando se prev o fim econmico ou social do direito. Trata-se, ento, ou de funcionalidade, ou de algo muito prximo a ela a finalidade. Mas que dizer das outras situaes? Afirmando-nos bem, verificamos que no art. 187 no se pode dizer que sempre a funcionalidade que salvaguardada. Os bons costumes nada tm a ver com consideraes funcionais. Se os atos contra os bons costumes so vedados, isso resulta de consideraes de outra ordem, de origem tica, e no de exigncias de realizao de funes. Alis, os bons costumes no representam algo que s respeite ao exerccio. Manifestam-se em geral no direito, na valorao das clusulas contratuais, por exemplo. Os alemes no consideram ilcito o ato contra os bons costumes, porque distinguem o ato contrrio lei ou ilcito do ato contra os bons costumes12. De todo modo, o exerccio contra os bons costumes rejeitado, no por ter algo a ver com a funo, mas por causa do seu contedo. Revela-se assim j uma disparidade, e profunda, entre dois tipos de situaes contempladas no art. 187.
5 O EXERCCIO CONTRRIO BOA-F E que dizer da incluso da boa-f no art. 187? A boa-f um grande princpio valorativo do Direito. O CC/02 traz um progresso assinalvel nesse campo, uma vez que a boa-f cobre quase integralmente todo o domnio das aes e das situaes jurdicas. H que partir da grande distino da boa-f em subjetiva e objetiva. A subjetiva est ligada a uma posio do esprito do agente. Exprime-a o Cdigo atravs de expresses como sabendo que... (art. 1.212, por exemplo). A boa-f objetiva, que aqui nos interessa em particular, traduz-se em regras de conduta. Pergunta-se, valorativamente, como se comportaria naquela situao um sujeito de boa-f. Traam-se deste modo padres de correo no comportamento, que permitem a valorao de casos concretos. O grande inconveniente da boa-f, tal como tem sido desenvolvida, o oposto de sua virtude: a excessiva extenso. Se se aplica a todos os setores do Direito e em todas as circunstncias, perde compreenso. Por isso dizemos que a boa-f, se tudo, passa a no ser nada. Passa a ser um rtulo com pouca explicatividade. Contra essa excessiva diluio h que reagir, distinguindo figuras que concretizem o critrio geral. Assim, o venire contra factum proprium, ou comportamento
Conferncia de Encerramento
39
contraditrio, permite detectar e conseqentemente concretizar uma manifestao da boa-f. D-se assim maior preciso e segurana a uma tpica incidncia desta categoria. Igualmente importante afastar o recurso boa-f em zonas em que tal no se justifica. O excessivo recurso figura, para abranger matrias em que faltava apoio legal, levou a aplicaes indevidas, meramente nominalsticas e carecidas de apoio substantivo. o que se passa, a nosso ver, com a onerosidade excessiva por alterao das circunstncias, que o art. 478 do CC/02, por uma importao menos feliz que tem por origem a posio da jurisprudncia alem, reconduz a uma exigncia contrria boa-f. A exigncia irrelevante, pois o que decisivo a desproporo ou desequilbrio das situaes que fere a justia contratual13. Dito isto, retomemos o tema do abuso do direito. O art. 178 tambm recorre boa-f; e de aplaudir que o faa, porque o exerccio dos direitos se deve pautar pela boa-f. Mas a imposio da boa-f no exerccio de direitos no pode ser reconduzida a uma rejeio da disfuncionalizao. No est necessariamente em causa um exerccio disfuncional. Aquilo que se disciplina algo que respeita quase sempre ao contedo e no funo. Pretende-se que o exerccio seja correto e no evitar, muito menos evitar sempre, que o exerccio seja desviado para funes esprias. Ora, como vimos, essa a preocupao que funda o abuso do direito. Com isso deparamos, na base do recurso boa-f, com uma situao semelhante que encontramos a propsito dos bons costumes. O que est em jogo uma apreciao substancialmente dirigida ao contedo das condutas, e no forosamente o desvio de uma funo. Imaginemos que Paulo tem o direito de fazer escoar pelo prdio de Quirino guas que tem em excesso no seu prdio. Suponhamos agora que Paulo aproveita para se desfazer de produtos qumicos que tornam estril a terra de Quirino por onde passam. Assim procedendo, nada adianta afirmar que Paulo agiu disfuncionalmente: ele est prosseguindo um interesse prprio. Mas o ato ilcito, porque contrrio boa-f realizar um escoamento de maneira que destri a terra para a qual dirigido. Talvez por isso se explique que a lei brasileira tenha qualificado aqueles atos como ilcitos. Uma vez que no se baseia na disfuncionalidade, mas num contedo do exerccio que vai contra um princpio geral do Direito, o exerccio ilcito. Mas com isso tambm se afasta da figura do abuso do direito, em que a conseqncia da ilicitude bastante mais duvidosa, como veremos. Em concluso: verificamos que todas as categorias previstas no art. 187 no se confundem, afinal, com o clssico abuso do direito.
40
III Jornada de Direito Civil
6 SOBRE UM EVENTUAL CARTER UNITRIO DAS FIGURAS CONTEMPLADAS NO ART. 187 Que pensar ento do prprio art. 187? Ele engloba trs figuras distintas entre si, enquanto contempla a contrariedade: a) boa-f; b) aos bons costumes; c) ao fim econmico ou social do direito. Tais figuras s apresentam um lao entre elas: todas consistem em irregularidades no exerccio de um direito. Ser isto um elemento de unificao bastante? O art. 187 pode ser descrito como o preceito que prev a irregularidade no exerccio dos direitos? Tambm assim no se resolve, porque muitas outras irregularidades no exerccio h, alm das contempladas. Basta pensar em todas as modalidades de exerccio proibido: plantar maconha, afrontar preceitos ecolgicos ...14. Temos assim trs figuras distintas e no reconduzveis a uma categoria comum. Por que as juntou ento o Cdigo? tambm ilcito, diz o art. 18715. Sabendo embora que h muitas outras formas de exerccio ilcito, o que se poder retirar desse acentuar da ilicitude? De ilcito pode-se falar: a) em sentido restrito; b) em sentido lato. Em sentido restrito, temos, parece, a figura contemplada no art. 186. Diramos ser um ilcito subjetivo. Pelo menos exige dolo ou negligncia, nos casos normais16. Em sentido lato, porm, temos um entendimento objetivo da ilicitude, como contrariedade a preceito jurdico, mas independentemente do estado de esprito do agente. Ora, o art. 187 emana desse conceito amplo e objetivo de ilicitude. No pergunta se o exerccio se fez com base em dolo ou negligncia, ou no. Para que a conduta seja atingida por aquela previso no h que discutir: se o sujeito se apercebeu de que contrariava os bons costumes, se pretendia ou no violar a funo econmica ou social, se julgava ou no atuar corretamente. Em todos os casos, a ilicitude proclamada no depende da qualificao da vontade ou do estado de esprito do agente. Encontramos assim mais um tnue lao entre as figuras contempladas. No s representam sempre irregularidades no exerccio do direito, como padecem de uma irregularidade objetiva, no sentido de no depender do estado de esprito do agente. Podemos encontrar ainda uma terceira razo para o legislador ter juntado trs figuras dspares. Em todos os casos, encontramos o elemento comum de no bastar a mera descrio de uma conduta para caracterizar o ilcito. Intervm sempre um trao valorativo, indispensvel para a caracterizao da irregularidade.
Conferncia de Encerramento
41
Saber se h ou no ofensa aos bons costumes ou violao da boa-f s se pode apurar mediante uma valorao das condutas em causa. H uma clusula geral valorativa, e s ela nos pode dar a resposta quanto ilicitude. Mesmo a contrariedade ao fim econmico ou social do Direito no se basta com a materialidade de uma conduta; exige ainda que sobre ela se faa a valorao, de que resultar poder-se concluir se o fim ou funo do direito em causa foi postergado. Temos com isto apurada uma conexo das figuras em causa, no obstante a sua diversidade. Representam sempre causas valorativas de atuaes objetivamente ilcitas no exerccio dos direitos. um parentesco frgil. Bastar ele para permitir unificar as vrias figuras num instituto prprio? Isso s seria possvel se logrssemos encontrar um regime comum, pois de outro modo a unificao seria meramente nominal. Expressamente, o art. 187 s contm a qualificao das condutas como ilcitas. Que significado poderemos retirar dela, em termos de regime? Chamamos j a ateno para a diversidade de qualificaes, nos trs cdigos que albergam regra semelhante. O Cdigo Civil grego declara proibido. No esclarece praticamente nada. O Cdigo Civil portugus qualifica como ilegtimo. No um termo tcnico. Supomos que a motivao tenha sido essencialmente negativa: quis-se fugir qualificao como ilcito. Ter-se- tido em vista, a nosso ver, que as conseqncias do exerccio abusivo podem ser muito variadas, no consistindo apenas na responsabilidade civil que estaria ligada afirmao da ilicitude. Pode fundar to-s a pretenso de cessao da conduta, a reconstituio natural e outras conseqncias ainda, nelas includa a responsabilidade civil, se acrescerem os elementos normais do dolo ou negligncia. O CC/02 qualifica como ilcito. Mas um ilcito objetivo. No est ligado diretamente ao dano, ao contrrio do que se passa no art. 186. Como tal, no se afasta da posio do Cdigo Civil portugus, pois a ilicitude em sentido amplo no basta para impor como conseqncia necessria a responsabilidade civil. A conseqncia comum desses modos de exerccio seria assim a irregularidade. Sendo irregular, o exerccio pode ser proibido: pode ser utilizada a ao inibitria. Por outro lado, as clusulas que estipulam condutas desse tipo devem ser consideradas invlidas. Um efeito condicionado a um exerccio dessa ordem (contra os bons costumes, por exemplo) seria ilegal17. Encontramos pois alguns aspectos de regime que podem ser considerados comuns. Mas bastar isto para que se possa falar de um instituto unitrio?
42
III Jornada de Direito Civil
7 A OFICIOSIDADE NA APRECIAO A nossa resposta negativa. No h nenhum instituto unitrio cuja base seja o art. 187 do CC/02. No s no h base para se admitir um regime comum, por ser a juno meramente casual, como a unificao seria at nociva. Vamos dar algumas pistas de sustentao dessa tese examinando duas reas em que se poderia supor a existncia de um regime comum, e proceder sua crtica: a oficiosidade e a responsabilidade civil. Comecemos pela oficiosidade. Perguntamos com isto se, perante um litgio que lhe seja colocado, o juiz poder por sua iniciativa suscitar a questo da aplicao do art. 187, invocando o carter oficioso da apreciao do abuso do direito. Pressupe-se que haveria no processo elementos que poderiam fundar a afirmao dum abuso do direito, mas que isso no teria sido alegado pelas partes. Em semelhante hiptese, no se ultrapassa o nus da prova; mas haver-se-ia de perguntar se no seria ultrapassado o nus da alegao. No pretendo entrar num debate de Direito Processual. Limito-me, porque parece importante, a aduzir os termos em que a questo foi suscitada em Portugal, diante de previso legal to semelhante. Vaz Serra defendeu categoricamente que funo do tribunal determinar os limites internos dum direito, mesmo que as partes os no invoquem 18. Atingiria o que choca clamorosamente o sentido de Justia. Mas a verdade que desse modo no se apresenta nenhum critrio ou fundamento da posio assumida; e muito real o risco de, por falta de parmetros seguros, cair-se numa jurisprudncia de sentimento. Vaz Serra afirmara que o agente em abuso do direito atuaria como se no tivesse direito19. O Supremo Tribunal de Justia portugus inspirou-se na idia, mas levou-a a um extremo: o abuso do direito seria um caso de falta de direito. O que seria necessrio justificar, pois o agente tem um direito, o que no pode exerc-lo assim. todavia com essa base que o Supremo Tribunal de Justia se sente legitimado para controlar oficiosamente tudo. Mesmo que a parte no tenha invocado o abuso do direito, o Supremo permite-se deitar abaixo qualquer deciso contrria das instncias que no lhe agrade, no precisando retomar o debate jurdico realizado; basta-lhe afirmar que o recorrido pratica um abuso do direito. Assim, num acrdo de 25 de junho de 1986, o Supremo decidiu pelo abuso de direito um caso de dispensa realizada durante o perodo experimental, porque no tinha havido sequer exerccio efetivo, uma vez que ocorrera em tempo de frias. No havia falar, porm, em abuso de direito, uma vez que o prprio contedo do caso mostrava que a deciso era inadmissvel. Bastava a interpretao para levar a concluir que a lei no permitia dispensa no perodo experimental, salvo fundada numa prestao insatisfatria do trabalhador20.
Conferncia de Encerramento
43
Com esse entendimento, o Supremo afasta na prtica o princpio dispositivo. No h nenhum fundamento que permita em geral que, no tendo havido oposio da parte, o tribunal pesquise oficiosamente o fundamento da pretenso. Nem a falta absoluta de direito, que o Supremo invoca, seria oficiosamente pesquisada. A unificao das vrias figuras num instituto nico revela-se assim perniciosa, porque faz perder de vista a diversidade das situaes. Antes, tem-se de distinguir os casos em que o tribunal pode intervir oficiosamente e aqueles em que est sujeito s alegaes das partes. O que se impe ento por si ao tribunal, independentemente de alegao das partes? So as normas injuntivas imperativas e as que se possam qualificar como de ordem pblica. Todas as outras dependem de alegao, mesmo as normas simplesmente injuntivas21. Passamos assim a verificar que atitude o tribunal deve adotar perante cada categoria de situaes, dentre as contidas no art. 187. a) Exerccio contra os bons costumes viola regras que devem ser consideradas de ordem pblica em geral. A contrariedade a estas regras deve ser oficiosamente controlada. b) Exerccio contrrio boa-f a boa-f objetiva exprime-se por regras de condutas. Essas regras de conduta regulam as posies dos particulares: cabe a estes faz-las valer, quando for do seu interesse. Dada a desmesurada extenso da boa-f, no podemos excluir de sada que em situaes de extrema gravidade a contrariedade possa ser oficiosamente controlada, por incidncia de outras consideraes. Mas o princpio bsico, se no mesmo universal, o de que cabe s partes, querendo, defender-se. c) Exerccio contrrio ao fim econmico ou social essa categoria envolve uma boa dose de ambigidade. Temos porm um apoio no art. 2.035, pargrafo nico, CC/02, que qualifica como regras de ordem pblica as referentes funo social da propriedade e do contrato. O preceito relativo s convenes, mas dele retira-se facilmente a extenso da qualificao da ordem pblica tambm para o prprio exerccio. Daqui resulta que a contrariedade do exerccio funo social deve ser oficiosamente apreciada em juzo. Quanto a outros atos que possam estar compreendidos na categoria fim econmico ou social, haver que pesquisar. O princpio ser o de suscitarem apreciao oficiosa, para se salvaguardar o interesse coletivo, mas no est excludo que em certas categorias esse fim no tenha tal relevncia que imponha a apreciao oficiosa. Seria porm necessria uma distino das vastas categorias de atos
44
III Jornada de Direito Civil
implicados, que s poderia resultar de uma investigao especfica, para permitir uma concluso neste domnio22.
8 A RESPONSABILIDADE CIVIL O outro grande banco de ensaios situa-se no domnio da responsabilidade civil. O art. 187 do CC/02, ao qualificar como ilcitos os exerccios que caracteriza, pareceria levar conseqncia que de todo abuso do direito resultaria a obrigao de indenizar, desde que ocorresse dano. Com efeito, o art. 927 dispe: quem, por ato ilcito, causar dano a outrem, fica obrigado a repar-lo. A sujeio ao dever de reparar danos resultaria assim universalmente de todo ato abusivo causador de danos. Mas o prprio art. 927, no pargrafo nico, que delimita as hipteses em que h dever de reparar o dano, independentemente de culpa. O que significa que, quando se fala no promio em ato ilcito, tem-se em vista o ato para o qual o agente concorreu com culpa. Se no houver culpa, a responsabilidade s poder relevar nos casos especificados no art. 927, pargrafo nico, que so justamente os de responsabilidade sem culpa. Esses casos so: 1) Os especificados em lei mas o art. 187 no determina a sujeio responsabilidade, logo, no ter automaticamente essa conseqncia. 2) Os que implicarem, por sua natureza, risco aos direitos de outrem no o caso do art. 187: nada permite afirmar que os exerccios previstos impliquem, por natureza, risco para outrem. certo que o art. 927 refere especificamente os arts. 186 e 187. Porm, a atende-se apenas ao art. 187 para efeitos da responsabilidade civil. Se no houver culpa, a responsabilidade civil no ocorre. Mas ento haver que perguntar se no possvel haver um ato abusivo de que no resultem danos, ou em que no haja culpa do agente, ou em que se no aplique o art. 927 nico. Isso possvel? Sem dvida. A violao da funo social de um bem, por exemplo, pode no provocar danos a terceiro. Pode tambm ser praticada sem dolo ou negligncia; e no faz incorrer por si na responsabilidade sem ilcito. Temos ento outra conseqncia negativa da amlgama constante do art. 187. Mesmo no que respeita ao dever de reparar os danos, deixou de atender ndole prpria de cada situao contemplada.
Conferncia de Encerramento
45
Teremos ento de nos resignar a concluir que do preenchimento da factispcie do art. 187 nenhuma conseqncia resulta, se no couber dever de indenizar danos? No assim. O ato de todo modo irregular. E da irregularidade ou desconformidade do ato com a ordem jurdica podem derivar mltiplas conseqncias. Suponhamos um ato contrrio funo social que no seja caracterizado por dolo ou negligncia. O ato tem por si conseqncias desde logo porque permite que seja imposta a cessao desse ato. Muitas outras so ainda possveis consoante as circunstncias, como sejam, a invalidade de clusulas abusivas, as defesas contra os atos contrrios aos bons costumes e assim por diante. O que acontece que tambm por esse prisma a uniformizao nefasta. A qualificao do ato abusivo como ilcito no melhora, antes perturba, porque esconde a especificidade de cada situao implicada. A anlise ter de prosseguir, no pelo desenvolvimento abstrato da categoria da ilicitude, mas pela anlise tpica das conseqncias que podem resultar da violao da boa-f, dos bons costumes ou do fim social ou econmico dos direitos exercidos. Isto significa que, repudiada a falaciosa unificao das trs figuras, o caminho que se abre , aqui como noutros traos do regime jurdico, analisar separadamente cada categoria por si, para verificar qual a disciplina que lhe corresponde. tarefa que deixamos assinalada mas seria deslocada aqui, porque nos levaria a empreender, no uma pesquisa, mas trs pesquisas diferentes e afinal dissociadas entre si. Limitamo-nos a referir adiante alguns aspectos parcelares.
9 A REJEIO DE UM UNITRIO ABUSO DO DIREITO Cabe agora expor o que resulta da pesquisa realizada. Temos de nos resignar a admitir que no h um instituto unitrio do abuso do direito. H trs institutos independentes, reunidos sob um preceito legal e uma etiqueta doutrinria apenas por representarem modos irregulares de exerccio de direitos, mas cada um est subordinado a princpios e regime prprios. Nem sequer a etiqueta boa. Abuso, afinal, no diz nada. Significa to-somente que h uma irregularidade (porque se afrontam os bons costumes, por exemplo). Mas alm destas trs causas de irregularidade muitas outras h. Daqui concluiramos que a expanso da figura, alm do ncleo clssico dos atos emulativos (e chicaneiros), no se jus