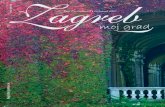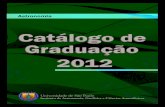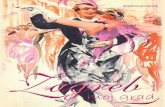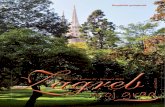UIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAD E DO SUL ...¡rios.pdfUIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAD E DO SUL...
Transcript of UIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAD E DO SUL ...¡rios.pdfUIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRAD E DO SUL...

U�IVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRA�DE DO SUL FACULDADE DE AGRO�OMIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FITOTEC�IA
FIT 00001 – SEMI�ÁRIO HORTICULTURA FIT 00001 – SEMI�ÁRIO AGROMETEOROLOGIA
Local: Salão de Atos, Prédio Central da Faculdade de Agronomia. Dia: 03/06/2011 – Sexta-feira.
Hora Título Apresentador
8:30 – 9:05 Caracterização das necessidades térmicas de gemas de macieira
durante a dormência para ajuste de modelo de predição da brotação Rafael Anzanello
9:15 – 9:50 Agrobiodiversidade, segurança alimentar e qualidade nutricional Francisco Stefani Amaro
10:00 – 10:20 Intervalo
10:20 – 10:55 Potencialidades, utilização e cultivo do capim-limão Cristiane de Lima Wesp
11:05 – 11:40 Danos mecânicos ocasionados pela vibração de transporte Josiane Pasini
12:00 – 13:30 Almoço
13:30 – 14:05 Prospecção do potencial agronômico de Guabijuzeiros no RS Ernani Pezzi
14:15 – 14:50 Utilização de plantas alimentícias não-convencionais no contexto
da segurança alimentar Lucéia Fátima Souza
15:00 – 15:20 Intervalo
15:20 – 15:55 Utilização de anticorpo monoclonal para observação da metil
esterificação da parede celular em raízes de videira Marcelo Zart
16:05 – 16:40 Desenvolvimento de mudas de butiazeiro em recipientes: densidade
e pH do substrato Claudimar Sidnei Fior

CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES TÉRMICAS DE GEMAS DE
MACIEIRA DURANTE A DORMÊNCIA PARA AJUSTE DE MODELO DE
PREDIÇÃO DA BROTAÇÃO1
Autor: Rafael Anzanello2
Colaboradores: Flávio Bello Fialho3, Henrique Pessoa dos Santos3, Homero Bergamaschi4
Orientador: Gilmar Arduino Bettio Marodin4
Introdução
Para que a macieira inicie um novo ciclo vegetativo na primavera, é necessário que a
planta seja exposta a um período de baixas temperaturas durante o outono e inverno, para a
superação da endodormência (PETRI et al., 2002). Caso a necessidade de frio não seja
satisfeita, as plantas apresentam atrasos e irregularidades na brotação e floração, o que
compromete a produção da espécie frutífera.
Existem modelos matemáticos para prever a superação da endodormência, e
consequente indução da brotação de frutíferas caducifólias, baseados na quantificação de
acúmulo de frio de cada ano. Os modelos mais aplicados se fundamentam em estudos
antigos, descritos por: WEINBERGER (1950) - Horas abaixo ou iguais a 7,2ºC;
RICHARDSON et al. (1974) - Modelo de Utah; SHALTOUT & UNRATH (1983) - Modelo de
Carolina do Norte. Tais modelos foram ajustados às condições climáticas norte-americanas,
marcadas por outonos e invernos relativamente constantes e regulares e, em sua maioria,
elaborados para a cultura do pessegueiro (WEINBERGER, 1950; RICHARDSON et al.,
1974). Já, nas condições climáticas sul brasileiras (onde se concentra a produção de maçã
no País), ocorrem grandes oscilações térmicas durante o período outonal e hibernal, o que
torna esses modelos pouco confiáveis e, em sua maioria, imprecisos (PETRI et al., 2002).
Nessas condições, a importância do calor e do frio na indução, evolução e superação da
endodormência deve ser melhor estudada, de modo a ajustar e/ou desenvolver modelos que
atendam, por meio de parâmetros específicos, a previsão do início do crescimento
vegetativo e a qualidade da brotação (ex.: uniformidade e percentual máximo) para
1 Resumo do seminário apresentado na disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e Agrometeorologia, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em 03 de junho de 2011. 2 Doutorando do PPGFitotecnia/UFRGS - Faculdade de Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, 7712, Porto Alegre, RS.Bolsista CNPq. E-mail: [email protected]. 3 Pesquisador A - Embrapa Uva e Vinho, Rua Livramento 515, Bento Gonçalves, RS. Email: [email protected]; [email protected] 4 Professor - Faculdade de Agronomia/UFRGS, Avenida Bento Gonçalves, 7712, Porto Alegre, RS. Email: [email protected], [email protected].

diferentes grupos de cultivares (precoces, intermediárias e tardias) (HAUAGGE &
CUMMINS, 1991).
Nesse sentido, este trabalho visou avaliar o efeito de diferentes regimes de frio
(constante e oscilatório) na indução e superação da endodormência em gemas apicais de
cultivares de macieiras com contrastes em necessidade de frio hibernal, com vistas à
elaboração e/ou ajuste de um novo modelo para predição da brotação.
Material e Métodos
Ramos de ano de 25 cm das cvs. Castel Gala (exigência baixa de frio) e Royal Gala
(exigência média a alta de frio) (DENARDI & SECCON, 2005) foram coletados em um
pomar localizado em Papanduva, SC, de março a junho de 2009 e de abril a julho de 2010.
Em 2009, a intensidade de dormência foi avaliada pelo método de estacas de nós
isolados, sendo os ramos fragmentados em estacas com 7 cm de comprimento, portando
uma gema apical. As estacas foram plantadas em espuma fenólica umedecida e submetidas
a quatro intensidades de frio (3, 6, 9 e 12°C) em BODs, por até oito semanas, equivalente a
1.344 horas de frio (HF). A cada 168 HF, uma parcela das estacas de cada tratamento era
transferida para a temperatura de 25°C, para avaliação da brotação das gemas. Para cada
época de coleta, foi incluído um tratamento controle, cujas estacas acumularam o frio
recebido apenas no campo, sem terem sido submetidas ao frio em ambiente controlado.
Em 2010, a profundidade de dormência foi avaliada pelo método de estacas intactas,
contendo uma gema apical e 6 a 10 gemas laterais. As estacas foram distribuídas em feixes,
embaladas com filme plástico preto, e submetidas a quatro tratamentos. A temperatura foi
constante (3ºC) ou sujeita a variações entre 3 e 15ºC em ciclos diários de 6/18h, 12/12h ou
18/6h, respectivamente. As gemas foram submetidas aos tratamentos por até 504 HF para a
‘Castel Gala’ e até 1.344 HF para a ‘Royal Gala’. A cada 72 - 96 HF, uma parcela das
estacas de cada tratamento era transferida para a temperatura de 25ºC, para avaliação da
brotação, ficando as estacas dispostas em posição ereta, sustentadas por uma dupla
camada de tela trançada sobreposta a um reservatório contendo uma lâmina de água de 3
cm. Assim como em 2009, também foi incluído um tratamento controle, sem ação do frio.
Em todos os experimentos, uma curva sigmóide assimétrica estabelecida pela
equação de Gompertz reparametrizada foi ajustada aos dados de brotação. As variáveis
analisadas permitiram o ajuste de três parâmetros: brotação máxima (M) (porcentagem total
de gemas brotadas), precocidade de brotação (P) (tempo necessário para o alcance de 37%
da brotação máxima, em dias) e uniformidade de brotação (U) (tempo necessário para
alcance entre 10 e 90% da brotação máxima, em dias).

Resultados e Discussão
Na análise da brotação das gemas apicais controle, ou seja, aquelas que foram
submetidas diretamente a 25°C ao serem trazidas do campo, sem passarem pelo frio em
condições controladas, foi confirmada a diferença de exigência de frio das cultivares (Figura
1). Neste contraste inicial, as gemas da ‘Castel Gala’ entraram em endodormência a campo
com até 70 HF (verificada pela redução na capacidade de brotação das gemas), enquanto
as gemas da ‘Royal Gala’ a fizeram com, no máximo, 165 HF. Além disso, verificou-se que a
cv. Castel Gala apresenta uma dormência superficial (cerca de 40% de brotação no período
máximo de endodormência), enquanto a dormência da ‘Royal Gala’ é profunda (brotação
nula, ou próximo disto, na fase plena da endodormência). Observou-se também que, com
apenas 300 HF em condições naturais, a 'Castel Gala' já supera a dormência, o que
confirma a baixa exigência de frio deste genótipo (DENARDI & SECCON, 2005).
0
20
40
60
80
100
Março Maio Junho
Brotação (%)
Royal Gala Castel Gala
0
20
40
60
80
100
Abril Maio Junho Julho
Brotação (%)
Castel Gala Royal Gala
Figura 1: Evolução do estado de dormência de gemas apicais de macieiras ‘Royal Gala’ e ‘Castel Gala’ durante o período experimental a campo, em 2009 (A) e 2010 (B). Papanduva, SC.
As temperaturas efetivas para a superação da endodormência foram mais altas para
a cv. Castel Gala se comparada a ‘Royal Gala’ quando testadas em condições controladas.
Observou-se pelas coletas de junho de 2009 e 2010 que, após o estabelecimento da
dormência, a cv. Royal Gala necessitou de baixas temperaturas (3 e 6ºC), constantes
(Figura 2) ou oscilatórias com temperaturas de calor moderadas (15ºC) (Figura 3), para o
alcance de níveis altos de brotação. Já, a cv. Castel Gala atingiu uma brotação satisfatória
com temperaturas constantes ou alternadas, sendo efetivas também as temperaturas de 9 e
12ºC durante o período de endodormência, como verificado pelas coletas de maio de 2009 e
junho de 2010 (Figuras 2 e 3). Para HAUAGGE & CUMMINS (1991) novos métodos para
mensurar necessidades de frio devem ser elaborados, considerando intervalos maiores de
temperaturas para cultivares de macieira com menor exigência em frio.
A B
0h≤7,2ºC 70h≤7,2ºC 299h≤7,2ºC
2h≤7,2ºC 15h≤7,2ºC 80h≤7,2ºC 165h≤7,2ºC

Na maioria dos testes realizados em condições controladas foram necessárias cerca
de 300 HF para a ‘Castel Gala’ (como já observado no campo) e em torno de 600 HF para a
‘Royal Gala’ para a superação da endodormência, independente do regime térmico
(constante ou oscilatório – 3/15ºC) (Figuras 2 e 3). Para RICHARDSON et al. (1974) e
SHALTOUT & UNRATH et al. (1983) temperaturas moderadas (15ºC) é calor para permitir
crescimento, a partir da temperatura base, porém, não é calor suficiente para anular o frio
acumulado.
Figura 2: Brotação máxima de gemas apicais de macieiras ‘Castel Gala’ (A) e ‘Royal Gala’ (B) submetidas a regimes a temperaturas constantes de 3, 6, 9 e 12ºC, durante o período de dormência. Bento Gonçalves, 2009.
Figura 3: Brotação máxima de gemas apicais de macieiras ‘Castel Gala’ (A) e ‘Royal Gala’ (B) submetidas a regimes à temperatura constante de 3ºC ou temperaturas alternadas de 3/15ºC (noite/dia) durante o período de dormência. Bento Gonçalves, 2010.
Quanto à precocidade e uniformidade de brotação, as respostas de tais parâmetros
podem ser generalizadas pelo padrão apresentado pela ‘Royal Gala’, amostrada em maio e
junho de 2010, aos diferentes regimes térmicos (constante ou oscilatório) (Figura 4). Notou-
se que, quanto maior o número de horas de frio durante o período de endodormência, maior
a precocidade das gemas para a brotação, ou seja, menor a necessidade em unidades de
calor (Figura 4A). Quanto à uniformidade, verificou-se que a brotação se torna mais
A B
B A

uniforme após a superação da endodormência (300 HF para a ‘Castel Gala’ e 600 HF para a
‘Royal Gala’), (Figura 4B), conforme já descrito por PETRI et al. (2002).
Figura 4: Precocidade (A) e uniformidade (B) de brotação de gemas apicais de macieiras ‘Royal Gala’ em junho e maio, respectivamente, submetidas à temperatura constante ou temperaturas alternadas durante o período de dormência. Bento Gonçalves, 2010.
Conclusões
A avaliação dos parâmetros brotação máxima, precocidade e uniformidade da
brotação mostram-se promissores para a elaboração e/ou ajuste de um modelo matemático
mais preciso e fidedigno para a predição do início do ciclo vegetativo em macieiras, nas
condições climáticas sul brasileiras.
Referências bibliográficas
DENARDI, F.; SECCON, J. J. 'Castel Gala' - mutação da macieira 'Gala' com baixa
necessidade de frio e maturação precoce. Revista Agropecuária Catarinense, v. 18, n. 2,
p. 78-82, 2005.
HAUAGGE, R.; CUMMINS, J.N. Season variation in intensity of bud dormancy in apple
cultivars. Journal of Horticultural Science, v.116, p.107-115, 1991.
PETRI, J. L.; PALLADINI, L. A.; POLA, A. C. Dormência e indução da brotação da macieira.
In.: A cultura da macieira. Florianópolis: EPAGRI, 2002. 743 p.
RICHARDSON, E. A; SEELEY, S. D; WALKER, D. R. A model for estimating the completion
of rest for 'Redhaven' and 'Elberta' peach trees. HortScience, v. 1, p. 331-332, 1974.
SHALTOUT, A. D; UNRATH, C. R. Rest completion prediction model for 'Starkrimson
Delicious' apples. Journal of Horticultural Science, v. 108, p. 957-961, 1983.
WEINBERGER, J.H. Chilling requirements of peach varieties. Proceedings of the
American Society for Horticultural Science, v. 56, p. 122-128, 1950.
A B

� �
���������������� � � ������ ��������� � � �������
� ��������� ��
�
������ � ���� ��� ������ ����� �
��������� � ������ ������ ���� ��� ��� ���� � � �
�
�����������
�
��� ���� ���� ��� � ��� ���� � ���� ������� ��� � � � �� ��� � �������� � ! � " # # # �
� $ � �� ���� � %����&�� ����� �������� ��� � ���� � � �������� �� �� ����� ��
�������� �� �������� ���$ � �����%����� �����&����� ��� � �� '��� �� ���� ���
�����" �
� �� &� ��� �� ������(��� �� %����&�� ����� ����&��� � ����� �� ������ �����
����)���� * ���+ � � ������ ��� �&� ������&� ������� � &� ��� ,� ���-���� �� ��������
�� �������" � �� �%.���&�� ���� � �� ������&� ���� � & ���)���� �� �� �������� ��
%����&�� ����$ � &� ��� ������ � ������ ������ �� � �������� ���� * /� ���$ � � # # 0 + " � �
1��� � ��� ��� � * � # ! ! + � �� ��� � ��� ����� ����������� ���� � ������� ��� �%��� �
���� � � ��-��� � �� �� ��� ������� ���� ��� � �%��� � %����&�� ����� �� � ������
������ �� �������" � �
����� � * � # # 2 + � ���������� ������ ������ �� ������� � � ���-&� � * ��3�+ �
����� � ����� ��� �����4� � ��� �� �� � � ����� � %- ��� $ � ����� � �� ��� �� ����$ � ���
�������� ��������$ � ��� ����� �������� �� ��� ������������ �� �� �� � ���� �
��� ���� � � ���� $ � ������ ��$ � � �� ����� �� � ����� $ � � �����4� �
�%���� � ��� � ��������$ � �� �� �&� &������ � ���-&� � �� � �� ����� ��� &��� ��
���� ���� ����� ��������� � ��� �� -&�� � ��� ������ � ��3�" �
3�� �� �5���� � � ��� � # # 6 $ � ��% ����� �� � ������� � �����&�� ��7$ � � %����&�� �����
����%��� ��� ����������� �� ���� ���� ,� �� ����� ���� ���� � ��� �4� � ��8�� " � ��
�������� � ��������� ���� ��� ����� � �% � ������� ��� 9:�&�� ����� ��� � &��;" �
�� %����&�� ����� ��8�� � * ���%����&�� ����+ � ������< �� ,� ��&�� ����� %�� 5����
����� ,� ��������� ����-��� �������� ����� �� �� ���� ��� ��.���� � � � �=��� �
&����� � ������ � ��� �%���� � ����� � ��� 9 � &�� ;" � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!������� �� ����� �� �� �������� ��� ������� ���� � � � � � �� ����� �� ��� �� ������ �� �� �� ������ ������ � ��
� �� ���� �� ���� ���!"�� ��� ��������� �� �������� �� �� ������ �� #�� �� � ��� � $ � �� %��&�� �� ' � � � ( ��)�� ������� � *��� �� �� +���� ���� � +��� �������� �� �� ������ �� �� ��,����� �� � �������� �� �� ������ �
#�� �( � �,���� -����� ��!��,��� � . . � ' � � / � 0 � � � / . � � � �� ��� ���� �� � ��( � 1� ���2 � 3���3����� �45�&��( ���( 6 ��1����&� �� �� 7( � � + 7( � � � �37( � � +��� �������� �� �� ������ �� �� ��,����� �� � �������� �� �� ������ � #�� �( �
1� ���2 � �� 64�3 ��( 6 �

� '
���4�< �� ���� � �������� �� ��&�� ����� � ���������� � ��8�� � ���� � � �
�� ��&� � �������� � =� ��� � � � ���=�� � � �� ��&���� �� ��&�� ����� ��=���� ��� ��" � �
>�����$ � � ���%����&�� ����� �� (�%���� �� ����������� ��� �� �� ���� ,� �� ��&���� ���
������ $ � � � ��&�� ��� &� �� ����� ��� ����� �� ��� �&� ����� �� ������� �� �����������
�� ��� �%����� * �� �� ��� ��$ � � # # � + " �
�� ����� �� %����&�� ����� � � ��� � �������� � ��� �� ��&�� ����%����� �� ��.���� ���
������ �� ��� � � � �� ��&� � ��� 8&� � ���� " � � �� � � ��� � �� ���� � ������
�����%���$ � ��� ����� � � � $ � ��� ����� &������ � ��� � � � ���� � ���� ��� �� � ��
* � � � �%��� �)� � ��� � � � �%���&���� + � � ����� ���� ������� $ � ��� � � � ����
9����� � ��� ����" � * ����� �$ � � # # � + " �
��� ����$ � �� '����� ��� �� ��� � ��� �)� � � �������� ���� ��� ������� ! � # �
� �=��� " � �� �� ������� �� % �� ������ =� ��� �� � ����� � �� �� -&�� � �� ��
����%��������� �� �� ����� ����=���� �� � ��� � ���� " � �� ������ ������ ��
������� � ���� ��� � ��������$ � ��� �� ��� ���������$ � � %������� �� ���� ����
����?��� ��� &-�� � �� � �������� � ��� ����� � �� �������4� � � ��������
��������(�" � :����� � ��)� �� � ��� 5%���� �� ����$ � � ������ ���� ������ ������ ���� �
�� ����� �� � �������� �� � ����� � ������� " � * 1�$ � � # ! # + " �
�� ��� ���� ��% ��� ��&�� ����� �%.���&�� ��� � ��������� � �� ���%� ����� ��� ����� �
����8���� � ����� �� � , � ���-��� � ���%����&�� ����$ � ������ ������ �� �� �����
������� � ��% ���� � ����������� � �������� ��� � �� ������� � �$ � ����� �%.���&��
����-���$ � & ��� �� � ���� � ������ ��� ��� � ����� � � ���� ���� �&�� � � �%�$ � �
%� �� ��� � � ��������� ��� � � �� 8&�� � ����< �� �4� " �
�
����� �!� �� �"����#�
�
�� ��&� ��� �� %�% ������� ���� �� �)�� �� ���8���� ��� ����� � ���� ��� � # ! ! " � � �
����� � ����8���� � ����� �&��� � ��� �� ��� � � ��&� � � � ���@�� � ����� � .����
�� %��� ��� ��� � ��� >��� � ��� >���5���� � �� A��������� ��� �������������� ���
>� � � ��� 38&� � ��������� * A�>��+ " � �
�� ����� �� ��� �� ��� � ���� �� �)��� ��� �)��� � � &� < ��&� � �
���%����&�� ����$ � ���%����&�� ��7$ � �� ����� ������� $ � ������� � �� ��7$ � ������
������ �� ����� ������7" � � � � &� < ��&� � ����� �� � ��� ������ ��� �� ����� �
�� ����� 9�� ��� ���;� � -��� ��� ����������� 9A�?�� � ���-�� ;" � � � � &� <
��&� � ����� �� ��� � � � � �%< ���� � ���� �� �8�� �" �
�
�

� $
��#�!����#� �� � #$�##���
�
3� �%� � ! $ � &������< �� � �� �����& � % � � ��� ��� � ���� ���&�� � ��� �)���� ���
� B C � ����� � �&��� $ � �� ��8&�� � �� >��� � ��� >���5���� � �� A�>��" � � � � ����� �
���%����&�� ����� �� ���%����&�� ��7� ��� ����� C ! � * ! � $ B ! D + � ����� � ��% ���� $ � �� � ��
������ � �&�� �� ����� � , � ��� �4� � �%���� � �� � ���%� ����� * �������� ��
&��%� ����� ��=���$ � � ���� ������ 5����� �� ����� � ����� + � ���� ���$ � �� �� $ � ! � �
��% ���4� � ��������� � � ' ���� � ��? � � " � �
��� �� ���� , � � &� < ��&� � ������ ������ �� ����� ������7$ � �����
��% ���� � � ! # � * C � $ ! 0 D + � ����� $ � ���� ���� ! ! ! � * � 6 $ ! # D + � ����� � ��� �� � ' ���� � ��� � � " �
�� ������ �� � ����� � ����� ���< �� � ��� � ��� ������� ��� ����� � ��� ����� � � ���
��������" � �
�� �� ��� � � � � &� < ��&� � �� ����� ������� � �� ������� � �� ��7� �� � ���� ���
! � E � * � � $ B � D + � ����� $ � �&���� C 6 � ����� � ��% ���� � � � ' ���� � ��? � � " � �� ������ �� �
��% �� � &��� < �� ���� � �������4� � ��� ������� � ������� � ��� ����� � ���
������� &���� � �� �� " �
�
/%� � # ! � F� > &� < ��&� � ������� $ � % � � ��� ��� � �� � � �� ����������� �� �
����� � ��������� � �� ���8���� ��� ����� � ���� ��� � # ! ! � F� >���5���� � A�>��" �
�GH��� :�� A�3I�A�1�3/�� � A�J3A���� �KHGH����
��
>�L�MH�< AI�M���
������ :�� :�:���
�H�AN>�H�:���
�������%����&�� �����
��KH�A�L�� � � 3�L� ����� � O � :�������7� ��� �������� � P��� � F� :��PO � ������ � ������$ ���������$ � Q � /���� ��7O � P�� ������� ��/���� ��7� ��������� ���������� � �������� � �P< �/�K�O � ����L�" �HK� * # � � ����� + O � /�L�* ��R � < �< ���+ � �� N�� >���� �� < ����� ������� :�% �� * N�>/�+ ��
# � � ����� �
���
����%����&�� ��7�
��KH�A�L�� � � 3�L� ����� � � * � # � ����� + O �:�������7� ��� ���� ���� � P��� � F� :��P� * B ������ + O � ������ � ������$ � ��������$ � Q �/���� ��7O � P�� ������� �� /���� ��7���������� ���������� � �������� � � P< �/�K�� * 6 ������ + O � ����L�" �HK� * # � � ����� + O � /�L�* ��R � < �< ���+ � �� N�� >���� �� < ����� ������� :�% �� * N�>/�+ ���
E B � ����� �

� 8
���
S� ������������ �
��KH�A�L�� � � 3�L� ����� � � * # � � ����� + O �:�������7� ��� ���� ���� � P��� � F� :��P� * � # ������ + O � ������ � ������$ � ��������$ � Q �/���� ��7O � P�� ������� �� /���� ��7���������� ���������� � �������� � � P< �/�K�O �����L�" �HK� * # 2 � ����� + O � /�L� * ��R � < �< ���+ � �� N�� >���� �� < ����� �� �����:�% �� * N�>/�+ �
� B � ����� �
�����3������� � �� ��7�
���KH�A�L�� � � 3�L� ����� � � * � # � ����� + O �:�������7� ��� ���� ���� � P��� � F� :��P� * � # ������ + O � ������ � ������$ � ��������$ � Q �/���� ��7O � P�� ������� �� /���� ��7���������� ���������� � �������� � � P< �/�K�� �* � # � ����� + O � ����L�" �HK� * # C � ����� + O � /�L�* ��R � < �< ���+ � �� N�� >���� �� < ����� ������� :�% �� * N�>/�+ ��
�B C � ����� �
���
�������� ������
��KH�A�L�� � � 3�L� ����� � O � :�������7� ��� �������� � P��� � F� :��P� * � # � ����� + O � ������ �������$ � ��������$ � Q � /���� ��7O � P��������� �� /���� ��7� ������������������� � �������� � � P< �/�K�O � ����L�" �HK�* � # � ����� + O � /�L� * ��R � < �< ���+ � �� N�� >������ < ����� �� ����� :�% �� * N�>/�+ ��
0 # � ����� �
���
������ ������7�
��KH�A�L�� � � 3�L� ����� � � * � # � ����� + O �:�������7� ��� ���� ���� � P��� � F� :��P� * � # ������ + O � ������ � ������$ � ��������$ � Q �/���� ��7� * � # � ����� + O � P�� ������� ��/���� ��7� ��������� ���������� � �������� �P< �/�K�� * � # � ����� + O � ����L�" �HK� * � # ������ + O � /�L� * ��R � < �< ���+ � �� N�� >������ < ����� �� ����� :�% �� * N�>/�+ ��
! C # � ����� �
�/�� � ��� ������ � � � B C � �
� �

� 0
���$!�#%�#�
�
� � � %� �� %�% ����-���� ��� ������ �� � ���� ��� ��� ��� �)���� ��� � B C � ��% ���4� �
����8��� " � �� ������ �� � ����� � ����� ��% ���� � � � ' ���� � ��? � � " � �� ���� � �
��% ���4� � ����� ������ � ����� ��� ������ �� ����� �� �%��� � � ��? � ��� �
* ���%����&�� ����$ � ������ ������ �� �� ����� ������� + � ���� ����� �� ���������
����8���" � �
�������$ � ����� �� %� ���� ���� � ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���������
����8���� ����� � ����� ���� �� ���%����&�� ����� ���� � ������ ������ �� �
�� ����� ������� $ � ��� ����� ������� � ����� � ���� ��.�� ��� � � ��? � ��� � �� � �
�� 8&�� � ������� " � � � � �
�
��&��'�$ �#�
�
�1�H���$ � 1" � A" � 1" � ����! ����#� �(� ���) �!�* �� �� ����$�!�* �" � H������ � ���������
�� � ���� ��� ���%�� ���� �� ������ ���$ � �� ! � � < ! � ! $ � � # # � " �
�H��/��$ � 1" � A" � �" O � >�3�$ � >" � K" � L" � ������� ������ �� ������� � � � ��������� ���
����������� ���� ?� �� � � ����� � �� ���� " � ��+ #��� ��� ���� ���$ � &" � � # * ! + � � 0 B < 6 ! $ �
." T ��&" $ � � # # 2 " �
1�I�3$ � U" O � ��A�//< �/N1>$ � �" � �! (����#� � ���� ���� �� � �������, �- � ������� � �&���$ �
���� >� �$ � ! � V� ��" $ � �" � � ! # � � # ! # " �
1�W/�L$ � 3" O � �/� �L� �� � �% � ������� ��� ����� X� �� �� ��&�� �� ��&���� � ������� ���� ����
��� � ���� ����� �� ����� ����" � ./� � �����$ � &" � 0 C � � ! F! 0 $ � � # ! ! " �
�1�L�$ � 1" O � 1GH$ � �" O � P�HM��$ � :" � �" � 0��$��� �*#� �&� �� /��1#2�,� 2�#���� )3� �2�� ��#� �����
&��� �*��)����3� 4 ��5 � � ������� � > �� K������ H� ����� � � ������� * �>KH�+ $ � I���7$ � 17�
! � F! 0 $ � � # # � �
/�L�:�$ � �" O � �NHL�3K�1�$ � �" � �����&�� ��7� �� �������� � �� ������ ���� ��X��� � �% �
����� ������7� �� � ��% �� ��&� �����" � 6�����!� �&� 7���� ��(,�# � ��� ���� ���!3# #$ �
&" � ! B � � E 2 2 FE 6 � $ � � # # 0 " �
�
�

Resumo do seminário apresentado na disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e Agrometeorologia, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em 03 de junho de 2011. 2Engª. Agrª., Doutoranda, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia, UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. Bolsista Capes. E-mail: [email protected] 3Engª. Agrª., Dra., Professor Titular do Departamento de Horticultura e Silvicultura,PPG Fitotecnia, Faculdade de Agronomia/UFRGS.
POTENCIALIDADES, UTILIZAÇÃO E CULTIVO DO CAPIM-LIMÃO¹
Autor: Cristiane de Lima Wesp²
Orientador: Ingrid Bergaman Inchausti de Barros3
Introdução
Estudos indicam que o Brasil é o país com maior diversidade genética vegetal do
planeta Terra, com cerca de 55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre
350.000 e 550.000 espécies. Desse modo, detém a flora mais rica do mundo, o que
corresponde a aproximadamente 22% da totalidade das espécies vegetais de ocorrência em
nível mundial (BARTHLOTT et al., 1996; LEWINSOHN & PRADO 2005).
Nesse sentido, a flora brasileira, por ser altamente diversificada, proporciona ao país
posição de destaque em relação à diversidade de espécies nativas com potencial medicinal
(GIULIETTI et al., 2005). A realização de estudos agronômicos, químicos e farmacológicos,
em espécies de ampla distribuição, torna-se importante, uma vez que a intensa produção de
metabólitos secundários nessas plantas pode favorecer o aproveitamento sustentável dos
recursos genéticos e da diversidade biológica, contribuindo para a síntese de substâncias
úteis na indústria química e farmacêutica, bem como, com o estabelecimento de novas
cadeias produtivas (ODALIA-RÍMOLI et al., 2000).
Um gênero que tem despertado bastante interesse do ramo de fitoquímicos é o
Elionurus sp., comumente conhecido por capim-limão. As plantas deste gênero são
herbáceas, perenes e ocorrem naturalmente no estado do Rio Grande do Sul. Essas
apresentam potencial econômico, em função de seus compostos fenólicos, sendo o óleo
essencial utilizado como aromatizante e flavorizante nas indústrias de cosméticos, limpeza
doméstica e alimentos (CASTRO & RAMOS, 2003). Além disso, estudos recentes têm
destacado o potencial bactericida tanto do óleo, como dos compostos fenólicos dessas
plantas (HESS et al., 2007).
O óleo de Elionurus sp. é caracterizado pela variabilidade em sua composição
química. Tal variabilidade é influenciada por uma série de fatores, dos quais se destacam as
condições edafoclimáticas e de manejo, a origem, o estádio fenológico e a parte da planta
utilizada, dentre outras (BERTINI et al., 2005; GOBBO NETO & LOPES, 2007; HESS et al.,
2007).
Dentre os compostos presentes, o Citral é o que desperta maior interesse por ser
amplamente empregado nas indústrias de alimentos, cosméticos e sanitizantes (HESS et

2
al., 2007; LOUMOUAMOU, et al., 2010). Na indústria farmacêutica o Citral é utilizado como
matéria-prima para a síntese de uma série de iononas, sendo a Beta-ionona
especificamente utilizada como substância de partida para a síntese de vitamina A
(KOSHIMA et al., 2006). Apesar da importância e demanda, poucos estudos têm sido
realizados a respeito da composição química, atividade biológica e cultivo de Elionurus sp.
(FÜLLER et al., 2010).
Desenvolvimento
O gênero Elionurus, Humb. & Bompl ex Willd, pertence à família Poaceae, e
compreende aproximadamente 15 espécies, sendo comum nas regiões tropicais e
subtropicais da América do Sul, África, Austrália e Ásia temperada (ARAÚJO, 1971;
RENVOIZE, 1978).
Esse gênero possui taxonomia complexa com grande variabilidade, porém, ainda
pouco esclarecida (KOLB et al., 2006). No Rio Grande do Sul as espécies de capim-limão
Elionurus adustus, E. candidus, E. rostratus, E. tripsacoides e E. viridulus estão entre as
principais gramíneas presentes nos campos altos do Bioma Pampa, sendo E. candidus a
espécie mais abundante (ARAUJO, 1971; BOLDRINI, 1997). No Pantanal Sul-Matogrosense
há a ocorrência de E. muticus, a qual é popularmente conhecida por capim-carona. O
gênero ainda é encontrado na Argentina, onde é conhecido como espartilho ou aibe, na
Bolívia, onde é chamado paja corona ou Karunásh e no Uruguai, onde recebe o nome
popular de pasto limón ou colia peluda (CASTRO & RAMOS, 2003; HESS et al., 2007;
STEFANAZZI et al., 2011).
Elionurus apresenta espécies perenes, cespitosas e herbáceas que atingem um
metro de altura. As lâminas foliares são setáceas, por vezes planas e não apresentam
venação cruzada. As raízes podem ser aromáticas e o florescimento ocorre entre outubro e
dezembro. A propagação pode ser realizada por sementes, mas o método usual é pela
divisão de touceiras. O plantio preferencial é realizado no período de março a novembro, no
entanto em locais mais frios é indicado que ocorra em março-maio e setembro-novembro
(CASTRO & RAMOS, 2003).
As espécies de Elionurus sp. crescem em solos arenosos e pobres, com pH
levemente ácido, o que as tornam apropriadas para a recuperação de terras fracas, com
reduzido teor de matéria orgânica e de água (CASTRO & RAMOS, 2003; HESS et al.,
2007). As mesmas são comumente utilizadas como plantas medicinais e aromáticas, pois

3
apresentam atividade antioxidante relacionada ao conteúdo de seus compostos fenólicos,
bem como, destacam-se por conter propriedades sudoríferas e febríforas. Além disso, o óleo
essencial de Elionurus sp. tem ação potencial analgésica, anti-bacteriana, anti-fúngica e de
repelência sobre algumas espécies de insetos (MEVY et al., 2002; SABINI et al., 2006;
DZINGIRAI et al., 2007; STEFANAZZI et al., 2011).
Os estudos referentes ao manejo e cultivo de Elionurus sp. ainda são escassos.
Contudo, sabe-se que são de fundamental importância, uma vez que o teor e a composição
química de óleos essenciais são dependentes das práticas adotadas durante o processo de
cultivo das plantas (GOBBO NETO & LOPES, 2007). Neste sentido, BUGLIA & MING (2004)
estudaram o efeito do número de perfilhos sobre a propagação vegetativa de Elionurus. Os
autores observaram que houve diferença significativa na porcentagem de pegamento, altura
e massa seca das plantas, em função do número de perfilhos utilizados na propagação. De
acordo com NUNES (2008) os melhores resultados para a propagação vegetativa de
Elionurus, via divisão de touceiras, são obtidos utilizando-se três perfilhos por muda.
BOTTESELLE et al., (2006) avaliaram a influência da adubação nitrogenada na
composição química e no rendimento do óleo essencial de Elionurus viridulus. Os mesmos
verificaram que os diferentes teores de nitrogênio utilizados não influenciaram na
composição química dos constituintes do óleo essencial, porém possibilitaram um aumento
de aproximadamente 30% no rendimento de óleo extraído. NUNES (2008), estudando a
resposta à adubação nitrogenada no crescimento vegetativo e no rendimento de óleo
essencial da parte aérea e de raízes de Elionurus, observou que houve resposta positiva da
adubação nitrogenada, tanto no crescimento vegetativo quanto no rendimento de óleo da
parte área. No entanto, nas raízes, a utilização de nitrogênio afetou negativamente a
concentração do óleo.
FÜLLER et al., (2010) analisaram fitoquimicamente populações nativas de Elionurus
sp. existentes no Rio Grande do Sul. Os autores verificaram que o rendimento de óleo
essencial foi similar entre as populações estudadas, com exceção de uma das populações
(São Francisco de Paula), a qual apresentou rendimento inferior as demais. Os compostos
em maior freqüência ou concentração encontrados foram o Geranial e o Neral. Ambos
apresentam grande importância, pois são considerados isômeros de Citral, o qual é
amplamente utilizado na indústria química e farmacêutica.
Considerações finais

4
O gênero Elionurus apresenta grande potencial no ramo de fitoquímicos, em função
de seus compostos fenólicos. Estudos aprofundados são necessários em relação ao cultivo,
composição química e potencialidades de utilização do óleo essencial.
Agradecimentos
Ao PPG Fitotecnia da UFRGS.
Referências Bibliográficas
ARAÚJO, A.A. Principais gramíneas do Rio Grande do Sul. 3.ed. Porto Alegre: Sulina,
1971. 255p.
BARTHLOTT W., LAUER, W; PLACKE, A. Global distribution of species diversity in vascular
plants: towards a world map of phytodiversity. Erdkunde. n.50, p.317-327, 1996.
BERTINI, L.M. et al. Perfil de sensibilidade de bactérias frente a óleos essenciais de
algumas plantas do nordeste do Brasil. Revista Infarma, v.17, n.314, p.80-3, 2005.
BOLDRINI, I.I. Campos do Rio Grande do Sul: caracterização fisionômica e problemática
ocupacional. Boletim do Instituto de Biociências UFRGS. n.56, p.1-39, 1997.
BOTTESELLE, G.D.V. et al. Influência da adubação nitrogenada na composição química e
no rendimento do óleo essencial de Elyonurus viridulus. In: Reunião Anual da Sociedade
Brasileira de Química, 29, 2006. Águas de Lindóia. Anais... Águas de Lindóia, p.1-2, 2006.
BUGLIA, A.G., MING, L.C. Development of Elionurus latiflorus Nees as affected by numbers
of tillers. In: SIMPÓSIO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BRASIL, 3, 2004, Manaus. Livro de
Resumos... Manaus, 2004. p.258.
CASTRO, L.O.; RAMOS, R.L.D. Principais gramíneas produtoras de óleos essenciais.
Porto Alegre: FEPAGRO, 2002. 31p. (Boletim FEPAGRO, 11).
DZINGIRAI, B. et al. Phenolic content and phospholipids peroxidation inhibition by
methanolic extracts of two medicinal plants: Elionurus muticus and Hypoxis hemerocallidea.
African Journal of Biochemistry Research, v.1, n.7, p.137-41, 2007.
FÜLLER, T.N.; TESSELE, C.; BARROS, I.B.I. et al. Phenotypical, phytochemical and
molecular characterization of “capim-carona” [Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze]
populations. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v.12, n.3, p.261-268, 2010.
GIULIETTI, A.M., HARLEY, R.M., QUEIROZ, L.P. et al. Biodiversity and conservation of
plants in Brazil. Conservation Biology. n.19, p.632-639, 2005.

5
GOBBO NETO, L.; LOPES, N.P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de
metabólitos secundários. Química Nova. v.30, n.2, p.374-381, 2007.
HESS, S.C. et al. Evaluation of seasonal changes inchemical composition and antibacterial
activity of Elyonurus muticus (Sprengel) O. Kuntze (Gramineae). Química Nova, v.30, n.2,
p.370-3, 2007.
KOLB, N. et al. Estúdio de las condiciones para La producción de aceite esencial de
“espartillo”. Missiones: Universidad Nacional de Missiones, 1p. 2006.
KOSHIMA, F.A.T.; MING, L.C.; MARQUES, M.O.M. Produção de biomassa, rendimento de
óleo essencial e de citral em capim-limão, Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, com cobertura
morta nas estações do ano. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.8, n.4, p.112-6,
2006.
LEWINSOHN T.M. & PRADO P.I. How many species are there in Brazil? Conservation
Biology, n.19, p.619-624, 2005.
LOUMOUAMOU, A.N.; BIASSALA, E.; SILOU, TH. Characterisation of a Giant Lemon Grass
Acclimatised in the Congo-Brazzaville. Advance Journal of Food Science and
Technology. v.2, n.6, p.312-317, 2010.
MEVY, J.P. et al. Composition and some biological activities of the essential oils from an
african pasture grass: Elionurus elegans Kunth. Journal of Agricultural and Food
Chemistry. v.50, n.15, p.4240-3, 2002.
NUNES, A.C.G.S. Coleta, prospecção em herbários e estudos sobre propagação
vegetativa de Capim-Limão (Elionurus sp.). 2008. 99p. Dissertação (Mestrado) -
Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, Faculdade de Agronomia, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
ODALIA-RÍMOLI, et al. Biodiversidade, biotecnologia e conservação genética em
desenvolvimento local. Revista Internacional de Desenvolvimento Local, v.1, n.1, p.21-
30, 2000.
RENVOIZE, S.A. Studies in Elionurus (Gramineae). Kew Bulletin, v.32, n.3, p.666-72, 1978.
SABINI, L.I. et al. Study of the citotoxic and antifungal activity of the essencial oil of
Elyonurus muticus against Candida spp. Molecular Medicinal Chemistry, v.11, p.31-3,
2006.
STEFANAZZI, N.; STADLER, T; FERRERO, A. Composition and toxic, repellent and feeding
deterrent activity of essential oils against the stored-grain pests Tribolium castaneum
(Coleoptera: Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae). Pest
Management Science. n.1, 2011.

DANOS MECÂNICOS OCASIONADOS PELA VIBRAÇÃO DE TRANSPORTE1
Autor: Josiane Pasini2
Orientador: Renar João Bender3
Introdução
Desde o instante em que é colhido até o momento de ser preparado ou consumido, o
produto hortícola é submetido a uma série de efeitos essencialmente mecânicos que,
dependendo da sensibilidade do produto, poderá causar danos que comprometerão a
qualidade final do mesmo (BORDIN, 1998). Danos mecânicos podem ser definidos como
deformações plásticas, rupturas superficiais e destruição dos tecidos vegetais, provocados
por forças externas (CAMILLO & BENDER, 2010). Os danos mecânicos são classificados
em impacto, compressão, atrito e corte e podem ocorrer em qualquer ponto da cadeia de
comercialização. O transporte inadequado pode ser considerado uma das principais causas
de danos mecânicos gerados pela vibração. A intensidade do dano no transporte varia com
a espécie, cultivar, grau de maturação, grau de hidratação celular, distância, tipo de veículo,
velocidade e condições da estrada. Frutos em estádio de maturação avançado,
transportados por longas distâncias, por exemplo, são mais suscetíveis aos danos
ocasionados pela vibração de transporte. A embalagem utilizada e sua posição no caminhão
e na pilha de caixas também estão diretamente ligadas à intensidade de danos. Quando um
produto não ocupa todo o espaço disponível da embalagem movimenta-se durante o
transporte ocasionando fricção entre os frutos e/ ou entre o produto e a parede da caixa.
Segundo Chitarra & Chitarra (2005), o uso de embalagens apropriadas, bem como o correto
preenchimento antes do transporte, são fundamentais para conservação de produtos
vegetais frescos. A embalagem tem como principal função proteger o produto contra danos
mecânicos e outros fatores como perda de umidade.
O principal dano verificado em decorrência da vibração no transporte é a lesão
gerada pelo atrito, mas podem ocorrer também danos por impacto e compressão. Segundo
Vigneault et al. (2002), vibrações são movimentos oscilatórios ao redor de um ponto de
referência e estão presentes em grande parte dos sistemas mecânicos, entre eles os meios
1 Resumo do seminário apresentado na disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e Agrometeorologia, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em 03 de junho de 2011. 2 Tecn. Alim., Mestranda, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia, UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. Bolsista Capes. E-mail: [email protected] 3 Eng. Agr., Dr., Professor Associado do Departamento de Horticultura e Silvicultura,PPG Fitotecnia, Faculdade de Agronomia/UFRGS, Av. Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. Bolsista de produtividade CNPq. E-mail: [email protected]

2
de transporte, como por exemplo, veículos leves e pesados, em vias terrestres, aéreas e
aquáticas, e nas esteiras utilizadas na movimentação local. A severidade dos danos nas
frutas depende da freqüência, amplitude e duração da vibração aplicada. Estes fatores
podem ser quantificados utilizando-se sensores providos de acelerômetros. De acordo com
Ferreira & Calbo (2008), o acelerômetro é um equipamento mecânico que pode ter interface
eletrônica para mensurar movimentação e vibração durante transporte e varia de acordo com as
magnitudes e freqüências da vibração a ser medida. Este equipamento geralmente é acoplado a
um computador que registra os valores obtidos.
Desenvolvimento
Alguns trabalhos estão sendo realizados a fim de quantificar o nível de vibração
durante o transporte e avaliar sua influência na qualidade dos frutos. Para tanto Zhou et al.
(2007) simularam o transporte de peras por uma distância de 500 km utilizando um sensor
de vibração em diferentes posições em um caminhão e posteriormente avaliaram atributos
de qualidade. Observaram que na parte traseira do caminhão, no topo da pilha de caixas a
vibração chegou a uma freqüência de 40 Hz, o que alterou significativamente os parâmetros
de cor e firmeza de polpa, pela atividade das enzimas Pectinesterase e Poligalacturonase,
também avaliadas. Contrariamente, Acican et al. (2007) transportando maçãs em caixas de
madeira, observaram que as maiores forças de vibração ocorrem na camada mais baixa da
pilha de caixas, na base da embalagem, e o dano é mais expressivo nesta posição. Com a
vibração aumenta o contato dos frutos com a superfície irregular e áspera da caixa de
madeira. Como é na base que ocorre o maior contato dos frutos com a caixa, os autores
concluíram que os materiais que absorvem forças decorrentes da viração devem ser
colocados neste local.
Jarimopas et al. (2005) avaliaram os níveis de vibração em estrada não pavimentada
(laterita) e pavimentada no transporte de tangerinas. Verificaram que a vibração na estrada
não pavimentada é maior e, dessa forma, o dano mecânico é mais intenso nesta estrada.
Na estrada pavimentada alterações na vibração foram percebidas com o aumento da
velocidade. Citam ainda que a presença da suspensão no caminhão, em ambos os casos,
minimiza os efeitos decorrentes da vibração.
Fischer et al. (1992) avaliaram atributos de qualidade de uvas e morangos após
simulação em diferentes níveis de vibração e posições na pilha de caixas. Após sete dias de
armazenamento a 0°C a firmeza das uvas variou entre os tratamentos, enquanto que a cor
da epiderme e a taxa respiratória apresentaram diferença significativa com freqüência de
vibração entre 5 e 10 Hz e nível de aceleração de 0,75G. Já os morangos não tiveram sua

3
coloração e firmeza afetadas, embora cerca de 55% dos frutos do topo da caixa foram
considerados impróprios para venda após vibração da faixa de 5 e 10 Hz e aceleração de
6,0 G.
Similarmente, Berardinelli et al. (2005) instalaram sensores no piso de um caminhão
semi-reboque na parte frontal, central e traseira. Durante um percurso de 520 km foram
observados picos de vibração ao passar por desníveis da estrada, nas três posições,
atingindo o valor de até 14 Hz na parte central. Os mesmos autores simularam em
laboratório estes resultados com peras de diferentes cultivares, utilizando um agitador. As
peras foram embaladas em caixas de papelão e acondicionadas em bandejas plásticas
formando uma pilha de 20 caixas. Observaram níveis de dano similares entre as diferentes
posições no caminhão e na pilha de caixas. A maior intensidade de dano mecânico ocorreu
na região equatorial dos frutos, onde localizaram-se até 100% dos danos mecânicos na cv.
Conference. Também com peras, Slautghter et al. (1993) verificaram que as caixas
posicionadas no topo do palete foram mais afetadas pela vibração, apresentando três a
quatro vezes mais frutas danificadas do que as caixas da parte inferior. Isso se deve a maior
amplitude de vibrações no topo da pilha, provocando maior movimentação das peras dentro
das caixas. Peras possuem a epiderme bastante frágil e são sensíveis aos danos
provocados pelo atrito da vibração, que ocasiona escurecimento rápido das regiões
lesionadas, dificultando a comercialização. Igualmente, O’Brien (1963) cita que as frutas das
caixas superiores do empilhamento no transporte sofrem mais com a vibração do que as
caixas da posição inferior.
Trabalhando com nêsperas ‘Algar’, Barchi et al. (2002) verificaram que a aceleração
transmitida aos frutos depende da posição da caixa ao longo da carga. Os acelerômetros
colocados na parte traseira do caminhão registraram os maiores picos de vibração. Entre 80
e 100% dos frutos apresentaram danos de compressão após simulação em laboratório, na
qual apresentaram lesões ou estrias na casca com aparência translúcida ou escurecida.
Apenas uma pequena porcentagem de frutos foi danificada pelo contato com as paredes da
caixa.
Em bananas ‘Nanicão’, Sanches et al. (2004) verificaram que a etapa de
acondicionamento e transporte até o centro de distribuição duplicou os defeitos leves e os
defeitos graves quintuplicaram, causando podridões após a climatização. Neste mesmo
trabalho foram testadas diferentes embalagens e observou-se que a embalagem de papelão
não suportou o empilhamento, havendo deformações nas embalagens, o que resultou no
amassamento das frutas localizadas nas embalagens das camadas inferiores. A utilização
de plástico bolha no interior da caixa diminuiu a incidência de danos graves.

4
Em um estudo com tomates ‘Santa Clara’ Luengo et al. (1997) avaliaram os efeitos
de caixas de madeira com os acessórios borracha e espuma para evitar vibrações
horizontais no transporte em estrada de terra com superfícies irregulares. Concluíram que
caixas plásticas causam menos dano mecânico aos frutos quando revestidas com borracha
protetora externa e forrada com esponja no fundo da caixa.
Considerações finais
A maneira como os frutos são transportados é fator determinante na manutenção da
qualidade pós-colheita. Os estudos realizados demonstraram que as vibrações ocorridas no
transporte são responsáveis pela alta incidência de danos mecânicos, fazendo desta uma
etapa crítica na cadeia de comercialização de frutos.
Agradecimentos
Ao PPG Fitotecnia da UFRGS.
Referências
ACICAN, T. et al. Mechanical Damage to Apples during Transport in Wooden Crates.
Biosystems Engineering, Amsterdan, v. 96, n. 2, p. 239–248, 2007.
BARCHI, G. L. et al. Damage to Loquats by vibration-simulating intra-state transport.
Biosystems Engineering, Amsterdan, v. 82, n. 3, p. 305–312, 2002.
BERARDINELLI, A. et al. Damage to pears caused by simulated transport. Journal of Food
Engineering, Amsterdan, n. 66, p. 219-226, 2005.
BORDIN, M. R. Embalagem para frutas e hortaliças: tecnologia de resfriamento de frutas e
hortaliças. In: Curso de atualização em tecnologia de resfriamento de frutas e hortaliças, 2,
1998. Campinas: UNICAMP, 1998. p.19-27.
CAMILLO, M.; BENDER, R. J. Danos mecânicos e seus efeitos na qualidade pós-colheita de
frutos. Agapomi, Vacaria, n. 191, p. 9, 2010.
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e
manuseio. 2ª. ed. Lavras: UFLA, 2005. 783p.
FERREIRA, M. D. & CALBO, A. G. Avaliação para a incidência de danos mecânicos em
frutas e hortaliças. In: FERREIRA, M. D. et al. Colheita e Beneficiamento de Frutas e
Hortaliças. São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2008.

5
FISCHER, D. et al. Simulated in-transit vibration damage to packaged fresh market grapes
and strawberries. Applied Engineering in Agriculture, St. Joseph, v. 8¸ n. 3, 1992.
JARIMOPAS, D. et al. Measurement and analysis of truck transport vibration levels and
damage to packaged tangerines during transit. Packaging Technology and Science,
Malden, v. 18, p. 179-188, 2005.
LUENGO, R. F. A. et al. Embalagem ideal para o transporte do tomate ‘Santa Clara’.
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 32, n. 5, p. 517-520, 1997.
O’BRIEN, M. L. L. et al. Causes of fruit bruising on transport trucks. Hilgardia, Califórnia, v.
35, n. 6, p. 113-124, 1963.
SANCHES, J. et al. Avaliação de danos mecânicos causados em banana ‘Nanicão’ durante
as etapas de beneficiamento, transporte e embalagem. Engenharia Agrícola, Jaboticabal,
v. 24, n. 1, p.195-201, 2004.
SLAUGHTER, D. C. et al. Assessment of vibration Injury to Bartlett pear. American Society
of Agricultural Engineers, St. Joseph, v. 36, n. 4, p. 1043- 1047, 1993.
VIGNEAULT, B. et al. Embalagem para frutas e hortaliças. In: CORTEZ, L.A.B., HONÓRIO,
S.L., MORETTI, C.L. Resfriamento de frutas e hortaliças. Brasília: Embrapa Hortaliças,
2002. p. 95-119.
ZHOU, R. et al. Effect of transport vibration levels on mechanical damage and physiological
responses of Huanghua pears (Pyrus pyrifolia Nakai, cv. Huanghua). Postharvest Biology
and Technology, Amstrerdam, v. 46, p. 20–28, 2007.

���������� � ������ �� ������� �� � ���� ���� ��� �� ���
�
������ � ���� � ��� � �
��������� �� � ������ ��� ���� ����� �� ����� � � �������� ��� �� ���� � � �� ��� � � ���
!����� " � � � ���� � �� ��� �� �#� $ � � ������� ��# ��� %��� �&�' �
(�� ����� � � ����� �������� ��#)�� * �
�
����������
� �
� (� ����+�� ���� ,���������� ����� � - (. � / ��0 � 1. � 2 ���3� � �� � �� �����4���
����� � � �5�� ����� �� ��� � ��� 6�����. � 7�� 8�� ���������9 � � �� ��� ���� :���;< ��
:��� ����� � ���� � � � � ��5�� ��� ����< �� � � ��� ��� ��� �� � � ���#� - ���#����� = �
������ - > ? ? ' 0 � � ���� ����� � � @ > @ 0 . �
������� ���� � � �:���� �� ����� � � > " � � � " � � ����� � � ����. � ��� :��#��
�� � ��� A��� � ��������� ��� � � � ������ ���� �B� �� � ���� �C����� ���� � ��� ��
� ��# ��� ��� �� ��D�� � - ��#�� � � > ? * ? E � 2�� ��� �� ��� � � @ @ $ 0 . � �� :���;5�� �� � 9 � �
� � � � ����� � + ���� � ��� :������ ������ � � + ���� � ����� � F���� ��;�� �����;5��
���9 ����A� � � - /�& �� = � G���� � � @ @ � E � ��#�� � � > ? * ? 0 . �
(�� :������ � ���� � � " � �� �� �D��� � > � � � � � � � �� � �4�� ���H���� � � � " � I � � �
����� ����� �� � �5�� ������ �� ������ ��� ������� ��� ������ . � �� :����:��;5�� D� ���� � �
���D�� ����� � � �� � �� �� �J��� � � �����;5�. � (� ����+�� ���� � �� ��� ��
����������� �� � � ����9 � � ��� :��� ��� ������� � �� :������ � F���� #��� �� � �#��� ������
���� � � ����������;5�� � � :������ ������ - 1����� �� ��� � � @ @ � E � 8 ���� �� ��� � > ? * � E �
��#�� � � > ? * ? 0 . �
��� � ����#�� ��+ ������ ����� ���� � ����� � � ����+�� ����� F� � � � ���� � � �
�� � ��� �� ���� �C������ ��� ���� �� �� ���� � K� F����� � ���� :������ � �D�� � �
� ��:���� �� � ��� ��� � H��;5�� � � �� ��� �� ����� ��� :��#�� ��� ��� ���� �����
���� ���;5�� F�C���. �
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �> � 8 ����� ��� � ��A���� �� � ���� � ��������� �GL@ @ @ @ > � M� � ��A���� �� N����������� � ����� � �������� � ��� ������� � ����9 !���;5�� �� ����� ��� �� ������ � � � �������� �� 6�8!�� � �� @ � � � � +�#�� � � � @ > > . � � �� � ��� � ����� � � ������ � 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ������ � � � �������� � 6�8!�. � ��. � / ��� !�;�� �� �' ' > � � � ? > . " @ > 9 ? ' @ � � ������ �� �� � � 8�. � �9 ���� � � ��. � ���O�:���. ��� �� � �� � ��� � � 1� � � ���: ����� ��� 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ��� ������� � � ���9 !���;5�� �� ����� ��� ��� ������ � �� �������� 9 � 6�8!�. � � � � ���� ���� � � 1�������� � 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ������ � � � �������� � 6�8!�. �" � ���� ���� � � �. � ��. � 1�������� � 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ������ � � � �������� � 6�8!�. �$ � ���� ���� � � /������� 1LG� M� ����8!�P �7�F� � 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ������ � � � �������� � 6�8!�. �' � ����� � � ����;5�� � �������� �G/G�P �7�F� � 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ �� ������ � �� �������� 9 � 6�8!�. �* � ���� ����� � 1�. � � ���: ����� ��� 1 ���� ��� � � N����������� � ������������ � ��� ������� � � ���9 !���;5�� �� ����� ��� � �������� � �� �������� 9 � 6�8!�. � �9 ���� � � �)�#)��O�:���. �� �

� �!�" # ! �$����%
� ����� ��� ����� :������ � � > " � � :��#�� � � � ' � � ����� �� � �C���� � � @ . @ � � �
� @ . @ � . > > � � � �:� ��� �� � ����C����� �������� �� � ��< �� :������A:���� ��� 2������ 7��� � �
1 �� ��5�� � ���� � ������ �D���� � � ��� ��� 7��� �� � ��� 8�. � (�� ����D����� � � ����#� ����
������ � � ����� :���� � � ������� � �� ��� ������ � ���� ����;< �� ��D���� �� H���4���
� � ��D��� �9 ��+ ��� � �� � �����E � ����� � ���D�� � ������� � � � ��� ���. �
� (�� :������ ������� :���� ����������� �D� �� 2��������� � � N����������� ���
1 ���� ��� � � N����������� � ������������ - 1N�0 � � � �������� � ����������� ��
�������� � � ����� ���� ��� ��� > @ @ � � " @ � ��� � " � ���� �� ��� � ��:��� � � �� ��#�� �
�� ��� � ���� � ������� �������� ���� > @ @ � :������ - ��Q� > � ��� � � ���� ���� � ��� �0 . �
� (�� :������ :���� � �������� �� � � � ��;< �� � � � " � ���� �� � � ����� ������ �
��������� � � �� ��;� � ��R��� � � � ������ �� � �� ��J� ���� F������� - 1��0 � �
���������� - ���0 � ���� �� ���� � � �F�C� ���� ������E � �� � F�4��� � :��� : ��� ��� � ���� ��
���� �� ���� � ���;5�� F������� � � > @ � :������ � � ������� � ����� � � � � ��� � � ��;5�� �
���� �� ��� ��� � � �����C� ���� ������ �89 @ @ � +������ �� ���� �� �G�2�� - ������ � > ? ? � 0 . �
� ����� ���� ���;< �� � ��� :������ � � ��� � � ��;5�� :���� � �5�� � � �������� �
� ��������� � ��� ��� ;5�� ��� ����� ��� ����� � � � � �� � ���� � . �
� ��� ������� � � :��#�� :���� ��� ���� � ��� ���� � � � ���;< �� � ������ ���� ����� �
� ����� � � ��������C���� �� � ���� �� ���� � � ����������� �� ����� ��A������� ����
������ � � � > @ @ � ������� � � ���� � � �� ��:������ � ������. � �� � �:��#� � � ��;5�� � �
����� ��� :��� � ����� �� � � �4���� ��� ���������. �
� ��� :��#�� � � ��� � ���� :���� � ���� �� ���� �� �������� � � � @ @ � �� �
����� � ��� ���� � 9 > * � ��� �D� �� ��� ��� �� H��;5�� ���� �� ��� �� ����� - (�0 . �
��� ���� :��� ��� ���� �� ����� � � �� � � �� � F� � ������ � ��� #����� ����;5��
- ���� � � ����0 � �� ���� �� � ���. � ��� :��� ��� � ���� � � ���� � � ����� � � � � #���� � ��
����� � � � (�� H��C��� :��� � ����� �� � ;5�� ������ ��� �������� ����� � ��� ���� ��
:����� � � ������ J���� � ��� ��� �� :� � �� �D� � � � ��� ��� ���� ���;5�� F�C���. �
�
�!%�#� ��% ! "%&�%%��
�
S���� ��� ��J� ����� ����D������� ������� � ��� � �������� �������� ������ �
H���4��� � � ��� ���� ��������� � �� � ��� � ����� ��� ����. � ��� � �;5�� �
���� �C������ � � ��#�� � � :����� � �� � ���� T! ��U� � �����9 � � ���� � ���� � ��
�� � ��� ����� ������ � ���� ���� �� �D����� � � ���� � ��J� ���� � ����� ���� :�����. � � (��
� ����� T7����U� � T2 �� > U� � T2 �� � U� � �����9 � � � ��� � ���� � ��� � � ����� ���� :������ �
�� � ���� � ���D�� � ���� � �������� ��� �� ��#�� ���� � ����� - L� �> 0 . �

7�� F� � � � � : � � � ���� �C������ � � ���� �� ��� �� � ���� :������ � ��� ����� ��������
� � ���� F� � ��� � ����� ������� �� � ���� ����� �A� �� ��������� � - L� �� � 0 � �
� ��� F� � ��� ���� �� ��� ����� ��� � ����� �� �� � � �� � �5�� ���� � ���H����� � � � ��� �
��������9 � � �� ��� � ��5�� �� � �� �������� ����� � � � � ���� D� �� ���. � 1 �����9 � �
��� � � ��� ���������� � � ���� �C����� F� � � ���� � ��� �� �� ���� �� � �;5�� ��
���� � ��� ���� ��� :������ ���� � ����� ���� ����� ��� ���� ���R����� � ��� F����
����� �� ����� ����� � � �� F� � D� ��� ����� � �� ���� �;5�� ����� �� � ���� � �� - 9 @ � � * � �
� V� @ � @ > 0 � - L� �� � 0 . � ��� ���� �C������ �� � � �� � ������� �� � ����#�� � ��5�� ���� �
������ �� ���� ��� ����� � � ��������� �� ��. � /�� � �� - � � ��� �� ��. � � � @ @ ? 0 � � �������
��: � ���9 � � � ��� ��D�� � ���� 5�� �����C� �� ���� �� � � �� � ������� - ����� � � ����
��� ��� ���� � � ��� �0 . �
�R� 9 � � ��� ���� � ��� � F� � �� �� :��� � � � � ���;5�� �� ��������� � :���
H�� ����� � � � ��� F���� �������� ��� � �� ����� � � ���;5�� ���� � ����
��J� ����� ���� ����� � � �� � ��� F� � ��� :������ ������� ���� ��������� � �����
������� ��� �� ���� �� ������ ���H����� �� �� ���� � � ��������� � �� ��� �:C�� � ��
���� - L� �� � 0 . � �
(�� ����9 � � ��� ���� �;5�� ��� �� ��� � � ����:������ �� � ��� ��J� �����
��J� ���� � ����� ���� :������ ���� � ���� �D��� ���� � ����. � L��D�� D� ����C� �� � ��:����
F� � F���� ����� D� � ��5�� ���P 1��� � ���H����9 � � �� ���� � � � �� � ��� � ��
:���� �:D���� � #A� � �4��� � � � � ������� �� ����� ���� �D��� � ������� � � ����
:������� ���� T�#����U. � (���� � �4��� D� � ���� �;5�� �� ��� �� � �� � �� ���� ���
����� � � � � ���� � � ��� �� ��� � �� ���� � � ����� � ���� � ���� �D��� ���� :������
- L� �� � 0 . �
S���� �� � ��� ��� � � �� ��� �� ����� � 5�� :��� ����C� �� ������ �� ���� ���
���C������ ���� ���� � � H��;< �� B���� � � ��� ��� ���� � ' � � ����� � ��� ��� 9 � � �: ����
F� � #��� � ��� � ���;5�� � �� � ��J� ���� � �� ��� ���� F� � �� � ���� �������� � � � � $ ' � ��� �
> " � @ @ � ��� � � (�� ���� > @ � &�� � � :��#�� � ������� ��� ������� � � � ���H���� � � " $ � � I �
�� � �� �� ����� H�� ���. �
�
���&#�%'!%
�
NA� ��������� � �� � ��� � ����� � � ����+�� ���� � ��� ��9 � � ��� ���� �� �����
���� ��� ���� ��� �������� � ��� �� � �#��� ��� � D����� � �� F� � �� � K�� ���� �C������
����D������ ���� :�����. �
(�� � �������� �������� � F� � �� � �������� � ��� ���;< �� � ������ � ������
��� � ���� : ���� � � �� � � �� ����� ��� � ����� � � � ��F� � � � �� � �� ���������� ��
��� ;< �� � � � ����� � : ���� � ��������� � ��� ���� ��� � ���� ��� � . � �

� L� �� > . � ���� � ��J� ���� � ����� �D����� � ��5�� ����P ��J� ���� �D����� � � �� ����
�D���� � � ����� ���� :������ � � ����+�� ����� ��� ����� � �:�� � @ > > . �
�� ����� ���� - �0 � 1��� - ��0 � ���� - ��0 � ���P 1��� I � �����
! ��� ' � > ? � � � � � * � � � � � � @ � � @ � ? " @ � �� " @ � � �� �7����� " � ? $ � �� � � > � @ > � �� > * � " ' � �� @ � * * � :�� $ � � > � ��2 �� > � " � $ � ��� � @ � > @ � ��� > ? � @ � � ��� @ � ? $ � ��� $ " � � � ������ �� " � > � � �� � > � @ � � �� > ? � * @ � �� @ � ? � � ���� � � @ � �2 �� � � " � @ " � �� � @ � @ " � ��� > ' � " @ � ��� @ � * ' � � :�#� $ " � � �W����� � � > � �� > ? � � @ � �� > * � ? � �� @ � ? * ' � � " � � � ��� ����� � � * � � � > ' � $ ? � �� > $ � ' $ � �� @ � ? ' � ��� " ' � * � ���(�C����� > � � � $ � � :� > ' � ' � �� > " � ? ' � �� @ � ? @ � � �� :� � ? � � �G������ � � " � � :� > ' � * $ � �� > " � ? > � �� @ � * ? > � :�� " " � $ � ����(�C����� � � � � � @ � :� > ' � * � � � > " � * @ � � � @ � ? @ � �� :� $ � > � �� �8����� � � ' ' � �� > $ � � � � :� > � " � � :� @ � * ? @ � :�� � � � � �ND���� � � $ @ � �� � > " � * " � :� > � $ � � :� @ � ? � � � ��� � " ' � � � ����(� � � � � " ? � �� > $ � @ * � :� > � " � :� @ � * ? ? � � :� " � @ � ��� �� ����� 27> � � � � � �� > " � " * � :� > � � � " � :� @ � * " > � �#� " � � � ��� �� ����� 27� � > � � � � #� > � � � " � �� > @ � ? ? � �� @ � * � @ � #� " > � � � ��� ��� X� �� V@ � @ @ @ > � V@ � @ @ @ > � V@ � @ @ @ > � V@ � @ @ @ > � V@ � @ @ @ > ��W� - I 0 � " � @ > � � � $ � � � " ' � > � ? " � ? � > * �Y �D���� � ������ � � � ���� ������ � ����� 5�� ��: � �� ��������� � � � ��� � �� � � �L�& Z� - �V@ � @ " 0 �
�
L� �� � . � �D���� � � ��������� � - 2Y 0 � � ����� ��� � � ���� - Y � � �Y 0 � � ���������� � - �0 � �
J����� � � ���� - � 0 � �� ���� � � :������ � � ����+�� ����� ��� ����� � �:�� � @ > > . �
�� ����� �� � �� � �� � �� ��
! ��� � $ � ' " � ��� > � ? ' � ��� > � > @ � ��� � � � � $ � ��� � ? � � � � � �7����� � " � $ " � ���� @ � $ � � @ � $ > � � � @ � ? @ � �� � � � � � ��2 �� > � � $ � � ' � ��� @ � ' $ � � @ � ' � �� � > � @ ' � :�� � " " � ������� �� � " � ? � � ��� � � � " � � @ � $ * � � � � � � � �� > > � " ? � :�2 �� � � � $ � $ " � ��� @ � ' � � � @ � * " � �� � > � > � � :�� * � ? ? � ���W����� � $ � * > � ��� @ � $ " � � > � > � � ���� > � � @ � � :�� " ? � ' � � ������ � $ � � � ��� @ � $ > � � @ � " ' � � � @ � * � �� � � ? " � ��(�C����� > � � " � " � ��� � � ? * � �� @ � ' � � � � @ � � ��� ? � > � � :�G������ � $ � ? * � �� � � * � � � > � � � � ��� � @ " � � > ? � � $ � :�(�C����� � � � � � � �� � � ? � � @ � * * � �� � � @ " � � > � � " � :�8����� � " � ' @ � ��� � � ? > � � @ � * " � �� � � � ? ? � � > > � � ' � :�ND���� � * � > � � > � > � � � � � " * � � � � * � � ��� $ " � ? > � �(� � � � " � $ $ � ���� � � > � � ��� @ � " � � � � � � @ � �� � > � � * � :�� ����� 27> � � $ � $ � ��� > � * " � ��� > � $ � � �� � � * � ��� � � @ @ � ���� ����� 27� � � � � � �� > � � @ � �� � > � $ � � �� � � @ � � �� :� " � � � " � ����� X� �� V@ � @ @ > � V@ � @ @ > � V@ � @ @ > � V@ � @ @ > � V@ � @ @ > ��W� - I 0 � � � > � > ? � " $ � � � > * � > ' � ? ? � > " � �Y �D���� � ������ � � � ���� ������ � ����� 5�� ��: � �� ��������� � � � ��� � �� � � �L�& Z� - �V@ � @ " 0 ��

L� �� � . � �� :��� � �� � � ���� �;5�[� �� � � ���� �D��� ���� :������ - ���0 � � �
����+�� ����� ��� ����� � �:�� � @ > > � � � ��J� ���� - 10 � � ����� - �0 � � ��5�� �P 1� � � �� ����� ����
����� � �� ��� :����� � ��������� � - 2Y 0 � � ����� ��� � � ���� - Y � � �Y 0 � � ���������� � - �0 � �
J����� � � ���� - � 0 � �� ���. �
� � 1� ����5���P 1�
I � � �����
I � � �� �. �
I � ������
2Y � Y � �Y � �� ��
����- �0 �
� @ . ? * � � �Y Y � �
@ . ? " � �Y Y � �
@ . ? � � � �Y Y �
9 @ . � � � � � � �Y �
��� @ . � $ � � � �Y �
��� 9 @ . � ? � � �Y �
� 9 @ . � > �Y �
� 9 @ . � * � �Y Y �
��
[� ���� �;5�� � � �� ��� - �F� � ��� � 5�9 ���D����0 �Y Y � �V@ � @ > � � � � � � � � � � Y � �V@ . @ " � � � � � � � � � � �� � 5�� ����:��������
�!(!�)�&" %
�
/��%��� � �. E � G8!�7!� � /. � *�+��!% �� ��#� � !��� � � �� ��:��;5�� � �� � �� � ��������. �
��� ����� ��� ���� � � G�������� ����� ����� � � @ @ � . � � � " � �. �
1(7�1G(� � 2. �. E � �\8(� �. W. E � ��8WG1(7�� � �. �. � ,��� % �� %"#!"� % . � ]�������� � � 7�����
L� ���� � �
2(8�7^G� � N. � *�+��!% �� %"#!"� %- ���� � � �� ��:��;5�� � �������� � � ����� ���� ��
����� ��� /����. � 7��� (� ��� � ������� � �. � > � � �. � � * > � � � ��. � � @ @ � . �
2(8�7^G� � NE � /��N�8� � 2. E � 2���81�� � �. E � ��8L(8G� � �. � ,��� % �� %"#!"� % ! �./�"& %
��#�"+ � %� - � � ������� ��� ������ 0 . � 7��� (� ��� � � ������� � � @ @ $ . � $ @ � �. � �
�G7(2L�. � ��!&"%! &�#�� &�00��"& �"�� . � 8�� Z� � ������ � > ? ? � . � > � ��
8�GL^� � 8. E � %2�G7� � 8. � �. E � 8�G�� � �. � ���+ ��� �� ��� ��� 8��� !�� � ��� ���. � G�+C� � � ��������� �
����� � � 9 � " � � > ? * � . � " � " � �. � �
��7�N(L�7�� � �. �. �. � ,���1(!� % � �"+ % 2�!"% 3 , �� � ��4��"5 ��� ��4 � . � ������
�� �� � � � ���� � > ? * ? . � � @ � �. �
��W�8(� � ]E � !�2�8_�� � �. �. E � ��7LG22�7(� � 8. � �. � �. E � 8(�/�21G� � �. W. E � �G2W�� � ]. � �. � �
����;5�� � � ���������� : ������� � ������� � ������ �� � ������ � ���H��� � ���
�������� ��� ��� �� ����: �� �������. � �� 5"#" � 6���� # �( (��� �!&7��#�89. � �. � > > � �
�. � $ " 9 ' @ � � � @ @ ? . �
�(6^�� � 2. � �. � � � &�!�"5 ��� �! (����% ! :��: 8 ��� +!8!� �"+ �! 8� 4"6�5!"��; ����� ���� ������� ; �!�8< = �!8� ��= . � ? " � �. � G�. � 1��� ��;5�� - � ������ �� ����� ��0 � M������� � � � �������� � 6�� ����� � � � ��� ��� 8��� !�� � ��� ���. � ������ �� �� � � � @ > @ . �

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO-CONVENCIONAIS NO CONTEXTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR1
Autor: Lucéia Fátima souza2
Orientador: Ingrid Bergman Inchausti de Barros3.
Introdução
O conceito de agrobiodiversidade, em um sentido amplo, refere-se a variedade
e variabilidade de organismos vivos que contribuem de alguma forma para a
alimentação e a agricultura. (QUALSET et al., 1995). Apesar da diversidade biológica
incluída no conceito de agrobiodiversidade, há uma tendência em se priorizar culturas
agrícolas de maior importância econômica, deixando-se de lado o papel importante da
diversidade de espécies de plantas que podem servir de suprimento alimentar para a
população humana. Muitas destas plantas podem contribuir para o aumento da
qualidade da dieta, pois seu aproveitamento é perfeitamente passível de ser incluído
na alimentação humana, beneficiando adultos e crianças.
O desconhecimento sobre a utilidade e a forma de uso das plantas associados
às tendências “modernas” resultou no uso reduzido de muitas plantas que faziam parte
do cotidiano alimentar, principalmente dos moradores de zonas rurais e periferias
urbanas. No processo de desenvolvimento econômico que ocorreu no Brasil,
prevaleceram as formas de produção agroindustrial, com o uso de insumos externos, e
ainda, associadas à globalização de mercados, direcionando o padrão de cultivo e
consumo de alimentos, matérias-prima e espécies melhoradas para o abastecimento
em grande escala, em detrimento do consumo de plantas de uso tradicional e do
cultivo realizado de forma ecológica.
Os valores alimentícios dos produtos locais também precisam ser pesquisados
de forma mais qualitativa e com maior divulgação. Segundo DAM (1984) é necessário
uma forte campanha educativa para mudar os hábitos alimentares a fim de possibilitar
o aproveitamento de recursos mais nutritivos e que poderiam ser obtidos pelo uso de
plantas locais. Segundo a FAO (1992), um programa educativo que utilizasse os meios
de diversas espécies ainda sub-exploradas da flora brasileira, poderia constituir uma
1 Resumo do seminário apresentado na disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e
Agrometeorologia, do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da
UFRGS, em 03 de Junho de 2011. 2Nutricionista, Msc., Doutoranda , Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia,
UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. E-mail:[email protected] 3 Enga. Agra ., Dr
a., Prof
a., Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de feAgronomia,
UFRGS. E-mail: [email protected]

fonte de renda alternativa e uma opção de diversificação cultural na atividade
agropecuária, sobretudo na agricultura familiar.
A maioria das plantas não-convencionais é desconhecida e um reduzido
número destas apresenta comprovação científica de suas propriedades. Um estudo
realizado por Kinupp e Barros (2007) comprova o potencial alimentício e econômico de
muitas espécies de plantas espontâneas ou silvestres. A importância destas espécies
é a garantia da manutenção da agrobiodiversidade, criando a possibilidade de oferta
de novas opções de alimentos, enriquecendo cardápios e assegurando não só
segurança alimentar, mas também segurança nutricional. Sendo assim necessário o
incentivo de mais pesquisas que avaliem formas seguras para o consumo, com o
propósito de aumentar a biodisponibilidade de nutrientes destas plantas.
Desenvolvimento
A história da alimentação humana é permeada por modismos temporários, e
mais recentemente, a alimentação sofre influências por parte da mídia e dos
interesses econômicos. Sendo assim, boa parte dos seres humanos acabou optando
pela especialização ao invés da diversificação alimentar. Segundo Ehlers (2009),
ainda que nossa dieta se concentre atualmente em aproximadamente 150 espécies
com forte predominância de quatro: trigo, arroz, milho e batata - no curso da história
estima-se que a humanidade tenha utilizado cerca de 7000 espécies de plantas
comestíveis. Não obstante, existem aproximadamente 75.000 espécies que poderiam
ser incluídas nos nossos cardápios, muitas delas com vantagens sobre as que usamos
atualmente
Segundo a FAO (1992) os produtos alimentares provenientes de povos
indígenas locais são tratados como inferiores frente aos oriundos de outros países. Os
gostos e preferências alimentares externos são rapidamente incorporados. As plantas
nativas/exóticas, quando naturalizadas, podem ter um papel importante como
suplemento da dieta alimentar e/ou fonte de renda complementar, fixação de
trabalhadores no campo, redução dos impactos ambientais e uma medida de
valoração real dos recursos naturais.
Um estudo realizado pelo biólogo Valdely Ferreira Kinupp (2007) comprova o
potencial alimentício e econômico de muitas espécies de plantas espontâneas ou
silvestres. Elas geralmente são chamadas de ‘daninhas’, ‘inços’, ‘matos’ e outras
denominações reducionistas ou pejorativas, pois sua utilidade é desconhecida pela
população. Quatro espécies foram selecionadas neste trabalho por apresentarem um
promissor campo de pesquisa: o ora-pro-nobis, a bertalha, o crem e a urtiga.
O ora-pro-nobis, nome popular das espécies, Pereskia aculeata e P. grandifolia

Haword. (Cactaceae), é uma planta rústica de origem tropical. Embora tenha um alto
potencial de utilização, no conjunto de hortaliças não-convencionais é cultivado de
forma marginal e rudimentar. A espécie é uma dentre 25 espécies de cactos folheares,
sendo que desse grupo 17 espécies pertencem à sub-família Periskoidae
(EDWARDES, et al., 2005). Esta espécie se destaca pelo alto conteúdo de proteínas
e mucilagem de suas folhas, consumidas na culinária regional brasileira e usadas
como emolientes na medicina popular. Este fato despertou o interesse de indústrias
farmacêuticas e de alimentos nutracêuticos, como matéria-prima na produção de
complementos alimentares, mais especificamente por apresentarem alto teor do
biopolímero arabinogalactana (MERCÊ et al., 2001).
A bertalha (Anredera cordifolia) é uma trepadeira com rizoma carnoso e
bulbilhos/tubérculos aéreos. Suas folhas são de consistência carnosa e mucilaginosa
com coloração verde-escuro e, como o próprio epíteto específico diz em formato de
coração. Suas flores são de cor creme e perfumadas. Esta espécie parece reproduzir-
se, exclusivamente, vegetativamente por tubérculos aéreos e subterrâneos (KINUPP,
2007). São consumidos os ramos tenros e as folhas, da mesma forma que o espinafre,
cujo paladar é semelhante, podendo ser usados em sopas, refogados e saladas.
Sendo excelente fonte de vitaminas A e C, de cálcio e iodo, pode contribuir para suprir
necessidades básicas das populações (PAIVA, 1991).
A Urtica dióicaca, conhecida popularmente como urtiga, é uma planta herbácea
perene, possui rizomas lenhosos, caules simples ou pouco ramificado com 40-100 cm
de altura. Caule coberto densamente ou, com pelos. As folhas são ovais (JIARUI et al,
2003). Essa espécie possui componentes pertencentes a varias classes químicas, tais
como ácidos graxos, ácidos triterpenicos, cumarinas, fenilpropanoides, lignanas e
ceramidas (CHAURASIA e WICHTL, 1986). O contato com os pelos nos caules e nas
folhas causa a liberação de diversas substancias biologicamente ativas (EMMELIN et
al,1947; SCOTT et al, 1997; ANDERSON et al., 2003; HADDAD, 2004).
Tropaeolum pentaphyllum Lam.– Tropaeolaceae.. Esta espécie possui diversos
nomes populares, sendo o mais conhecido batata crem ou crem. Os tubérculos
apresentam casca suberosa e fissurada e região interna branca, com odor forte e
sabor pungente. Ralados e conservados em vinagre são usados como condimento em
diferentes pratos a base de carnes e sopas. As folhas e flores cruas em saladas ou
refogadas são muito saborosas e atrativas, mas com uso pouco conhecido. O mesmo
ocorrendo com os frutos picantes que podem ser consumidos em conservas. No
entanto, apesar do uso tradicional como medicinal e condimentar e do potencial para
cultivo em maior escala e domesticação, pouco se conhece sobre sua biologia e

aspectos fitotécnicos (CASTELLANI, 1997).
Considerações finais
Plantas comestíveis não-convencionais apresentam características de
adaptação ambiental e em um país como o Brasil, onde são detectados bolsões de
carências nutricionais é necessário divulgar o conhecimento que gradualmente tem
caído no esquecimento. É provável que a realização de novas análises sobre estas
plantas permita uma melhor avaliação sobre os resultados clínicos relatados nas
pesquisas anteriores, fazendo com que os mesmos sejam validados, ou ainda,
refutados
Bibliografia
ALMEIDA, F., J.; CAMBRAIA, J. Estudo do valor nutritivo do “ora-pro-nobis” (Pereskia aculeata Mill.). Revista Ceres, v. 21, n. 114, p. 105-11, 1974. ANDERSON, B.E.; MILLER, C.J e ADAMS, D.R. Stinging nettle dermatitis. Am J Contact Dermat. 2003 14(1): 44-6. CASTELLANI, D. C. 1997. Crescimento, anatomia e produção de ácido erúcico em Tropaeolum majus L. 108 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. CHAURASIA, N & WICHTL M. Phenylpropane und lignane aus der wurzel von Urtica dioica L. Dtsch Apoth Ztg. 1986a 126: 1559ñ1563. DAM, A. VAN. ¿Que comeremos dentro de veinte años? Interciencia, v.9, n.1, p.35-36, 1984 EDWARDS, E. J.; NYFELER, R.; DONOGHUE, M. J. Basal cactus phylogeny: implications of Pereskia (Cactaceae) paraphyly for the transition to the cactus life form. American Journal of Botany, v.92, p.1177-1188, 2005. EMMELIN, N e FELDBERG, W. The mechanism of sting of the common nettle (Urtica dioica). J. Physiol., 1947 106: 440-5.
EHLERS, J.E.V. E. Diversidade Biológica e Dinamismo Economico no Meio Rural in: MAY, Peter (org) Economia do meio ambiente: teoria e prática, 2ª ed, Rio de Janeiro.
FAO. Productos Forestales No Madereros; Posibilidades. Estudio FAO Montes. Publicación No. 97, Roma, 1992. 35 p HADDAD, J. V. Skin manifestations caused by brazilian traumatic, allergenic, and venomous plants: main species, therapeutic and preventive measures. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis., 2004 10(3):199-206. JARI`C, S.; POPOVIC, Z.; JOCIy, M.M. & et al. An ethnobotanical study on the usage of wild medicinal herbs from kopaonik mountain (central Serbia). Journal of Ethnopharmacology. 2007 (111): 160ñ175. JIARUI, C.; LIN, Q.I.; FRIIS, C. & et al. Urticaceae flora of China. 2003 5: 76-189.

KINUPP, V. F. Plantas alimentícias alternativas no Brasil: uma fonte complementar de alimento e renda. ABA journal, v. 1, p. 333-336, 2006.
KINUPP, Valdely Ferreira; BARROS, Ingrid Bergman Inchausti. Riqueza de plantas alimentícias não-convencionais na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Biociências. Porto Alegre, V. 15, supl. 1, p. 63-65, 2007. MERCÊ, A. L. R.; LANDALUZE J. S.. Complexes of arabinogalactan of Pereskia aculeata and Co2+, Cu2+, Mn2+, and Ni2+. Bioresource Technology. Curitiba: Departamento de Química, Centro Politécnico, Universidade Federal do Paraná, v. 1, n. 76, p. 29-37. 2001 PAIVA, W.O. Bertalha (Basella alba L. syn. B. rubra). In: Cardoso, M.O. (Ed.). Hortaliças não-convencioanais da Amazônia. Brasília: Embrapa, 1997. p. 33-38. PATTEN, G. Urtica. Australian Journal of Medical Herbalism, 1993, 5:5-13. QUALSET, C.O.; MCGUIRE, P.E.; WARBURTON, M.L. Agrobiodiversity: key to agricultural productivity. California: Agriculture, v.49, p.45-49, 1995 RODRIGUES, J.R. Caracterização e avaliação de compostos à base de capim ‘napier’ (pennisetum purpureum schumach) e esterco de “cama” de aviário para produção de hortaliças em sistema orgânico. universidade federal rural do rio de janeiro. Dissertação (mestrado em fitotecnia). Seropédica, Rio de Janeiro 2004. SCOTT, S & THOMAS, C. Poisonous plants of paradise: first aid and medical treatment from Hawaiís plants. Honolulu: University of Hawai Press, 1997. 178p. KINNUPP, V. F. Plantas alimetícias não convencionais da região metropolitana de Porto Alegre, RS. Tese (Doutorado em Botânica) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

1
UTILIZAÇÃO DE ANTICORPO MONOCLONAL PARA OBSERVAÇÃO DA METIL
ESTERIFICAÇÃO DA PAREDE CELULAR EM RAÍZES DE VIDEIRA1
Autor: Marcelo Zart2
Colaboradores: Alexandra Antunes Mastroberti3, Jorge Ernesto de Araújo Mariath3 e
Henrique Pessoa dos Santos4.
Orientador: Paulo Vitor Dutra de Souza5,
Introdução
A viticultura é uma atividade agrícola que apresenta elevada importância para o
Brasil, contando com uma área cultivada de aproximadamente 80 mil ha e produção de 1,3
milhões de toneladas de uva na safra 2009/2010 (MELLO, 2011a). Economicamente o setor
movimentou 148,33 milhões de dólares em exportações no ano de 2010, com destaque para
frutas frescas e suco concentrado (MELLO, 2011b). A viticultura também apresenta
importância social por ser cultivada em diferentes estratos de produtores, o que engloba
significativa parcela de agricultores de base familiar (PROTAS et al., 2002).
Um dos aspectos peculiares à cultura da videira no país é a incidência de pragas,
sendo as doenças fúngicas responsáveis por até 30% do custo de produção em regiões
onde o clima é favorável ao seu desenvolvimento (SÔNEGO & GARRIDO, 2007). Tratando-
se de insetos, a cochonilha pérola-da-terra, Eurhizococcus brasiliensis (Hempel, 1922),
(Hemiptera: Margarodidae), apresenta destaque por estar relacionada como o principal fator
da ocorrência do declínio e morte de videiras nos estados do Sul do Brasil (BOTTON et al.,
2004). Esta cochonilha possui hábito hipógeo e ataca especificamente a região radicular das
plantas, onde se alimenta da seiva oriunda dos tecidos vasculares por exploração das
células do parênquima (FOLDI, 2005).
Não existe um método de controle eficiente para o manejo desta praga nos vinhedos,
entretanto, há evidências da possibilidade de resistência e/ou tolerância da espécie Vitis
rotundifolia com relação ao ataque de pérola-da-terra (BOTTON & COLLETA, 2010). Como
1 Resumo do seminário apresentado na disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e Agrometeorologia,
do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em 03 de junho de 2011. 2 Engº Agrº, MSc. Doutorando, Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia, UFRGS.
Av. Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. Bolsista CNPq. E-mail: [email protected]
3 Biólogo(a), Prof.(a) Dr(a)., do Depto. de Botânica/UFRGS – Laboratório de Anatomia Vegetal – Porto Alegre,
RS. E-mail: [email protected], [email protected] 4 Eng. Agr., Dr., Pesquisador da Embrapa Uva e Vinho – Fisiologia Vegetal - Bento Gonçalves, RS E-mail:
[email protected] 5 Eng. Agr., Dr., Prof., Departamento de Horticultura e Silvicultura, Faculdade de Agronomia, UFRGS. E-mail:

2
esta espécie de videira apresenta incompatibilidade genética (2n=40) com videiras
comerciais (2n=38), como Vitis vinifera e Vitis labrusca, o uso de híbridos interespecíficos
mostra-se como uma interessante alternativa para a busca de cultivares porta-enxertos
resistentes e compatíveis com as cultivares copas (TORREGOSA & BOUQUET, 1995).
Questões sobre a estratégia de resistência e/ou tolerância da espécie V. rotundifolia
ao ataque de pérola-da-terra são pouco estudadas. Sabe-se que insetos sugadores
produzem tipos específicos de enzimas digestivas, contidas em glândulas salivares de seu
aparato bucal, as quais são introduzidas nos tecidos da planta para facilitar a entrada dos
estiletes alimentares no hospedeiro (MILES, 1999). Entre os diferentes tipos de enzimas já
estudadas em insetos destaca-se o grupo das pectinases, que atuam diretamente nos
componentes pécticos da parede celular vegetal (MA et al., 1990). De maneira geral, a
parede primária das células vegetais (dicotiledôneas) é rica em polissacarídeos pécticos,
que são polímeros complexos e apresentam diferentes graus de metilesterificação
(WILLATS et al., 2001). O grau de metilesterificação tem influência sobre as propriedades
gelificantes das pectinas e também limita e/ou impede a ação de pectinases sobre os
polissacarídeos (SAKAI et al., 1993). Estudos realizados com a extração química de
pectinas em vegetais não relacionam o padrão de metilesterificação contida nas paredes
nem a sua localização espacial. Anticorpos monoclonais já foram testados em diferentes
espécies vegetais e demonstraram importantes resultados quanto a presença e localização
de pectinas na parede celular (WILLATS et al., 2001).
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi testar a utilização de um anticorpo
monoclonal específico para pectinas de alta metilesterificação, em raízes de videira (Vitis
berlandieri x Vitis rupestris, cv ‘Paulsen 1103’).
Material e Métodos
O trabalho foi realizado em abril de 2011 no Laboratório de Anatomia Vegetal do
Departamento de Botânica/UFRGS, localizado em Porto Alegre, RS. A plantas utilizadas
foram multiplicadas no Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Uva e Vinho,
localizado em Bento Gonçalves, RS.
Foram utilizadas raízes de videira da cultivar ‘Paulsen 1103’, lavadas em laboratório
para eliminação de terra e substrato. Porções das raízes foram removidas das plantas, com
auxílio de lâmina de barbear (Gillette®), seccionadas transversalmente a mão livre e
mergulhadas em água destilada para evitar a desidratação dos tecidos. Em seguida os
cortes foram separados em três frascos distintos: 1) anticorpo primário e secundário; 2) teste
controle com anticorpo secundário; 3) teste em branco. Em cada frasco foram incluídos dez
cortes. Foram realizados os seguintes procedimentos:

3
1-) fixação, utilizando como fixador paraformaldeído 4% - tampão fosfato de sódio
0,1 M pH 7,2 , por duas horas em agitação de baixa rotação;
2-) lavagem, em água destilada, duas vezes por um minuto cada;
3-) bloqueio, utilizando solução de proteína de leite desnatado (45 minutos de
centrifugação) diluída a 3% em tampão fosfato salino pH7,2 (PBS), por uma hora;
4-) lavagem, em PBS, por um minuto;
5-) incubação em anticorpo primário JIM7, o qual detecta um epitopo de
hamogalacturonanos (HG) com metil-esterificação acima de 80% (KNOX et al., 1990),
diluído 10 vezes em PBS, por duas horas;
6-) lavagem, em PBS, quatro vezes por um minuto cada;
7-) incubação em anticorpo secundário Goat anti-rat FITC (Sigma), diluído 100 vezes
em PBS e mantido no escuro, por uma hora;
8-) lavagem, em PBS, quatro vezes por um minuto cada;
9-) montagem em lâmina e lamínula, com antifade parafenilediamina em glicerol
tamponado.
O frasco número um (com anticorpo primário e secundário) passou por todos os
procedimentos. O frasco número dois (com anticorpo secundário) não participou do
processo cinco (5). O frasco número três (teste em branco com fixador) passou pelos
procedimentos 1, 8 e 9. Foram necessários estes controles para comprovar que não há
reação do anticorpo secundário (Goat anti-rat FITC) no tecido sem a presença do anticorpo
primário (controle). O anticorpo observado é o secundário complexo com fluorocromo FITC
(fluoresceína isotiocianato) que emite verde com excitação do UV na faixa de 450-490 nm.
As lâminas montadas permaneceram no escuro até a visualização, devido a luz
degradar o fluorocromo. Os cortes foram analisados em epifluorescência no microscópio
Leica DM R .As imagens foram capturadas em câmara digital Leica DC500.
Resultados e Discussão
Na análise comparada dos dois grupos de cortes realizados, com a presença do
fluorocromo, pode-se observar uma distinção na marcação dos tecidos de raiz. A evidência
da presença de epitopos pécticos no parênquima cortical das seções marcados pelo JIM7 e
FITC (de reação verde, Figura 1 - b) não foi observada nas seções sem a presença do
anticorpo primário JIM7 (sem coloração verde, Figura 1 – a). Os tecidos ricos em lignina
(feixes de xilema) mostraram-se de coloração laranja, em ambos os cortes, em função das
propriedades autofluorescentes das ligninas presentes nas paredes secundárias desse
tecido (Figura 1 – a, b).
O procedimento do teste mostrou-se eficiente, porém há necessidade de treinamento
para contrastes entre materiais (cultivares de videira), devido a padronização da espessura

4
dos cortes. O procedimento também é considerado rápido (aproximadamente oito horas),
não necessitando de inclusão em bloco.
Figura 1. Cortes transversais de raízes de videira cv. ‘Paulsen 1103’ (Vitis berlandieri x
Vitis rupestris). Microscopia óptica de fluorescência sem a presença de anticorpo primário
JIM7 (a). Microscopia óptica de fluorescência apresentando emissão de verde pelo
fluorocromo ligado ao anticorpo JIM7 (b). Xilema (X); floema (f); parênquima cortical (pq).
Conclusão
O teste imunocitoquímico com anticorpo monoclonal JIM7, marcado com fluorocromo
FITC, revelou-se eficiente para análises de componente pécticos de paredes celulares em
raízes de videira.
Referências
BOTTON, M.; HICKEL, E.R.; SORIA, S.J.; SCHUCK, E. Pérola-da-terra. In: SALVADORI,
J.R.; ÁVILA, C.J.; SILVA, M.T.B. da (Org.). Pragas de solo no Brasil. Passo Fundo:
Embrapa Trigo, Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, Cruz Alta: Fundacep, 2004, v. 1,
p. 457-476.
X
X
f f
a b
pq pq

5
BOTTON, M.; COLLETA, V.D. Avaliação da resistência de cultivares de Vitis rotundifolia à
pérolada-terra (Hemiptera: Margarodidae) na região sul do Brasil. Acta Scientiarum.
Agronomy, Maringá, v. 32, n. 2, p. 213-216, 2010.
FOLDI, I. Ground pearls: a generic revision of the Margarodidae sensu stricto (Hemiptera:
Sternorrhyncha: Coccoidea). Annales de la Société entomologique de France, Paris,
v.41, n.1, p.81-125, 2005.
KNOX, J.P.; LINSTEAD, P.J.; KING, J.; COOPER, C.; ROBERTS, K. Pectin esterification is
spatially regulated both within cell walls and between developing tissues of root apices.
Planta. v. 181, n. 512-521, 1990.
MA, R. et al. Detection of pectinesterase and polygalacturonase from salivary secretions of
living greenbugs, Schizaphis graminum (Homoptera: Aphididae). Journal of Insect
Physiology. v. 36, n. 7, p. 507-512, 1990.
MELLO, L.M.R. de. Vitivinicultura Brasileira: Panorama 2010. Artigos Técnicos.
EMBRAPA/CNPUV, Bento Gonçalves, 2011a Disponível em:
<http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/artigos/prodvit2010[1].pdf>. Acesso em março de
2011.
MELLO, L.M.R. de. Atuação do Brasil no Mercado Vitivinícula Mundial - Panorama
2010. Artigos Técnicos. EMBRAPA/CNPUV, Bento Gonçalves, 2010b. Disponível em:
<http://www.cnpuv.embrapa.br/publica/artigos/meccextvit2010.pdf > Acesso em março de
2011.
MILES, P.W. Aphid saliva. Biological Review. v. 74, p. 41-85, 1999.
PROTAS, J.F da S.; CAMARGO, U.A.; MELLO, L.M.R. de. A vitivinicultura brasileira:
Realidade e perspectivas. Artigos Técnicos. EMBRAPA/CNPUV, Bento Gonçalves, 2002.
Disponível em: http://www.cnpuv.embrapa.br /publica/artigos/vitivinicultura/. Acesso em:
novembro de 2007.
SAKAI, T. et al. Pectin, pectinase and protopectinase: production, properties and aplications.
Advances and Applications in Microbiology. v. 39, p. 213-294, 1993.
SÔNEGO, O.R.; GARRIDO, L. da R. Doenças fúngicas da videira e seu controle. In.
EMBRAPA UVA E VINHO. Capacitação técnica em viticultura. Cópia da versão impressa,
dezembro de 2007.
TORREGROSA, L.; BOUQUET A. In vitro propagation of Vitis x Muscadinia hybrids by
microcuttings or axillary budding.Vitis, Geneva, v.34, n.4, p.237-238, 1995.
WILLATS, W.G.T., MCCARTNEY, L., MACKIE, W., KNOX, P. Pectin: cell biology and
prospects for functional analysis. Plant Molecular Biology. v. 47, p. 9-27, 2001.

1
Desenvolvimento de mudas de butiazeiro em recipientes: densidade e pH do
substrato1
Autor: Claudimar Sidnei Fior2
Orientador: Sergio Francisco Schwarz3,
Introdução
O butiazeiro [Butia capitata (Mart.) Becc.] é uma palmeira nativa no Paraguai, na
Argentina, e com maior representatividade no Uruguai e no Brasil. Através de estudos
arqueológicos, constatou-se que frutos de butiazeiros são utilizados por humanos há
séculos, tanto no Brasil quanto no Uruguai (DANTAS, 1997, apud ROSSATO, 2007;
CARDOSO, 1995; GEYMONAT & ROCHA, 2009). Também há informações sobre a
utilização das folhas para extração de fibras que abasteciam fábricas de colchões instaladas
em locais onde existiam grandes palmares (CARDOSO, 1995; TONIETTO et al., 2009;
GEYMONAT & ROCHA, 2009). Atualmente há grande demanda por plantas das espécies
do gênero Butia tanto para uso ornamental, como para processamento artesanal e
agroindustrial de seus produtos. Porém, tanto o emprego paisagístico quanto a constituição
de pomares são limitados pela dificuldade de produção comercial de mudas.
Devido à carência de informações na literatura a respeito da produção de mudas de
B. capitata, desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de estudar o desenvolvimento de
mudas desta espécie em substratos com proporções de dois componentes orgânicos de
diferentes densidades, bem como monitorar a alteração e o efeito do pH desses substratos.
Material e Métodos
Foram utilizadas plântulas com cerca de 60 dias após a germinação, oriundas de
sementes coletadas de dez matrizes de uma população localizada no município de
Encruzilhada do Sul, RS.
O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo que na inicial foram testadas
densidades de substrato, através da combinação de dois componentes de origem orgânica.
Na segunda etapa, plantas representando em igual proporção os tratamentos com
densidades de substrato, foram separadas em quatro grupos, onde se monitorou o
desenvolvimento de mudas sob o efeito de quatro níveis de pH.
1 Resumo do seminário da disciplina FIT00001 – Seminário em Horticultura e Agrometeorologia, do Programa
de Pós-Graduação em Fitotecnia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, em 03 de junho de 2011. 2 Eng. Agr., Doutorando do Programa de Pós-graduação em Fitotecnia, ênfase em Horticultura, UFRGS. Av.
Bento Gonçalves, 7712, 91501-970, Porto Alegre, RS. E-mail: [email protected] 3 Eng. Agr., Dr., Prof., Programa de Pós-graduação em Fitotecnia e Departamento de Horticultura e Silvicultura,
Faculdade de Agronomia, UFRGS. E-mail: [email protected]

2
O substrato utilizado consistiu de diferentes proporções volumétricas dos
componentes casca de arroz carbonizada (CAC) e casca de pinus composta (CP), conforme
as seguintes proporções e densidades das misturas:
T1: 100% de CAC; densidade 260 m3/m3;
T2: 75% de CAC e 25% de CP; densidade 454 m3/m3;
T3: 50% de CAC e 50% de CP; densidade 487 m3/m3;
T4: 25% de CAC e 75% de CP; densidade 548 m3/m3;
T5: 100% de CP; densidade 722 m3/m3;
Em todos os tratamentos foi acrescentado fertilizante de liberação lenta Osmocote®
(NPK 19-6-10, sem micronutrientes) com tempo de liberação total de três a quatro meses,
conforme informações do fabricante, na dosagem de três gramas por litro de substrato. O
fertilizante foi incorporado ao substrato antes do preenchimento dos recipientes de cultivo,
os quais constituíram-se de sacos de polietileno preto (1,15 L) perfurados nas laterais e na
base, completamente preenchidos com substrato e uma muda, formando uma unidade
experimental.
Utilizou-se delineamento em blocos casualisados, considerando como fator de
bloqueamento a altura e o número de folhas das mudas no momento da instalação do
experimento: Bloco 1: mudas com altura média de 14,8 cm e número médio de folhas de
1,1; Bloco 2: altura média de 24,3 cm e número médio de folhas de 1,7.
A irrigação foi realizada diariamente, em quantidade próxima à capacidade de vaso
do substrato. Eventualmente percebe-se drenagem de 10 a 20% do conteúdo de cada
irrigação. Foram utilizadas 15 unidades experimentais por parcela. Logo após o
estabelecimento, as mudas foram irrigadas e depositadas sobre grade de polietileno rígido
apoiadas sobre bancadas de concreto em casa de vegetação coberta por telha transparente
de fibra de vidro, com tela de sombreamento interna, totalizando 70% de redução da
intensidade luminosa.
Aos 90 dias procedeu-se a leitura da condutividade elétrica e do pH do substrato de
cinco recipientes de cada parcela, tomados aleatoriamente. O método utilizado foi o Pour
Thru (CAVINS et al., 2000; SCHAFER & SOUZA, 2005), com base na leitura direta de pH e
condutividade elétrica do lixiviado dos recipientes após saturação com água de irrigação.
Em seguida foram avaliados em cada planta: a altura; o número de folhas; o diâmetro da
base (à altura do colo); e, com base na avaliação inicial, foi calculado o aumento médio em
número de folhas por planta.
Após a avaliação procedeu-se a segunda etapa do experimento. Para tanto, foram
selecionadas 16 plantas de cada tratamento e distribuídas aleatoriamente em quatro grupos
(blocos) de quatro repetições de cada tratamento. As unidades experimentais de cada bloco

3
foram acondicionadas em uma bandeja de polietileno. Em cada bandeja foi mantida uma
lâmina de água de dois a três cm de altura, onde foram adicionadas quantidades da base
hidróxido de sódio a 0,66M (NaOH) suficientes para que o pH da solução, em equilíbrio com
o substrato, alcançasse os níveis 4, 4,9, 5,7 e 6,9, sendo um nível em cada bandeja. Este
procedimento teve como objetivo isolar o efeito do pH e fertilidade nos diferentes
tratamentos de substratos, além de identificar possível alteração do pH no desenvolvimento
das mudas. A determinação da quantidade de base para cada nível de pH foi realizada
através da titulação com NaOH de uma amostra de proporções médias dos substratos (uma
parte de cada combinação dos cinco tratamentos), a partir da qual calcularam-se os
volumes necessários de NaOH, para cada índice de pH pretendido em cada bloco. Assim,
chegou-se às quantidades: 0 mL de NaOH L-1 de substrato para pH 4; 2,5 mL para pH 4,7;
6,5 mL para pH 5,8; e 10,5 mL para pH 6,7.
As plantas foram mantidas desta forma por oito dias, sendo então retiradas das
bandejas e dispostas na mesma ordem sobre piso coberto com uma camada de 15 cm de
brita média. A partir desta etapa as plantas foram adubadas por cobertura com solução
nutritiva composta por cloreto de potássio, nitrato de cálcio, sulfato de magnésio, fosfato
monoamônio (MAP) e uréia, em quantidades suficientes para a seguinte proporção de
nutrientes: N: 10,5; P2O5: 6; K2O:10,7; S: 4,6; Ca: 3,8; e Mg: 3,2 (adaptado de BROSCHAT
& MEEROW, 1992). A concentração total de sais por litro de solução foi de 2 g, sendo
aplicados 100 mL de solução por planta, semanalmente, durante os meses de outono e a
cada 21 dias nos meses de inverno. A cada duas aplicações da solução nutritiva
mencionada foram acrescentados os micronutrientes do meio de cultivo MURASHIGE &
SKOOG (1962), na concentração de 100 mL da formulação por planta. Antes da aplicação,
a solução nutritiva destinada a cada bloco teve o pH corrigido com NaOH para o mesmo
índice do respectivo bloco, conforme correção realizada no início da segunda etapa.
A fim de isolar o efeito ambiental para as mudas nas diferentes posições, foi mantida
uma bordadura de uma linha de plantas em volta do conjunto que compunha o experimento.
Para esta etapa, considerou-se o delineamento experimental em blocos
casualizados, tendo como variação entre blocos os níveis de pH (quatro blocos). Os
tratamentos foram compostos pelas cinco proporções de CAC e CP (conforme descrito na
primeira etapa) sendo quatro plantas por parcela.
Após 160 dias procedeu-se a avaliação do substrato através da leitura de pH e
condutividade (diluição em água 1:5) de duas plantas por parcela e a avaliação de todas as
plantas quanto à altura, ao número de folhas, ao comprimento das raízes, ao diâmetro à
altura do colo, e ao aspecto visual da parte aérea e do sistema de raízes através da escala
numérica de 1 a 5, considerando-se como “5” o sistema de raízes mais volumoso e a parte

4
aérea sem sinais de desequilíbrio nutricional. Com base nos dados iniciais de cada planta foi
calculado o incremento em altura e em número de folhas durante o experimento.
Os dados de cada variável foram analisados quanto à distribuição normal (teste de
Kolmogorov-Smirnov) e igualdade das variâncias (teste de Levene). Em seguida procedeu-
se a análise de variância paramétrica ou não paramétrica (teste de Freadman). Quando a
variância foi significativa, procedeu-se a análise de comparação de médias pelo teste de
DMS (Fisher’s least significant difference).
Resultados e Discussão
Na primeira etapa do experimento constatou-se diferença entre os tratamentos
somente para altura das plantas e pH do substrato. A variação do pH relacionou-se com o
aumento da proporção de CP, o que aponta para o efeito deste componente na condição
química do substrato.
O pH baixo dos tratamentos com maior proporção de CAC, associado ao fato de este
componente ter apresentado pH levemente alcalino (8,0) no início do experimento sugere
que o adubo de liberação lenta tenha provocado esta queda do pH. Já nos tratamentos com
maior proporção de CP, teve efeito o fator tamponante deste componente.
O bloqueamento teve variância significativa para pH, o que sugere efeito da fase de
desenvolvimento das plantas na condição química do substrato. Isto pode ter ocorrido em
função da liberação de exudatos das raízes, ou mesmo a absorção diferenciada de
nutrientes devido à fase de desenvolvimento em cada bloco.
Na segunda etapa do experimento, a composição do substrato foi determinante no
desenvolvimento das mudas, conforme verificado na maioria das variáveis analisadas.
Somente o número de folhas não teve variância significativa entre os tratamentos. Contudo,
para todas as variáveis associadas ao desenvolvimento das plantas, as diferenças entre as
médias dos tratamentos foram significativas somente entre o substrato 100% de CAC e os
demais, ou seja, a presença de CP, mesmo que em baixa proporção, foi suficiente para
elevar o desenvolvimento vegetativo. Este resultado pode estar relacionado tanto com a
maior densidade destes substratos, permitindo maior retenção de água e maior contato
entre as partículas sólidas e as raízes, quanto com o condicionamento químico provocado
pelo efeito da CP.
Mesmo com a correção do pH do substrato e das soluções de adubação aplicadas
ao longo da condução do experimento, ao final deste (160º dia) não houve diferença
significativa para pH entre os blocos. Assim como na primeira etapa, este comportamento de
pH pode ter relação com o efeito tamponante que as mudas de butiazeiro exercem no
substrato em recipientes, bem como a possibilidade da CP ter assumido esta função devido
a sua condição química, pois mesmo que o processo de compostagem tenha sido realizado

5
de forma a atingir certa estabilidade, há presença de partículas maiores que, possivelmente
continuam o processo de decomposição e, consequentemente, de liberação de elementos
que possam alterar o pH do meio. Esta observação é reforçada no fato de ter havido
diferença significativa no pH dos tratamentos (proporções dos componentes do substrato),
sendo mais elevado nos três tratamentos com maior proporção de CP.
Conclusões
O desenvolvimento de mudas de Butia capitata em recipientes é afetado pela
densidade do substrato.
A espécie pode tolerar amplitudes de pH entre neutro a fortemente ácido.
Referências
BROSCHAT, T. K.; MEEROW, A. W. Palm nutrition guide. Gainesville: University of Florida
Extension Circular SS-ORH-02, 1992. 6 p.
CARDOSO, M. C. El palmar, la palma y el butiá. PROBIDES. Montevideo: Productora
Editorial, 1995. 23p. (Fichas didácticas N° 4).
CAVINS, T. J.; GIBSON, J. L.; WHIPKER, B. E.; FONTENO, W. C. pH and EC Meters - Tool
for Substrate Analysis. Raleigh: NC State University Florex 001, 2000. 4 p.
GEYMONAT, G.; ROCHA. N. M'botiá: Ecosistema único en el mundo, Castillos: Casa
Ambiental, 2009, 405 p.
MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco
tissue cultures. Physiologia Plantarum, Kopenhagen, v.15, n. 3, p. 473-497, 1962.
ROSSATO, M. Recursos genéticos de palmeiras do gênero Butia do Rio Grande do
Sul. 2007. 136 f. Tese (Doutorado em Agronomia – Fitomelhoramento) Universidade
Federal de Pelotas, Pelotas, 2007.
SCHAFER, G.; SOUZA, P. V. D. Método não destrutivo para monitoramento da reação e
salinidade do substrato na produção de mudas cítricas. Laranja, Corderópolis, v. 26, n. 1, p.
151-162, 2005.
TONIETTO, A.; SCHLINDWEIN, G.; TONIETTO, S. M. Usos e Potencialidades do
Butiazeiro. Porto Alegre: Fepagro, 28p. (Circular Técnica, n. 26). Disponível em
<www.sct.rs.gov.br/include/download.php?arq=1256811442butia_oficial.pdf> Acesso em: 30
mar 2011.