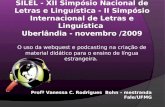UPHOFF, D. O Caráter Institucional Do Uso Do Livro Didático No Ensino de Língua Estrangeira.
-
Upload
denilson-lopes -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
description
Transcript of UPHOFF, D. O Caráter Institucional Do Uso Do Livro Didático No Ensino de Língua Estrangeira.
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
O CARTER INSTITUCIONAL DO USO DO LIVRO DIDTICO NO ENSINO DE LNGUA ESTRANGEIRA
Drthe UPHOFF
(Universidade Estadual de Campinas) [email protected]
RESUMO: Neste artigo, meu objetivo descrever o uso do livro didtico de lngua estrangeira como uma prtica institucionalizada. Com base na teoria sociolgica de Berger e Luckmann (1966), que consideram a historicidade, o controle e a necessidade de legitimao como caractersticas centrais de uma instituio, procuro mostrar de que maneira esses aspectos manifestam-se na histria do livro didtico de lngua alem. PALAVRAS-CHAVE: ensino de lnguas estrangeiras; livro didtico; instituio; alemo como lngua estrangeira. ABSTRACT: In this article, I describe the use of textbooks in foreign language teaching as an institutional practice. According to the sociologists Berger and Luckmann (1966), historicity, control and need of legitimation are to be considered major characteristics of institutions. My aim is to identify these features in the history of German teaching textbooks. KEYWORDS: foreign language teaching; textbook; institution; German as a foreign language 0. Introduo
O uso do livro didtico (LD) no ensino de lngua estrangeira
pouco questionado e sua presena em sala de aula parece bvia. Apesar de ser alvo de diversas crticas relacionadas a questes de contedo, progresso e mtodo, a existncia em si do LD nos processos de ensino/aprendizagem de lnguas no costuma ser contestada.
A maioria dos professores aceita o LD, a despeito de todos os esforos necessrios para adequ-lo a cada situao especfica de ensino, e apenas poucos professores preferem abandon-lo para lecionar com materiais prprios ou diversificados.
131
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
Como se explica a fora do LD no ensino de lnguas, essa instncia desnecessria (Schroth-Wiechert, 2001) que se impe nas interaes entre professor e alunos? Responder a essa pergunta significa problematizar uma relao que aparenta ser natural, mas que historicamente constituda: a relao entre o professor de lngua estrangeira e o LD como dispositivo em que se materializa um percurso de ensino estabelecido por outrem.
Na procura por um arcabouo terico apropriado para entender a importncia do LD no ensino de lnguas, deparei-me com a obra de Berger e Luckmann (1966), A Construo Social da Realidade, um clssico na teoria sociolgica sobre instituies.
Apesar de no tratar especificamente de questes relacionadas educao, a obra proporcionou-me um outro olhar sobre o ensino de lnguas mediado por LD, ao possibilitar sua descrio como prtica institucionalizada. A meu ver, essa concepo abre uma perspectiva interessante para entender a dinmica do LD no atual cenrio da didtica de lnguas estrangeiras.
A seguir, apresentarei os principais resultados das minhas reflexes acerca do carter institucional do uso do LD no ensino de idiomas, com base na teoria de Berger e Luckmann (op. cit.). Os exemplos prticos que darei enfocam o ensino da lngua alem, com sua caracterstica especfica de empregar, sobretudo, materiais internacionais. Acredito, porm, que esses exemplos, em muitos aspectos, aplicam-se tambm ao contexto do ensino de outras lnguas. 1. Caractersticas centrais de uma instituio
Conforme Berger e Luckmann (op. cit), uma instituio pode ser considerada como um padro de comportamento, cuja aceitao e observncia so esperadas pela sociedade. Toda atividade humana que prossegue no tempo sujeita formao de hbitos, os quais constituem o primeiro passo em direo institucionalizao. Nesse processo, ocorre uma padronizao tanto das aes quanto dos atores nelas envolvidas.
Segundo os socilogos, fala-se em instituio quando o comportamento padronizado passa de uma gerao para outra, ou seja, quando a ao retomada por pessoas que no participaram diretamente da elaborao do padro (Berger e Luckmann, 1966, 2000).
Com isso, a instituio entra na ordem da histria e passa a ser experimentada como algo dotado de uma realidade exterior e objetiva, cuja existncia antecede e independe dos atores. A historicidade
132
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
constitui, dessa forma, a primeira caracterstica bsica de uma instituio:
As instituies tm uma histria, da qual so produtos. impossvel compreender adequadamente uma instituio sem entender o processo histrico em que foi produzida. (Berger e Luckmann, 1966, 2000:79-80)
Da historicidade derivam duas outras qualidades, igualmente essenciais, das instituies: sua coercitividade e sua necessidade de legitimao. O carter coercitivo explica-se pelo fato de que, ao estabelecer um padro de conduta, a instituio canaliza as aes humanas em uma determinada direo, por oposio s muitas outras direes que seriam teoricamente possveis (op.cit.). Como a observncia do padro esperada pela sociedade, difcil esquivar-se dele:
Para o indivduo no fcil provocar mudanas deliberadas [numa determinada prtica institucionalizada]. Se depender exclusivamente dos seus esforos individuais, as possibilidades de xito num empreendimento desse tipo sero mnimas. (Berger e Berger, 1977:197)
Por isso, a insero em um ambiente institucionalizado sempre
acarreta certa perda de autonomia para as pessoas envolvidas, que precisam respeitar as regras do jogo para serem aceitas pela sua categoria.
Por outro lado, para se firmar em uma sociedade de forma duradoura, uma instituio necessita tambm de mecanismos de legitimao, que constituem modos pelos quais a instituio pode ser explicada e justificada (Berger e Luckmann, 1966, 2000) s novas geraes.
Como os socilogos ressaltam, a legitimao costuma ser transmitida como conhecimento socialmente objetivado, que produz um corpo de verdades universalmente vlidas sobre a realidade e que faz com que qualquer desvio radical da ordem institucional [tome] carter de um afastamento da realidade (op.cit:93).
No raro, contudo, que uma instituio, ao longo de sua existncia, precise ser reinterpretada para manter sua fora, desenvolvendo, com isso, novas formas de legitimao. No entanto, esse fenmeno no implica necessariamente uma mudana das caractersticas institucionais em si.
133
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
So essas trs qualidades - historicidade, coercitividade e necessidade de legitimao, apontadas por Bergere e Luckmann (1966) e aqui apenas brevemente resumidas, que serviro de base para a minha investigao acerca do carter institucional do ensino de lnguas estrangeiras mediado por livro didtico. Antes, porm, de entrar na anlise propriamente dita, gostaria de fazer algumas observaes sobre o tipo de livro didtico que irei considerar nas minhas reflexes subseqentes.
2. O livro didtico no ensino de lnguas estrangeiras
De acordo com Neuner (1999:160), um dos mais renomados autores de materiais para o ensino da lngua alem, um livro didtico cumpre diversas funes. Ele
- operacionaliza o currculo e define os objetivos do curso de
lnguas; - determina a progresso, ou seja, a escolha, o peso e a seqncia
dos contedos; - define os procedimentos didticos e os tipos de organizao social
na aula [...]; - regula o uso das diversas mdias (fitas, filmes etc.) durante a
aula; e - define a avaliao do progresso de aprendizagem dos alunos. -
Conforme o mesmo autor, nenhum outro fator influencia tanto os acontecimentos na sala de aula de lngua estrangeira. Essa avaliao confirmada em diversas pesquisas sobre o assunto feitas no Brasil.
Souza (1995a:114), por exemplo, alega que o LD constitui, tradicionalmente, o principal mediador no ensino promovido pela instituio-escola, ao passo que Coracini (1999:24) chega a identificar, at no ensino de lnguas no mediado por LD, a repetio das mesmas maneiras de proceder do livro didtico.
Por isso, sentencia a autora (1999:23), no usar o livro didtico no resolve o problema, j que sua organizao, os princpios que o norteiam, a imagem do aluno que veiculam j esto incorporados no professor.
H diferenas, no entanto, quanto provenincia do LD. No ensino da lngua alem, os materiais costumam ser elaborados, quase que exclusivamente, na Alemanha. Para outras lnguas, em especial o ingls, existe produo nacional. Neste trabalho, contudo, enfocarei mais a questo dos LDs internacionais, por ser o ensino do alemo a minha principal rea de atuao.
134
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
3. A historicidade do livro didtico
Os passos em direo institucionalizao propostos por Berger e Luckmann (1966) formao de hbitos, padronizao, passagem para uma outra gerao podem ser identificados, com certa facilidade, nos processos de elaborao de um LD.
Podemos imaginar um professor ou uma equipe de professores que, aps empregar repetidamente ( hbito) determinados contedos e/ou recursos didticos (textos impressos, materiais audiovisuais etc.) que se mostraram eficazes na sua experincia, comeam a fixar esses elementos em uma progresso ( padronizao), a qual, por meio de uma imprensa escolar, dar incio a uma apostila. Essa apostila, por sua vez, pode ser submetida a uma editora para ser comercializada como LD (cf., a esse respeito, Batista, 1999).
Em todos esses possveis desdobramentos na elaborao de um LD, a institucionalizao ocorre quando o material passa a ser utilizado por outros professores, ou seja, por uma nova gerao, que no participou diretamente da produo do LD.
Podem-se cogitar diversos nveis desse processo: em um primeiro momento, possvel imaginar que o material ser empregado em diversas turmas de uma mesma escola ou de uma rede de escolas e, por fim, ser comercializado e usado tambm em outros estabelecimentos de ensino.
Na histria do ensino da lngua alem encontramos um exemplo patente desse processo de institucionalizao do ensino mediado por LD. O primeiro LD nesse ramo a alcanar fama mundial foi o lendrio Schulz-Griesbach (Goethe-Institut, 2007).
Trata-se da obra Deutsche Sprachlehre fr Auslnder (1955), elaborada pelos professores do Instituto Goethe Dora Schulz e Heinz Griesbach, com o objetivo de atender a grande demanda por cursos de lngua alem, que se iniciou nos anos 1950 (Partheymller e Rodi, 1995).
O livro logo passou a ser empregado em larga escala nos Institutos Goethe recm abertos na poca, tanto na Alemanha quanto no exterior, e rapidamente tornou-se uma referncia tambm em outros contextos de ensino da lngua alem ao redor do mundo.
Os motivos do sucesso desse LD no cenrio da didtica das lnguas nos anos 1950/60 sero analisados de forma mais pormenorizada na seo 5 deste artigo. Por ora, vale refletir um pouco sobre o impacto que tamanha difuso de um LD e, com isso, a institucionalizao da
135
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
prtica de empregar esse tipo de materiais em sala de aula, exerce sobre um professor de lngua.
Para o professor, o LD simplesmente existe, uma realidade com a qual precisa se arranjar para poder progredir na sua carreira docente. Devido grande aceitao do ensino mediado por LD, esse professor no pode simplesmente ensinar de outra maneira, desconsiderando esse recurso, sob perigo de ser tachado de irrealista e, portanto, mau profissional. Esse fato leva diretamente segunda qualidade essencial de uma instituio: a coercitividade, que ser discutida a seguir. 4. A coercitividade do livro didtico
Pode-se verificar a coercitividade do LD em diversas instncias. Para comear, vale citar o papel dos estabelecimentos de ensino que, muitas vezes, exigem dos professores o uso de determinado livro nas suas aulas, no intuito de padronizar a grade curricular e, talvez, ter um meio para controlar a atuao de seus docentes.
Como lembra Prabhu (1988), o LD chega a funcionar como uma espcie de garantia de qualidade do ensino, no sentido de assegurar o bom andamento das aulas mesmo em situaes adversas, como no caso em que o curso ministrado por um professor inexperiente. Alm disso, no raro testemunhar que o LD usado como recurso para treinar professores novos que iniciam suas atividades em determinada instituio de ensino (cf. Richards, s/d).
Em segundo lugar, as editoras costumam exercer certa presso sobre professores e escolas a fim de induzi-los a comprar suas mercadorias.
Neuner (1998), por exemplo, explica que muito importante para uma editora da rea dispor, na sua paleta de produtos, de um LD para o ensino em nvel bsico, uma vez que esse serve como uma espcie de ncora para outros produtos, tais como materiais suplementares, paradidticos e LDs de nvel intermedirio, que podem ser vinculados ao LD de base.
Ademais, segundo Souza (1999), as editoras agem de forma drstica para manter determinados padres nos LDs em termos de contedo e forma de apresentao mais suscetveis a fazerem sucesso no mercado.
Finalmente, no se pode esquecer que tambm os alunos, na maioria das vezes, esperam do professor o uso de um LD. Numa lgica parecida dos estabelecimentos de ensino, os aprendizes costumam enxergar o LD como um termmetro indicativo da eficincia do professor (Souza, 1995b:122), no deixando, para este, outra sada
136
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
seno cumprir o programa do livro para evitar frustraes no aluno e prestar contas de seu trabalho enquanto professor. 5. Formas de legitimao do livro didtico
Afirmei anteriormente que, de acordo com Berger e Luckmann (1966), uma instituio precisa dispor de um mecanismo de legitimao, a fim de garantir sua estabilidade.
A forma de legitimao pode mudar ao longo do tempo, sem que isso acarrete, necessariamente, modificaes na prpria instituio. Olhando para a histria recente do livro didtico, em especial a histria do LD de lngua alem, parece-me ter ocorrido, nessa rea, um processo de reinterpretao de suas bases legitimadoras, tal como foi apontado por Berger e Luckmann (1966).
Nas dcadas de 1950 e 1960, o paradigma vigente na didtica de lnguas era o behaviorismo. Essa teoria concebia o ser humano como sendo governado essencialmente por estmulos externos. A aprendizagem de lnguas era vista como um processo de imitao e repetio mecnica de palavras e frases descontextualizadas.
Acreditava-se na instruo programada, e o papel do professor consistia em executar programas de ensino elaborados por outra instncia, de acordo com padres cientficos considerados, na poca, como generalizveis e aplicveis a qualquer situao.
Nesse cenrio, a adoo de um LD em larga escala fazia todo sentido e a grande difuso do Deutsche Sprachlehre fr Auslnder de Schulz e Griesbach (1955) e de seu sucessor Deutsch als Fremdsprache (Braun, Nieder e Schme, 1967), igualmente escrito por professores do Instituto Goethe, estava em consonncia com esse paradigma comportamentalista.
A partir dos anos 1970, no entanto, os fundamentos tericos da didtica de lnguas comearam a ser questionados. No campo das teorias de aprendizagem, o behaviorismo foi alvo de muitas crticas, at ser, finalmente, abandonado em favor de modelos humanistas (como, por exemplo, a autonomia do aprendiz) e cognitivos (como, por exemplo, o conceito de language awareness) de aprendizagem. No ensino da lngua alem, no final da dcada de 1990, muitas dessas tendncias so integradas sob um novo paradigma: o construtivismo.
Nessa teoria, entende-se a aprendizagem de lnguas como um processo altamente individual e autnomo, sendo, por isso, difcil de se prever. Em conseqncia disso, o professor deve criar um ambiente rico de aprendizagem, sem reduzir ou sistematizar demais os contedos (cf.
137
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
Wolff, 1997), para proporcionar aos alunos um leque amplo de possibilidades de aprendizagem.
fcil ver que o construtivismo ope-se diametralmente configurao convencional dos LDs que contm uma progresso nica, baseada em contedos previamente selecionados e seqenciados.
Segundo Wolff (2002), um dos principais defensores do paradigma construtivista na Alemanha, contraproducente deixar os LDs governarem o ensino de lnguas. Em vez disso, as aulas devem ser organizadas em forma de projetos e se apoiarem em materiais diversificados.
Percebe-se, nessa nova concepo de ensino/aprendizagem, que a legitimao original do LD tornou-se inconsistente. Se na era do behaviorismo, a aplicao, em larga escala, de determinado programa de ensino, estava em plena consonncia com os preceitos tericos que embasavam a prtica docente, o paradigma atual volta-se contra o uso generalizado de LDs. A instituio do ensino de lnguas mediado por LD necessita, portanto, de uma nova forma de legitimao para se manter estvel.
Em quais argumentos apia-se, ento, o uso de LDs atualmente? Uma mesa redonda sobre materiais didticos, por ocasio do I Congresso Latino-americano de Professores de Alemo, em julho de 2006 na USP, mostrou que a prtica de ensinar com LD justificada, muitas vezes, pelas difceis condies de trabalho do professor, o qual, devido sua elevada carga horria, no teria tempo para preparar as aulas se no contasse com o apoio do LD.
Alm disso, alegou-se tambm a prpria competncia do professor, que simplesmente no seria capaz de lecionar sem LD, sem correr o risco de apresentar um ensino desestruturado e ineficiente. O LD tambm foi considerado uma grande ajuda para os alunos na hora de revisar as aulas em casa.
Finalmente, foram levantadas questes operacionais, como a necessidade de poder comparar o rendimento das turmas, dentro de uma instituio de ensino, para corroborar a importncia do LD. Em suma, os argumentos articulados na mesa redonda para defender o uso do LD foram de cunho predominantemente prtico e desconsideraram aspectos tericos relacionados concepo de aprendizagem.
Constata-se, portanto, uma mudana acentuada na legitimao do LD no ensino da lngua alem, passando de uma justificativa terica, ligada ao paradigma behaviorista, a motivaes de ordem prtica e operacional.
interessante observar que, nesse cenrio, o paradigma terico vigente, o construtivismo, justamente critica o uso exaustivo de LDs,
138
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
causando, dessa maneira, um conflito notvel entre a prtica de ensino e seu embasamento terico. Consideraes finais
Nessa situao contraditria, vale indagar sobre o futuro do LD no ensino de lnguas. De acordo com Weininger (2001), o formato convencional do LD um modelo em extino, uma espcie de fssil que data de uma poca passada e que ser substitudo, paulatinamente, por materiais didticos diversificados, disponibilizados online.
Na perspectiva que a leitura de Berger e Luckmann (1966) abre, contudo, o prognstico pode no ser to otimista. Os socilogos alertam que o modo de legitimao institucional canaliza o conhecimento, definindo, com isso, no apenas o conhecimento socialmente disponvel em um determinado momento, mas tambm o tipo de conhecimento que poder vir a ser formulado no futuro (Berger e Luckmann, 1966/2000).
Com base nesse raciocnio, mister enfocar mais uma vez a qualificao do professor de lngua. Este, por no estar acostumado a lecionar sem LD, realmente pode no saber como ensinar sem esse recurso, como foi levantado na mesa redonda que relatei. Alm disso, h de se supor que muitos estabelecimentos de ensino tambm no estejam preparados para organizar sua estrutura curricular sem o apoio do LD, pelo simples fato de no possurem experincia nesse sentido.
Deparamos-nos dessa forma, com um efeito importante do processo de institucionalizao: o emprego do LD perpetuado pela sua dinmica prpria como prtica institucionalizada, fazendo com que sua nova legitimao, apoiando-se em argumentos prticos e operacionais, aparente ser realmente bvia e certa.
Isso porque boa parte das competncias do professor e tambm o know-how dos estabelecimentos de ensino so moldados pelo seu emprego. Ora, a nfase no ensino com LD prejudica o desenvolvimento de outras competncias, como a elaborao de projetos temticos e de materiais alternativos, menos necessrias quando se leciona com LD.
assim que a realidade do ensino de lnguas est sendo construda e consolidada, fazendo com que o dispositivo do LD convencional torne-se um elemento quase que indispensvel, apesar das crticas formuladas nas atuais teorias de aprendizagem. Nesse cenrio, muito provvel que os LDs nos acompanhem por bastante tempo ainda.
139
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS BATISTA, A. A. G. Um objeto varivel e instvel: textos, impressos e livros didticos. In: M. Abreu (org.). Leitura, histria e histria da leitura. Campinas: Mercado de Letras, 529-575, 1999. BERGER, P. L.; BERGER, B. O que uma instituio social? In: M. M. Foracchi/J. Martins (orgs.). Sociologia e sociedade. Leituras de introduo sociologia. Rio de Janeiro: Livros tcnicos e cientficos, 193-199, 1977. BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. [1966]. A construo social da realidade. 19. ed. Petrpolis: Vozes, 2000. BRAUN, K./NIEDER, L./SCHME, F. [1967]. Deutsch als Fremdsprache. Munique: Klett, 2000. CORACINI, M. J. O livro didtico nos discursos da Lingstica Aplicada e da sala de aula. In: _____ (org.). Interpretao, autoria e legitimao do livro didtico. Campinas: Pontes, 17-26, 1999. GOETHE-INSTITUT. Zur Geschichte des Goethe-Instituts, s/d. Texto disponvel na URL http://www.goethe.de/uun/ges/deindex.htm, acesso em 20/04/2007. NEUNER, G. Lehrmaterialforschung und entwicklung Zentrale Bereiche der Theorie und Praxis des Fremdsprachenunterrichts. In: K. Bausch/H. Christ/F. Knigs/H. Krumm (orgs.). Die Erforschung von Lehr- und Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Tbingen: Narr, 158-167, 1999. NEUNER, S. Die Qual der Wahl. Neue Lehrwerke fr den Grundstufenunterricht bei deutschen Verlagen. Deutsch als Fremdsprache, 35/3: 172-178, 1998. PARTHEYMLLER, D.; RODI, M. Grundzge der methodisch-didaktischen Entwicklungen am Goethe-Institut. Zielsprache Deutsch, 26/3: 148-155, 1995. PRABHU, N.S. Materials as support, materials as constraint. Singapore: RELC Seminar (mimeo), 1988. RICHARDS, J. C. The role of textbooks in a language program, s/d. Artigo disponvel na URL http://www.professorjackrichards.com/pdfs/ role-of-textbooks.pdf, acesso em 26/04/2007. SCHROTH-WIECHERT, S. Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht ohne Lehrwerk fr heterogene LernerInnengruppen im Zielsprachenland unter besonderer Bercksichtigung des interkulturellen Ansatzes. Frankfurt/Main: Lang, 2001. SCHULZ, D.; GRIESBACH, H. [1955]. Deutsche Sprachlehre fr Auslnder. Ismaning: Hueber, 2001.
140
-
UPHOFF, D. O Carter Institucional do Uso do Livro Didtico no Ensino de Lngua Estrangeira. Revista
Intercmbio, volume XVII: 131-141, 2008. So Paulo: LAEL/PUC-SP. ISSN 1806-275x
SOUZA, D. M. Autoridade, autoria e livro didtico. In: M. J. Coracini (org.) Interpretao, autoria e legitimao do livro didtico. Campinas: Pontes, 27-31, 1999. _____. Do monumento ao documento. In: M. J. Coracini (org.). O jogo discursivo na aula de leitura. Lngua materna e lngua estrangeira. Campinas: Pontes, 113-117, 1995a. _____. E o livro no anda, professor? In: M. J. Coracini (org.). O jogo discursivo na aula de leitura. Lngua materna e lngua estrangeira. Campinas: Pontes, 119-122, 1995b. WEININGER, M. J. Do aqurio em direo ao mar aberto. Mudanas no papel do professor e do aluno. In: V. Leffa (org.). O professor de lnguas estrangeiras. Construindo a profisso. Pelotas: Educat, 41-68, 2001. WOLFF, D. Fremdsprachenlernen als Konstruktion. Einige Anmerkungen zu einem viel diskutierten neuen Ansatz in der Fremdsprachendidaktik. Babylonia, vol. 4, 2002. Artigo disponvel na URL http://babylonia-ti.ch/BABY402/woolfde.htm, acesso em 20/04/2007. _____. Instruktivismus vs. Konstruktivismus: Zwanzig Thesen zur Lernbarkeit und Lehrbarkeit von Sprachen. In: M. Mller-Verweyen (org.). Neues Lernen selbstgesteuert autonom. Munique: Goethe-Institut, 45-52, 1997. Artigo disponvel na URL http://ourworld.compuserve.com/homepages/michaelwendt/Seiten/Wolf.htm, acesso em 21/04/2007.
Recebido em setembro de 2007 Aprovado em fevereiro 2008
141