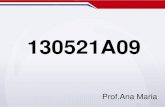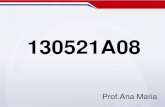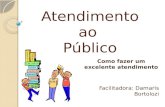XAVIER, Libania Nacif Publico e Privado Na Educacao Brasileira
-
Upload
renata-carvalho -
Category
Documents
-
view
217 -
download
5
description
Transcript of XAVIER, Libania Nacif Publico e Privado Na Educacao Brasileira
-
Oscilaes do pblico e do privadona histria da educao brasileira
Libnia Nacif Xavier*
O artigo apresenta uma interpretao acerca dos limites, da interao e dos conflitos estabe-lecidos entre o pblico e o privado ao longo do processo de institucionalizao da educa-o no Brasil.HISTRIA DA EDUCAO BRASILEIRA; EDUCAO PBLICA; POLTICAEDUCACIONAL.
The is article presents an interpretation of the limits, the integration and the conflicts esta-blished between public and private sectors along the history of institutionaliazed educationin Brazil.HISTORY OF BRAZILIAN EDUCATION; PUBLIC EDUCATION; EDUCATIONALPOLICY.
* Libnia Nacif Xavier doutora em educao brasileira (PUC-Rio). Vinculao insti-tucional: Faculdade de Educao; Programa de Estudos Educao e Sociedade PROEDES/UFRJ. E-mail: [email protected], [email protected].
-
234 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
Em grande parte dos estudos que abordam a relao entre o pblicoe o privado na educao brasileira destacam-se as questes pertinentes construo da nacionalidade e sua articulao com a organizao de sis-temas formais de ensino no Brasil, particularmente no mbito da aoestatal (Buffa, 1979; Cury, 1988 e 1992; Vieira, 1998; Pinheiro, 1996;Cunha, 1985). Nesses estudos, a identificao dos conceitos de pblicoe de privado remete-se, via de regra, aos processos de construo e/oureestruturao do Estado Nacional, centrando foco na operao de nor-matizao legal da educao, com destaque para a anlise dos debatesque acompanharam a elaborao da legislao especfica para a educa-o, incluindo-se a observao da mobilizao social a elas relacionadase, tambm, a anlise dos prprios documentos legais como as constitui-es e as chamadas Leis de Diretrizes e Bases da Educao Nacional.
O ensaio que ora apresentamos adota a mesma perspectiva de anli-se, ou seja, parte do princpio de que a construo do pblico na educa-o brasileira encontra-se relacionada organizao do Estado e, parti-cularmente, s formas de interveno estatal no processo de estruturaoe generalizao das instituies destinadas a promover a educao dopovo. Acreditamos que a observao de alguns aspectos da vida social edo debate intelectual, ao lado dos estudo das orientaes polticas ado-tadas no mbito da educao, nos permitir perceber em que medida asoscilaes entre o pblico e o privado atuaram como elementos defini-dores das diferentes configuraes que o campo educacional foi assu-mindo ao longo da histria1.
Centrando foco no processo de institucionalizao da educao emnosso pas2, podemos perceber que as fronteiras entre o pblico e o pri-
1 Empregamos a noo de campo educacional como um sistema de linhas de forasno qual os agentes que nele transitam se opem e se agregam, mobilizando aes erealizaes especficas, de acordo com suas concepes e interesses, conferindo-lhe uma estrutura prpria. Quando a movimentao dos agentes e grupos em lutaoutorga a uma das partes o exerccio da hegemonia, pode ocorrer um rearranjo narede de relaes j estabelecidas no interior do campo, redefinindo-se posiesadquiridas em lutas anteriores, o que provocar alteraes na prpria configura-o do campo educacional. Ver a respeito: Bourdieu (1969).
2 Entendemos por institucionalizao o processo por meio do qual se formampadres estveis de interao e organizao social baseados em comporta-
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 235
vado nem sempre exibiram a nitidez que hoje apresentam. Nesse as-pecto, uma abordagem de longo prazo pode propiciar uma viso geral arespeito das inflexes ocorridas no prprio processo de constituio dasnoes de pblico e privado no mbito da educao. nesse ponto quereside o objetivo central do presente trabalho, apresentar uma interpre-tao, ainda que provisria, acerca da relao pblico-privado na edu-cao brasileira em contextos histricos diferenciados.
Pretendemos traar um quadro panormico que destacando as re-laes entre Estado, educao e sociedade nos permita perceber ainterao de indivduos e grupos mobilizados em torno de interessespolticos, sociais e econmicos em nome dos quais foram formuladasestratgias de potencializao dos benefcios advindos da universa-lizao da educao escolar, seja no que tange consolidao do poderdo Estado, seja na busca por ascenso na hierarquia social ou, ainda, noembate poltico que permeou as disputas entre diferentes propostas deorganizao do ensino no pas. Por fim, registramos a tendncia retrao das funes sociais do Estado, sugerindo alguns possveis des-dobramentos dessa tendncia no mbito da educao e da vida socialnos dias atuais.
Educao domstica e aulas pblicas: uma tnuefronteira
Como sabemos, a formao da sociedade brasileira sofreu forte in-fluncia do Estado portugus e da Igreja catlica. Enquanto o primeiroatuou fundamentalmente no sentido de organizar a economia e a adminis-trao, preocupado que estava em impulsionar atividades que garantissema explorao das terras do Novo Mundo, a Igreja, por meio da Companhiade Jesus, desempenhou o papel de agente educacional e cultural da colo-nizao. Fernando de Azevedo (1942) destacou o papel civilizador dosjesutas, responsveis pela unificao lingstica, religiosa e cultural na
mentos, normas e valores formalizados e legitimados. Ver a respeito: Weber(1996).
-
236 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
Amrica Portuguesa, fatores decisivos, segundo o autor, para a constru-o da identidade nacional brasileira nos sculos XIX e XX.
Em Sobrados e mocambos, Gilberto Freyre (1977, p. 76), destacou aao integradora que os jesutas exerceram na sociedade brasileira, parti-cularmente no sculo XVIII, um perodo marcado pela tendncia paraexcessos, rebeldias e desmandos e para a preponderncia dos interesses defamlia sobre os gerais. De acordo com Freyre, apenas a autoridade reli-giosa legitimada pela ao cultural desempenhada pelos jesutas foracapaz de fazer sombra ao exerccio do poder pessoal dos grandes senho-res. Atuando na formao das elites coloniais, os seminrios e colgiosjesuticos foram, na viso do autor, um elemento sobre o qual desenvol-veu-se, em meio aos alunos, um certo gosto de disciplina, de ordem e deuniversalidade. Nessa linha, a ao pedaggica exercida pelos jesutasassocia-se ao mundo urbano, em oposio ao mundo rural e patriarcal,estando ligada a valores universais, no sentido da cultura clssica europiae ao gosto da ordem e da disciplina, contidas na doutrina catlica.
Aps a expulso da Ordem dos Jesutas da Colnia, na segunda me-tade do sculo XVIII, o Estado Portugus assumiu a responsabilidadesobre a instruo escolar no Brasil, cobrando um imposto, o subsdio lite-rrio, e introduzindo as Aulas Rgias ou Aulas Pblicas3. No sculo XIX,a transferncia da corte portuguesa para o Rio de Janeiro impulsionou odesenvolvimento de pesquisas cientficas e a abertura de instituies deensino. A deciso do Estado metropolitano em promover na colnia oensino das primeiras letras foi efetivada por meio de aulas avulsas, em umprocesso pedaggico marcado pela fragmentao. Diversos estudos(Villalta, 1997; Faria Filho, 2000; Gomes, 2002) destacam a insuficinciados recursos oramentrios destinados a custear a educao pblica, ha-vendo atrasos no pagamento dos mestres. Em determinadas ocasies, aCoroa chegou mesmo a delegar aos pais a responsabilidade pelo paga-mento dos mestres, o que mostra como a educao, tornada pblica pelalei, esteve, em grande parte, circunscrita ao mbito da vida familiar.
3 Sobre o assunto, ver o artigo de Cardoso, A construo da escola pblica no Riode Janeiro imperial, publicado neste dossi.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 237
Mesmo aps a Independncia, a situao educacional no se modi-ficaria em essncia. Certamente, no projeto poltico das elites imperiais,o espao para a organizao de um sistema pblico de ensino encontra-va-se limitado em virtude da prpria organizao social vigente, marcadapela superposio de uma reduzida elite proprietria de terras, a quemestava reservado o direito instruo, e uma massa de escravos, homenslivres pobres, mestios e pequenos comerciantes e prestadores de servi-os, desprovidos do estatuto de cidadania. Configurava-se um pas decarter agrrio, onde as elites ministravam o ensino privado, considera-do desnecessrio para a (e pela) populao pobre.
As cartas escritas por uma jovem professora alem que veio trabalharno Brasil, nos anos finais do Imprio (Binzer, 1982), revelam que aindano final do sculo XIX, apesar da existncia de algumas escolas pbli-cas nos principais centros urbanos do pas, a educao dos filhos das fa-mlias patriarcais era feita no interior das casas-grandes, com a orientaode professoras, geralmente estrangeiras (preferencialmente francesas oualems) contratadas e sustentadas pelas prprias famlias. Percebe-se, as-sim, que a educao domstica no Brasil Imperial era privilgio das eli-tes econmicas e tinha como funo primordial garantir a seus filhos aaquisio de uma cultura ornamental, permeada por smbolos de distin-o do status social de seus usurios, expressos na busca de apreensode habilidades e conhecimentos tpicos de certos hbitos das elites euro-pias, como, por exemplo, o aprendizado da msica (em particular dopiano) e das lnguas estrangeiras (em especial a francesa) em um ritmode horrios rigorosos que a professora alem descreveu como um af deengolir a cultura (europia) s colheradas (ver Carmen & Xavier, 2000).
Angela Castro Gomes (2002) nos lembra que a forte presena dos pre-ceptores, na virada do sculo XIX para o XX, encontra-se ligada exis-tncia de uma extensa rede de escolarizao domstica que chegou aultrapassar a rede de escolas pblicas, fossem elas imperiais ou republi-canas. Essa rede domstica podia incluir professores pagos por um chefede famlia ou por um grupo de pais, ou ainda o professor podia ser pagopelo Estado mas permanecer trabalhando em locais improvisados, comoa casa de uma das famlias contratantes ou a casa do prprio professor.Observa-se que mesmo a educao ministrada pelo Estado apresenta um
-
238 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
carter restrito, seja por permanecer limitada a um grupo privilegiado, sejapor no contar, ainda, com um espao prprio para seu funcionamento,efetivando-se no mbito domstico. Nessa poca, os colgios confessio-nais, masculinos e femininos, constituam as maiores excees no que dizrespeito existncia de um local especfico para a educao. A autoraregistra, ainda, a existncia de escolas criadas em colnias estrangeiras,localizadas no sul do pas, onde o ensino se fazia na lngua do grupo t-nico, que podia mandar vir um professor de seu pas de origem, buscan-do conservar e transmitir seus costumes e valores.
No que tange compreenso da ao estatal sobre a educao brasi-leira no perodo imperial, Luciano Mendes de Faria Filho (2000) assi-nala a importncia de se relativizar o papel e o lugar ocupado peloEstado, assim como a prpria legitimidade social da escola, naquelecontexto. A despeito da pulverizao das aes do Estado, associada insuficincia de investimentos na educao e carncia de professores,manuais e livros sugeridos pelos novos mtodos que circulavam nospases europeus, a discusso em torno das formas mais adequadas delevar a instruo s camadas inferiores da sociedade se fez presente nointenso debate parlamentar que marcou o perodo. Como demonstrou oautor, ao lado da normatizao legal, que foi o ponto forte da ao esta-tal no mbito da educao, as discusses propriamente pedaggicaspromoveram, paulatinamente, a definio de espaos especficos, equi-pados com materiais adequados educao de um grupo mais amplo dealunos. Isso vai exigir uma organizao particular do espao fsico, dedistribuio do grupo de alunos nesse espao e do tempo destinado satividades de ensino, sem falar na definio dos contedos que deve-riam figurar no currculo e na escolha dos mtodos pedaggicos consi-derados como os mais adequados.
O processo de especializao da atividade educativa, assim como aconfigurao fsica do espao da escola pblica, tornou-se visvel comas primeiras construes pblicas destinadas educao primria: oschamados grupos escolares. Com eles, reafirmaram-se os contornos doefetivo controle do Estado sobre a educao do povo, demarcando-se ovalor social da educao escolar e o sentido mais aproximado do que seentende, hoje, como educao pblica-estatal.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 239
Educao pblica-estatal e ensino privado particular:os termos da oposio
A generalizao dos grupos escolares pelo territrio nacional forne-ceu as bases materiais e simblicas do projeto republicano de moderni-zao do pas pela educao do povo. Nesse projeto, destacaram-se oseducadores conhecidos como os Pioneiros da Educao Nova4. Eles fo-ram responsveis por um conjunto de formulaes, crticas e propostasde organizao relativas ao ensino pblico brasileiro que constituemum ponto de partida crucial para se entender a relao entre educao,Estado e sociedade no Brasil republicano.
Contra as correntes nacionalistas favorveis a uma maior soma depoderes Unio, os Pioneiros defenderam a organizao de um sistemanacional de ensino, unificado, porm, pautado na descentralizao ad-ministrativa. Isso porque, ao mesmo tempo em que confiavam na aoagregadora de um Estado que deveria definir-se como encarnao dointeresse pblico, eles no deixavam de considerar as possibilidadescriadoras resultantes da articulao entre a escola e as realidades locaise regionais. Dessa forma, reafirmavam os ideais republicanos, federa-listas e democrticos contra os quais opunha-se o poder das oligarquiasagrrias, os interesses universais da Igreja catlica e os anseios dos na-cionalistas conservadores.
No Manifesto de 1932, eles apresentaram ao povo e ao governo, oseu projeto pedaggico. Nesse documento, eles criticam a subordinaoda educao brasileira a interesses poltico-partidrios, bem como con-denam a interferncia da Igreja catlica nas questes ligadas ao ensino.Apresentando solues ao que criticavam, os pioneiros conclamam oEstado a viabilizar, por meio da ao de grupos de comprovada compe-tncia tcnica, a transformao da educao em uma funo social epblica. Dessa forma, eles pretendiam inaugurar um processo de espe-
4 Estamos nos referindo ao grupo de intelectuais que assinaram o Manifesto dosPioneiros da Educao Nova, em 1932, por meio do qual apresentaram ao povo eao governo as bases para a organizao do ensino pblico, universal, leigo e gratui-to. Ver a respeito: Xavier (2002).
-
240 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
cializao e autonomizao do campo educacional, com base na con-vico de que a secularizao da cultura associada busca da autono-mia do sujeito privado suplantariam o enfraquecimento do papel socialda famlia, promovendo uma ruptura entre poder poltico e religio, con-tribuindo assim para o afrouxamento dos laos de dependncia que pren-diam as instituies educacionais s rbitas domstica e religiosa.
Nessa linha, a educao deixa de ser considerada tarefa primordialda famlia que, a partir de ento, passa a ser vista como coadjuvante datarefa educacional juntamente com a instituio escolar e o Estado. Des-crevendo as instituies e os grupos sociais da Primeira Repblica comoelementos desarticulados, isolados do meio social, confinados a seto-res isolados, o Manifesto de 1932 refuta o controle da educao brasilei-ra pela Igreja catlica, defendendo a idia de que, nas sociedades mo-dernas, a educao devia ser entendida como um setor e um servio denatureza pblica e, portanto, precisava ser assumida como tarefa pri-mordial do Estado. Da a necessidade de articulao da escola com aesfera poltica (representada pelo Estado) e a demarcao do sentido doque se defendia como educao pblica.
A defesa do ensino pblico, gratuito e laico desencadeou um confli-to inevitvel com os intelectuais ligados Igreja catlica. Assim, os pio-neiros foram acusados de comunistas pelos catlicos, por defenderem aeducao pblica estatal, identificada pelos intelectuais catlicos com adefesa do monoplio do Estado sobre a educao. No calor desse emba-te, Alceu Amoroso Lima (1932, p. 319) advertia que a defesa da laicizaodo ensino expressava o desprezo pela tradio catlica do povo brasileiro,o que lhe permitia tachar os Pioneiros de desnacionalizadores e decris-tianizadores da infncia brasileira5.
Diante da fora desses argumentos, os Pioneiros adotariam na Consti-tuinte de 1934 a estratgia de evitar o confronto direto com a Igreja ca-tlica, a fim de garantir avanos em outras reas relevantes para o proje-to educacional que defendiam. Nesse quadro, o Estado mediaria com os
5 Sobre o debate educacional nos anos de 1920-1930 ver o artigo de Magaldi, Aquem cabe educar? Notas sobre as relaes entre a esfera pblica e a privada nosdebates educacionais dos anos de 1920-1930, publicado neste dossi.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 241
dois grupos em contenda, aprovando o ensino religioso nas escolas pbli-cas. Diante desse fato, os Pioneiros voltaram-se para a definio das atri-buies do Estado relativas educao, retomando a defesa da descen-tralizao da administrao do ensino. Favorveis fixao de diretrizesgerais de ensino pela Unio, alm de uma ao supletiva quando neces-srio, os pioneiros tambm pontuaram a importncia de se promover aracionalizao do sistema pblico de ensino, propondo, para isso, a for-mulao de polticas para o setor com base na apreciao de inquritos,demonstraes e subvenes. De acordo com Rocha (1996, p. 127), aequiparao entre escolas pblicas e particulares, pela oficializao eequivalncia de ambas, aliada ao rompimento com o exame oficial paraingresso no ensino superior, abolida no texto constitucional, abririamum canal direto de comunicao entre os representantes das escolas par-ticulares e o Estado, acentuando, posteriormente, a disputa entre inte-resses privados e interesses pblicos, particularmente no que tange definio dos critrios de distribuio de verbas estatais. Como observouo autor, nesse caso, a dimenso pblica ficou restrita, no ensino secund-rio, s funes de regulamentao e fiscalizao, contrariamente von-tade dos pioneiros que a queriam mais fundamentalmente financeira etcnica.
Equilbrio aparente, embate e parceria: publicistas,privatistas e o terceiro setor
Durante o Estado Novo, a longa gesto do ministro Gustavo Capa-nema (1937-1945) foi responsvel pela organizao do MEC segundo ummodelo altamente centralizador. Como demonstrou Schwartzman (1985),o apoio que ele deu a grupos de intelectuais, especialmente arquitetos eartistas plsticos, de orientao moderna cercou sua administrao deuma imagem de modernizao da esfera educacional, ao mesmo tempoem que atrelava certas decises da alada do Ministrio da Educao aossetores mais tradicionais da Igreja catlica. A acomodao entre Igreja eEstado fez com que perdesse muito de sua nitidez o confronto entre os de-fensores do ensino privado e confessional e os defensores do ensino p-
-
242 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
blico, universal, leigo e gratuito, produzindo-se um aparente equilbrioentre os dois grupos. No perodo, a presena do Estado na educao efeti-vou-se por meio da extrema centralizao administrativa e decisria epelo cerceamento a qualquer tipo de inovao ou manifestao de plura-lismo, incluindo-se o esforo de nacionalizao da educao com o fecha-mento das escolas de colnias imigrantes no sul do pas.
O fim do regime ditatorial, em 1945, reverteu a situao anteriormen-te descrita, recolocando na cena poltica a disputa entre os representan-tes dos interesses da Igreja catlica, apoiado pelo j constitudo grupo dosempresrios de escolas particulares e os intelectuais empenhados nauniversalizao da educao pblica. O retorno da vida democrticaevidenciou a necessidade de redefinio da legislao educacional.
O debate em torno da redao e aprovao da Lei de Diretrizes eBases da Educao Nacional (LDBEN), iniciado em 1948, priorizou asquestes relativas ao papel da Unio e dos estados na conduo da pol-tica de ensino, colocando em lados opostos os adeptos da centralizaorgida, do ponto de vista normativo e fiscal, e os autonomistas, que re-clamavam ampla liberdade de iniciativas para os poderes locais. Para osltimos, a Unio deveria apenas traar diretrizes gerais, deixando paraos estados a liberdade (ou responsabilidade) de adequar o ensino s pe-culiaridades locais mediante legislao supletiva complementar.
No centro da disputa estava a organizao do ensino secundrio eprofissional, para o qual os Pioneiros propunham a escola comum, nosmoldes da escola compreensiva americana, defendida por AnsioTeixeira. Esse modelo de escola pautava-se na integrao entre o interessecultural e o interesse prtico, constituindo, na viso de seus defensores,em uma escola adequada sociedade democrtica e s caractersticasprprias do estilo de vida urbano e industrial. Nesse modelo, a descen-tralizao administrativa e a autonomia financeira e tcnico-pedaggicaeram elementos essenciais.
Contra essa concepo, colocavam-se os adeptos da separao entreas preocupaes culturais e aquelas de cunho profissional, preservando-se no ensino secundrio o seu carter intelectual e humanstico, prpriopara a formao das elites dirigentes. A polmica em torno da incluso ouno do ensino do latim como disciplina obrigatria no currculo das es-
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 243
colas secundrias uma demonstrao da forma pela qual se deu a dis-puta entre vises opostas. Na verdade, a polmica girava em torno docarter que se queria dar ao ensino de nvel mdio: se democrtico ouelitista, se aberto ao pblico sem restries ou se restrito a um grupo pri-vilegiado.
Na disputa em torno do controle sobre a organizao do ensino,outra questo importante era: que grupo social ou instituio detm auto-ridade e legitimidade para interferir na educao das crianas? Em finsda dcada de 1950, a definio das funes da famlia, da Igreja e doEstado na esfera educacional constitui um dos eixos em torno do qual oconflito entre pblico e privado se desenvolveu.
A apresentao do substitutivo Lacerda, em fins de 1958, foi ummarco no processo de reformulao da legislao educacional. De acor-do com Villalobos (1969), a partir da apresentao do substitutivo Lacer-da, os problemas tcnico-pedaggicos passariam para o segundo planoe as presses dos interesses da iniciativa privada comeariam a dar si-nais de avanos, desencadeando vrias manifestaes em prol da edu-cao pblica, como a Campanha em Defesa da Escola Pblica e oManifesto Mais Uma Vez Convocados (1959).
Avaliando a organizao do sistema pblico de ensino, o Manifestode 1959 condena a ineficincia dos gestores de polticas pblicas ematender s demandas em relao ao ensino com base em critrios tcni-cos e apoiados no planejamento racional, deixando que ainda permane-cessem imperando os critrios de natureza poltica eleitoral. O objetivodo Manifesto era preservar a escola pblica, definida como um dos maispoderosos fatores de assimilao e de desenvolvimento das instituiesdemocrticas.
O debate educacional predominante no perodo ressaltou a situaode crise da educao pblica que, somada expectativa de ascenso so-cial, alimentou as constantes manifestaes sociais em prol de melhoriasno ensino e de ampliao das oportunidades escolares, particularmentedo ensino mdio e superior. Como observou Florestan Fernandes (1978,p. 42), a competio pelas oportunidades educacionais associava-se pre-servao de status e logo, abertura ou continuidade da participao dasclasses mdias nas estruturas de poder. De fato, as camadas mdias urba-
-
244 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
nas passaram a buscar o alcance de graus escolares cada vez mais eleva-dos a fim de ingressarem nas organizaes burocrticas e progredirem emsuas ocupaes, galgando nveis mais altos de remunerao, de prestgioe de poder.
Durante a segunda metade da dcada de 1940 e ao longo de toda adcada de 1950, o governo federal promoveu a incorporao de estabe-lecimentos privados de ensino superior, logrando ampliar o nmero devagas em universidades criadas por meio do processo de federalizao.De acordo com Cunha (1983, p. 37), tal processo interessava aos seto-res mdios nas categorias de professores, que se tornavam funcionriospblicos, e de estudantes, que passavam a receber ensino gratuito, o quejustificou as greves ocorridas no incio dos anos 1960, promovidas porestudantes de universidades e escolas isoladas.
Se as dcadas de 1950 e 1960 assistiram crescente manifestaodos interesses privados no mbito legislativo, no se pode negar que operodo tambm foi marcado pela exaltao da dimenso pblica daeducao. A educao passa a ser requerida como direito cvico, comomeio de ascenso social e, ainda, como instrumento indispensvel aodesenvolvimento econmico e, portanto, como requisito para o progressodo pas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (lei n. 4.024) san-cionada pelo presidente Joo Goulart, em 20 de dezembro de 1961 garantiu maior autonomia na medida em que permitiu a descentralizaoadministrativa e didtico-pedaggica das partes formadoras do sistemanacional de ensino. No entanto, no que tange distribuio de recursos,a LDB contemplou os interesses privados em detrimento dos interessespblicos pois, ao mesmo tempo em que definia que os recursos pblicosseriam aplicados preferencialmente na manuteno e desenvolvimentodo sistema pblico de ensino, a lei tambm previa a concesso de recur-sos aos estabelecimentos privados na forma de bolsas de estudos, bemcomo a cooperao financeira da Unio com estados, municpios e ainiciativa particular na forma de subveno e/ou assistncia tcnica efinanceira (Ver Saviani, 1998, p. 20).
O reconhecimento da educao pblica como direito de todos justi-ficou as possibilidades abertas pela concesso de bolsas de estudo me-
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 245
diante restituio regulamentada por lei, permitindo ao setor privado apossibilidade de expandir os negcios com o ensino, justificado peloentendimento de que esse setor estaria arcando com uma responsabili-dade que cabia ao setor pblico.
Como demonstrou Cunha (1980), a poltica educacional ps-1964 ca-racterizou-se por aes voltadas para a conteno das demandas de aces-so ao ensino superior. Nesse sentido, a Reforma Universitria de 1968procurou dar s universidades (as pblicas especialmente) uma organiza-o docente-administrativa que permitisse o aumento das matrculas acustos mdios menos que proporcionais s matrculas adicionais. Mas,para que a expanso das matrculas no ensino superior no fosse muitogrande, de modo a resultar em possvel desemprego de pessoal altamen-te escolarizado, nem pressionasse demais os oramentos governamentais,determinou-se a profissionalizao compulsria de todo o ensino mdio.Com isso, imaginava-se poder deslocar para o mercado de trabalho, su-postamente carente, uma parte crescente da demanda de candidatos aoensino superior. Por meio desse mecanismo, diferenciou-se o tipo deensino destinado aos alunos das escolas pblicas do ensino ministrado nasescolas privadas. Nestas escolas, onde estudavam os alunos oriundos dascamadas de mais alta renda, o ensino tendeu a ser profissional apenas naaparncia, voltando-se, de fato, para a preparao para os exames vesti-bulares.
O processo de Abertura Democrtica iniciado pelo presidente ErnestoGeisel (1974-1979) e continuado pelo sucessor Joo Batista Figueiredo(1979-1985), diante da presso dos movimentos sociais, resultou na pau-latina restaurao dos direitos democrticos. Esse processo se estendeuat maro de 1985, quando teve incio a Nova Repblica e determinou-se a convocao de uma Assemblia Nacional Constituinte. Durante oprocesso constituinte ficaram bastante caracterizadas as posies dosdiversos partidos em relao questo educacional. Pode-se agrupar,de um lado, os que defendiam a manuteno de dispositivos que visa-vam o fortalecimento da escola pblica e, de outro, aqueles que se colo-cavam contra a ingerncia do Estado nos estabelecimentos particulares.
No que tange s emendas populares encaminhadas Subcomissode Educao, Cultura e Desporto da Cmara dos Deputados, destaca-
-
246 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
ram-se as propostas do Frum Nacional de Educao na Constituinteem Defesa do Ensino Pblico e Gratuito (Frum)6. Entendendo a edu-cao pblica como rea prioritria da ao do Estado e, portanto umaatribuio do poder pblico, o Frum defendeu os seguintes princpiosgerais: ensino pblico, laico e gratuito em todos os nveis, sem discrimi-nao econmica, poltica ou religiosa; democratizao do acesso, per-manncia e gesto da educao; qualidade do ensino; e pluralismo deescolas pblicas e particulares. Quanto distribuio de recursos, a pro-posta do Frum foi de extino de iseno fiscal para as escolas particu-lares, deixando-as sujeitas s obrigaes tributrias pertinentes s em-presas privadas em geral. Contrariamente, a Federao Nacional dos Es-tabelecimentos de Ensino (FENEM) defendeu a concesso de bolsas deestudos pelas escolas particulares como forma de atender s demandasde empresas beneficiadas com o salrio-educao e, tambm, a imuni-dade tributria e fiscal. O argumento utilizado era de que as escolas par-ticulares, de maneira geral, prestavam um servio que demarcava o ca-rter pblico de sua funo. A FENEM defendeu, ainda, o ensino religiosocomo disciplina integrante do currculo das escolas oficiais. Visando di-ferenciar-se das demais escolas privadas, a Associao de EducaoCatlica do Brasil (AEC) conceituou trs tipos de escolas: a pblica es-tatal, a particular (que visa o lucro) e a comunitria, que por no visar olucro, identificava-se por sua funo pblica e por ser definida comoescola do povo. Percebe-se o desdobramento do conceito de pblicoem significados diversos, de acordo as estratgias mobilizadas pelosgrupos em disputa. Assim, trs concepes de pblico foram mobiliza-das no processo constituinte da dcada de 1980: o pblico mantido pelo
6 O Frum reuniu, numa proposta nica, reivindicaes das seguintes organizaes:Associao Nacional de Educao (ANDE), Associao Nacional de Docentes doEnsino Superior (ANDES), Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa emEducao (ANPED), Associao Nacional de Profissionais de Administrao daEducao (ANPAE), Centro de Estudos Educao e Sociedade (CEDES), Central Ge-ral dos Trabalhadores (CGT), Central nica dos Trabalhadores (CUT), Ordem dosAdvogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia(SBPC), Unio Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e Unio Nacionaldos Estudantes (UNE), entre outras.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 247
Estado, o pblico no estatal e o pblico como servio pblico (Pinhei-ro, 1996).
A apresentao de novo projeto da LDB pelo senador Darcy Ribei-ro, do Partido Democrtico Trabalhista (PDT/RJ), e sua rpida aprovaopela Comisso de Educao do Senado Federal, em fevereiro de 1993,dividiu os partidos e entidades que inicialmente aglutinaram-se em tor-no do projeto da Cmara e determinou o afastamento do PDT da mesa denegociaes. O projeto de Darcy Ribeiro estabelecia um novo eixoorientador, diferente do projeto gestado na Cmara, pois, apesar de reco-nhecer como dever do Estado a garantia de gratuidade da educao bsicae da educao de nvel mdio, a lei n. 9.394/96 considerou como obriga-trio e gratuito apenas o ensino fundamental. Ainda, a ao de DarcyRibeiro foi duramente criticada pelas entidades envolvidas na reformu-lao da legislao educacional, em razo de ele ter intercalado no proces-so decisrio sua proposta oriunda do Senado, desconsiderando a partici-pao desempenhada pelo Frum na formulao das diretrizes da polticaeducacional7.
O texto da LDB que ficou conhecido como Lei Darci Ribeiro foiaprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Fernando Henri-que Cardoso, em 20 de dezembro de 1996. A justificativa do governofoi que a LDB deveria ser uma lei do possvel, que pudesse ser cumpri-da com base nos recursos financeiros disponveis nos esquemas ora-mentrios convencionais. Alm disso, deveria ter flexibilidade suficientepara se adequar s diferentes situaes da educao nacional. (Jornaldo Brasil, 9/1/1997).
7 Observando-se o processo de tramitao da lei n. 9.394 (1996), sobressaem os esfor-os sistemticos do Frum na defesa da escola pblica de qualidade juntamente comparlamentares progressistas e em oposio aos grupos representados por parlamen-tares afinados a interesses privatistas. Em meio a uma situao de impasse, DarcyRibeiro apresentaria uma terceira via para soluo do problema, intercalando ante o avano dos setores descompromissados com a universalizao da educaopblica brasileira um projeto que, se no tinha a abrangncia do projeto do Frum,incorporava alguns dispositivos democratizantes, apesar no se enquadrar, nem delonge, na expresso conciliao aberta cunhada por Florestan Fernandes para des-crever a transparncia que permeou a fase inicial de negociao entre os grupos quedisputavam a aprovao de seus projetos de LDBEN na Cmara.
-
248 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
No mbito das diretrizes polticas gerais que orientaram a ao doEstado a partir dos anos 19808, verifica-se a proposio de um conjuntode reformas que incluiu a descentralizao administrativa e o estabele-cimento de novas formas de parceria entre os diferentes nveis de gover-no (Unio, estados e municpios) e, sobretudo, com entidades dasociedade civil organizada. Nessa ltima modalidade de parceria, asOrganizaes No-Governamentais (ONGs) vm preenchendo os va-zios deixados pela atuao estatal em reas de polticas sociais e deservios pblicos em geral. Transferindo recursos pblicos para as ONGs,o governo tambm transfere para elas a responsabilidade de suprir asdeficincias do Estado em reas como habitao, sade, educao, sa-neamento, infra-estrutura e alimentao.
Tal deslocamento tem alimentado o temor de que a transferncia deresponsabilidades antes assumidas como dever do Estado estimule acorrida por financiamentos e recursos federais e internacionais, refor-ando-se a tendncia privatizao dos servios pblicos. Porm, aspossibilidades abertas pela poltica de parcerias tambm podem ser en-caradas como potencial estmulo ampliao da participao de diver-sos setores sociais no processo de construo da democracia e da justiasocial com sentido universal.
A observao de algumas aes realizadas no mbito da sociedadecivil sinalizam a emergncia de diferentes redes de solidariedade9. Entreelas, as Organizaes No-Governamentais e outras formas associativasque buscam promover a escolarizao fundamental e garantir o acesso aoensino superior a grupos sociais marginalizados dos direitos bsicos decidadania constituem exemplos positivos das novas tendncias presen-
8 Sobre as diretrizes gerais da poltica educacional a partir dos anos 1980 ver o textode Bonamino, O pblico e o privado na educao brasileira a partir dos anos1980, publicado neste dossi.
9 No Rio de Janeiro, h vrias ONGs que visam proporcionar aos jovens o reforoem todas as disciplinas que so exigidas no exame para ingresso nas universidades,com vistas a democratizar o acesso ao ensino superior. Dentre estas, destacam-se oPr-vestibular para Negros e Carentes e o Centro de Estudos e Aes Solidrias daMar. Para maiores detalhes sobre o assunto, ver: Jalson Silva, Porque uns e nooutros?, Tese (doutorado) PUC-Rio, 1999.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 249
tes na relao entre Estado, educao e sociedade e das novas formas dearticulao entre o pblico e o privado na educao e na sociedade bra-sileira.
Referncias Bibliogrficas
AZEVEDO, Fernando de (1942). A cultura brasileira. 4. ed. So Paulo, Melhora-mentos.
BINZER, Ina Von (1982). Os meus romanos: alegrias e tristezas de uma educa-dora alem no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
BOURDIEU, Pierre (1969). Campo intelectual e projecto creador. In: BOURDIEU,Pierre. Problemas del estructuralismo. 3. ed. Mxico, Siglo Vientuno.
. (1989). O poder simblico. Lisboa, Difel.BUFFA, E. (1979). Ideologias em conflito: escola pblica e escola privada. So
Paulo, Cortez.
CARMEN, Ana & XAVIER, Libnia Nacif (2001). Multiculturalismo, memria ehistria da educao: reflexes a partir do olhar de uma educadora alemno Brasil Imperial. In: MIGNOT, Ana C. V.; BASTOS, M. H. C. & CUNHA, M.T. S. Refgios do eu: educao, histria, escrita autobiogrfica. Florian-polis, Editora Mulheres.
CUNHA, Luis Antonio (1980). Educao e desenvolvimento social no Brasil.Rio de Janeiro, Francisco Alves.
. (1983). A universidade crtica. Rio de Janeiro, Civilizao Bra-sileira.
. (coord.) (1985). Escola pblica, escola particular e a democrati-zao do ensino. So Paulo, Cortez/Campinas, Autores Associados.
CURY, C. R. Jamil (1988). Ideologia e educao brasileira: catlicos e liberais.So Paulo, Cortez/Campinas, Autores Associados.
. (1992). O pblico e o privado na educao brasileira contempo-rnea: posies e tendncias. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 81, maio.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de (2000). A instruo elementar no sculo XIX.In: LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de & VEIGA,
-
250 revista brasileira de histria da educao n 5 jan./jun. 2003
Cynthia Greive (orgs.). 500 anos de educao no Brasil. Belo Horizonte,Autntica.
FERNANDES, Florestan (1978). A condio de socilogo. So Paulo, HUCITEC.FREYRE, Gilberto (1977). Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro, Jos Olympio, t. 1.GOMES, Angela Castro (2002). A escola republicana: entre luzes e sombras.
In: GOMES, Angela Castro; PANDOLFI, Dulce Chaves & ALBERTI, Verena. ARepblica no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, CPDOC/FGV.
HABERMAS, Jrgen (1984). Mudana estrutural da esfera pblica. Rio de Janeiro,Tempo Brasileiro.
LIMA, Alceu Amoroso (1932). Chrnica de transcripes: absolutismo Peda-ggico. A Ordem, Rio de Janeiro, ano 1, n. 8, pp. 317-320, abr.
MUNARM, Antonio (1997). Parceria: uma faca de muitos gumes. Revista Alfa-betizao e Cidadania, n. 5.
PINHEIRO, Maria Francisca Salles (1996). O pblico e o privado na Educao:um conflito fora de moda. In: FVERO, Osmar (org.). A educao nas cons-tituintes brasileiras. Campinas: Autores Associados, pp. 255-293.
ROCHA, Marlos Bessa Mendes da (1996). Tradio e modernidade: o processoconstituinte de 1933-34. In: FVERO, Osmar (org.). A educao nas consti-tuintes brasileiras. Campinas, Autores Associados, pp. 119-138.
SAVIANI, Dermeval (1998). A nova lei de educao. So Paulo, Autores Asso-ciados.
SCHWARTZMAN, Simon (1985). Gustavo Capanema e a educao brasileira.Revista Brasileira de Estudos Pedaggicos, vol. 66, n. 153, maio/ago.
SILVIA, Jalson (1999). Por que uns e no outros? Tese (Doutorado) PUC-Rio.WEBER, Max (1996). Economia y sociedad. Mxico, Fondo de Cultura Econ-
mica.
VILLALTA, Luis Carlos (1997). O que se fala e o que se l: lngua, instruo eleitura. In: MELLO; SOUZA & NOVAES (orgs.). Histria da vida privada noBrasil. So Paulo, Companhia das Letras, pp. 333-383.
VIEIRA, Sofia Lersche (1998). O pblico e o privado nas tramas da LDB. In:BRZEZINSKI (org). LDB interpretada: diversos olhares se cruzam. So Paulo,Cortez.
-
oscilaes do pblico e do privado na histria da educao brasileira 251
VILLALOBOS, Joo Eduardo Rodrigues (1969). Diretrizes e bases da educao:ensino e liberdade. So Paulo, Biblioteca Pioneira de Cincias Sociais/USP.
XAVIER, Libnia N. (1998). O processo de reformulao da Legislao Educacio-nal: A Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (1996). Faculdadede Educao da UFRJ (mimeo.)
. (1999). O Brasil como laboratrio: educao e cincias sociaisno projeto do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (1950/1960).Bragana Paulista: IFAN/CDAPH/EDUSF, 1999. 281 p.
. (2002). Para alm do campo educacional: um estudo sobre oManifesto dos Pioneiros da Educao Nova (1932). Bragana Paulista,EDUSF.