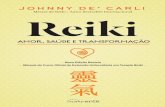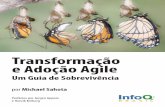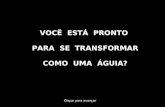71628385 O Filme Como Informacao a Informacao Como Processo Transformador a Transformacao Do Sujeito...
-
Upload
shenia-martins -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of 71628385 O Filme Como Informacao a Informacao Como Processo Transformador a Transformacao Do Sujeito...
-
O FILME COMO INFORMAO A INFORMAO COMO PROCESSO TRANSFORMADOR
A TRANSFORMAO DO SUJEITO-ESPECTADOR
Valria Cristina L. Wilke* Leila Beatriz Ribeiro**
Carmen Irene C. de Oliveira*** Grupo Temtico: Informao e Sociedade/Ao Cultural
Resumo: O texto flmico abordado como documento informacional cuja recepo/leitura, deve ser entendida dentro da corrente dos estudos culturais. A prtica docente conduziu um trabalho de campo que explorou as leituras produzidas por alunos do curso de Pedagogia da Instituio de origem das pesquisadoras. Das anlises foi possvel desenhar um processo, dividido em trs nveis, que vai desde o texto flmico at a produo de novas discursividades. A fundamentao terica pauta-se na articulao dos conceitos de recepo (dentro dos estudos culturais), informao, texto flmico, leitura e indstria cultural para entender as diferentes formas de funcionamento da informao nos nveis delineados. Assim, no primeiro nvel a informao intrnseca ao texto flmico aciona o processo de decodificao em conjuno com o segundo nvel, no qual as informaes, potencialmente latentes no espao exterior ao texto flmico, situam o receptor no mbito da leitura. O terceiro nvel pode ser entendido como o espao de produo das novas discursividades que podem ser tanto materiais (textos) quanto experenciais, espaos de negociao e interlocuo no qual o receptor do incio do processo metamorforseia-se em sujeito crtico.
Palavras-chave: informao - texto flmico - recepo
* Mestre em Filosofia (UFRJ)/ Dept de Filosofia e Cincias Sociais (UNIRIO)/[email protected] ** Doutoranda em Cincia da Informao (IBICT/UFRJ)/Dept Processos Tcnico-Documentais (UNIRIO)/[email protected] *** Mestre em Memria Social e Documento (UNIRIO)/Coord. Ed. a Distncia (UNIRIO)/[email protected]
-
INTRODUO
Com seus pouco mais de cem anos de existncia, a indstria cinematogrfica deu-
nos, alm de sonhos, um objeto delimitado, discutido e analisado por diferentes correntes
em diferentes reas e que constitui um elemento marcante nas teorias da modernidade: o
filme. Especificamente na rea da Cincia da Informao, este objeto tem sido abordado
considerando as necessidades de recuperao da informao de imagens em movimento.
A pesquisa institucional Texto flmico: construo de um modelo de leitura e
anlise informacional1 segue uma outra abordagem cuja base terica assenta-se na
concepo de filme: a) como produto da indstria cultural; b) como um texto (texto flmico)
em cuja materialidade inscrevem-se os diferentes cdigos que funcionam na linguagem
cinematogrfia; c) como documento informacional.
Desta forma, o texto flmico transformou-se sob essa nova perspectiva e tornou-se
um objeto que, para alm da representao, funciona na produo de novos discursos ao
envolver no seu circuito de produo e difuso vrios elementos, dentro os quais o
leitor/espectador, que de ns merece especial ateno.
Como uma representao do recorte emprico apresentado em nosso trabalho,
escolhemos, baseados em Minayo (1992), uma realidade que nos conhecida sob o ponto
de vista espacial e temporal a relao pedaggica e o uso do texto flmico pelo
professor como instrumento de leitura (recepo) para fins de compreenso e anlise das
abordagens de insero (indstria cultural), gerao, disseminao e uso da informao.
1 Pesquisa institucional desenvolvida pelas autoras; encontra-se em fase de anlise de dados.
-
OS FUNDAMENTOS
As primeiras anlises realizadas com leituras produzidas em sala de aula
demonstraram que tais questes deveriam ser tratadas considerando a corrente da recepo
como entendida nos Estudos Culturais, conforme abordaremos mais adiante.
Com base nas estratgias de uso da informao e de leitura e utilizando como
campo uma disciplina para o curso de graduao em Pedagogia, na qual foram trabalhados
cinco textos flmicos2, os dados coletados e analisados nos permitiram identificar nveis
informacionais agenciados pelos receptores.
O primeiro nvel denominado por ns informaes intradiscursivas (WILKE,
RIBEIRO, OLIVEIRA, 2002) (possibilita o entendimento da construo do texto flmico.
Ou seja, existem informaes disponibilizadas que somente podero ser acessadas por
aqueles que dominam os cdigos pertinentes especializados para que a leitura seja
realizada. Estamos falando, nesse caso, dos chamados cdigos cinematogrficos e no-
cinematogrficos, que compem qualquer texto flmico. Nosso pressuposto inicial foi o de
que os nossos leitores detinham um conhecimento mnimo e razovel para acompanhar e
entender uma trama cinematogrfica. Eles seriam o que alguns tericos denominam leitores
de olhares alfabetizados. Situamos, ainda, nesse conjunto de cdigos todas as informaes
pertinentes a construo do prprio filme enquanto pelcula (uso de todos os artefatos da
indstria cinematogrfica), assim como a elaborao do filme sob o aspecto dramatrgico
(direo, atuao, construo de roteiro, escolha da trilha sonora, etc). Nesse sentido, de
acordo com o capital cultural de cada leitor, uns sero mais ou menos capazes do que
outros de localizarem elementos discursivos pertinentes a um entendimento mais ou menos
-
elaborado acerca das estratgias escolhidas pelos produtores. Temos, nesse nvel, o cerne
de nosso projeto o texto flmico pensado como deflagrador de novos textos.
O segundo nvel, as informaes extradiscursivas, dizem respeito s chaves de
leitura acionadas pelos receptores sobre a realidade transposta pela realidade construda
cinematograficamente, a partir de mecanismos dados pela sua insero na sociedade. Cabe
aqui buscarmos quais sero esses mecanismos utilizados sob o ponto de vista
informacional para que os leitores/receptores possam desvelar o real e construir/entender
o sujeito. (Ou diramos, o seu papel de agente social). Nesse nvel articulam-se conceitos
que funcionam como eixos norteadores de nossa reflexo.
Finalmente, no terceiro nvel temos o espao de ao onde emergem novas
discursividades do conjunto formado por receptores, contexto e produtores. Representando
o espao de produo de novos sentidos, este nvel apresenta-se como o locus de
construo/elaborao onde, considerando a relao pedaggica, professor e
aluno/espectador/receptor so os agentes mais atuantes.
2 X-men, Gattaca, Show de Truman, Uma Cidade sem Passado, Ns que aqui estamos por vs esperamos.
-
2 nvel 1 nvel
Espao do leitor (processo de identificao)
Espao de uso (produo de registro e
de insero)
InformaoRecepo
Texto Flmico
Indstria Cultural Leitura
3 nvel
Espao do leitor (processo de significao)
Espao de uso (contextode produo e insero)
QUADRO CONCEITUAL
A interao conceitual e pragmtica entre os produtores, disseminadores e
receptores do texto flm fluxo informacional d o e constante,
representado pelos tipos de recursos acionados, pela natureza e valor da informao
circulada, pelo papel desempenhado pelos ediam essa troca, os quais
empregam estratgias de comunicao e modos de apropriao do conhecimento,
produzindo, assim, novas form doras de conhecer e agir sobre alidades.
Informao - Na filosofia tradicional, ou seja, numa linguagem escolstica e
neoclssica, a i o de dar ou receber uma forma a uma
dar a conhecenformao : a ar qualquer coisa a algum. (LALANDE, 1999, p.569). Amatria ou ainda:
qui a informao as suas reas inovaagentes que mico implica um inmic
-
coloca-se como instrumento capaz de falar de algo que se assemelha e ao ser capaz de
descrever este algo representado demonstra que a eficcia dos objetos informativa.
Classificar, relacionar, generalizar, abstrair, traduzir conceitos, entre outros, so
operaes que, por meio da juno do cdigo lingstico com a conceitualizao, nos
permitem armazenar (memorizar) e documentar (inscrever) conceitos, com seus respectivos
signos. (SILVA, 2000, p.26).
No entanto, os processos sociais de produo e transferncia da informao para a
organizao e manuteno de estoques de informao so responsveis por novas formas
de disperso da informao e pela retrao das foras vinculantes dos espaos e aes de
comunicao. (GONZLEZ DE GOMEZ, 1993, p.217)
De acordo com Barreto (1994), diremos que a produo da informao
representada por um conjunto de atividades interligadas juno, seleo, codificao,
reduo, classificao e armazenamento das informaes, visando eficincia dos estoques
de informao e a dinamizao da transferncia, que promove, em sua determinada
proporo, a comunicao necessria obteno de um conhecimento. Nesse sentido,
admitimos serem os museus as bases de dados, as bibliotecas e os arquivos os depositrios
que, a partir da comunicao efetivada entre seus estoques e o receptor, demandando e
fornecendo conhecimentos, sofreram diversas transformaes em seus respectivos sistemas
de organizao, devido ao crescimento da produo das informaes e aos problemas com
relao estocagem. Pensar na estocagem, pensar necessariamente no suporte em que
essa informao veiculada e, conseqentemente, na palavra. A imagem e a palavra
mas no s elas para exercerem seu potencial representacional esto inseridas em um
contexto discursivo que se manifesta no documento.
-
O texto flmico como um documento informacional - o texto flmico assume o
status de documento porque produto da sociedade que o fabricou segundo as relaes de
foras que a detinham o poder (LE GOFF, 1996, p. 234). A informao ao se colocar
como um instrumento capaz de falar de algo que se assemelha e ao ser capaz de descrever
este algo representado demonstra que a eficcia dos objetos informativa. Esta eficcia
legitimada quando o documento-dispositivo veiculado por uma autoridade. Nesse sentido,
o texto flmico ao se constituir como documento-informao pressupe, de acordo com as
circunstncias de produo, transmisso e uso, o carter dado operao que o
circunscreve e a legitimidade/autoridade dada pelas suas inscries conteudsticas o carter
de documento-testemunho pode proporcionar a aqueles que o utilizam o sentido de prova,
ato ou fato. Estas inscries, por outro lado, podem possibilitar ainda a construo de novas
possibilidades categoriais dadas ao documento-informao, tais como: deficional,
circunstancial, etc.
Leitura - Inicialmente, importante estabelecer que o que consideramos leitura
mais do que uma interao entre um leitor e um texto. Isso porque o texto um meio, a
regra de um jogo que se estabelece entre o leitor e outro sujeito, que para Wolgang Iser
(1999) o autor e para Eni Orlandi (1987) pode ser qualquer outro sujeito. O significativo,
nesse ponto, que a relao no se estabelece com o texto e sim por intermdio dele. O
texto, com sua estrutura e seus cdigos constituintes, estimula atos que desencadeiam a
produo de sentidos. Nessa produo, esto em jogo vrios fatores que so da instncia do
prprio texto, do leitor e da historicidade de ambos. Trata-se, na verdade, de no polarizar
o entendimento do processo de leitura seja no texto seja no leitor. Como prefigurao
estruturada (ISER, 1999, p.10), o texto apresenta os caminhos que conduzem a leitura,
-
alimenta o processo por este realizado com os seus elementos constituintes, mas, de forma
alguma consegue controlar esta dinmica, ou seja, a leitura; isso justamente por que o leitor
est inscrito em um contexto que determina sua historicidade.
Leitura e texto so conceitos estreitamente relacionados. E no poderia ser de outra
maneira, pois quando inventou-se a escrita, outro invento foi necessrio: a leitura. Ao
cdigo da escrita relaciona-se a sua decodificao. Alm disso, nasceram o escritor/autor e
o leitor, aquele a quem era destinado o texto. Este leitor pode ser algum especfico, como
no caso de uma carta pessoal, ou um grupo ou a humanidade. No entanto, como nos diz
Manguel (1997), toda escrita depende da generosidade do leitor. Ao terminar seu texto e
pensar para ele um leitor virtual o autor deve retirar-se para que sua obra possa ganhar
sentido; possa ser lido e produzir os sentidos que fogem ao seu prprio controle. O texto
somente ganha existncia quando o autor no mais est nele presente e quando o processo
de leitura o faz viver de diferentes formas e em diferentes pocas. Na leitura, o leitor
reinscreve o texto em uma outra historicidade que difere daquela de sua produo e
reinscreve-se em uma outra historicidade que no a sua.
No sem motivo que Orlandi (1987) nos alerta para o fato de que a leitura pode ser
um processo muito mais complexo do que pode parecer. Entre as variveis que devem ser
consideradas, alm das j citadas historicidades do texto e do leitor, temos as relaes que o
texto estabelece com outros textos e que, dessa forma, acionam a formao dos sentidos
que nascem da leitura; a compreenso dos cdigos utilizados na construo do texto
(considerando que no nos referimos somente ao texto escrito, mas tambm a outros tipos
de textos, como os imagticos); o saber enciclopdico do leitor.
-
Texto flmico - O que se pretende tratar como texto flmico necessita ser entendido
dentro de um contexto que envolve a produo cinematogrfica e seus cdigos.
O que denominamos texto flmico um objeto delimitvel, o filme, e constitui o
produto de um sistema que funciona como uma linguagem especfica a cinematogrfica.
Esta concepo est alinhada s teorizaes de Christian Metz (1971), que trabalha com
uma distino elaborada por Gilbert Cohen-Sat em 1946, na qual o filme apenas uma
pequena parte do cinema. O cinema engloba um conjunto dos fatos que tanto precedem
(infra-estrutura econmica da produo, estdios, legislaes nacionais, papel da censura),
quanto sucedem (influncia social, cultural, poltica e ideolgica do filme, estudos sobre
audincia, etc.) a produo do filme. Alm de abarcar alguns fatos que se desenvolveram
durante o filme: condies e disponibilidade das salas, ritual da sesso de cinema, etc.
Assim, a proposta de Metz, e ns a adotamos, a de uma anlise do discurso flmico que
trata o filme como texto no qual diferentes cdigos esto inscritos, implcitos em um
trabalho ou processo de significao.
importante ressaltar que o cinema para constituir-se, desenvolveu um sistema de
produo de sentidos e significao que funciona como uma linguagem. A importncia
desta distino reside no fato de entendermos que por intermdio da linguagem que uma
sociedade produz e reproduz padres culturais e ideolgicos. A linguagem agencia e
combina elementos na sua tarefa de comunicar; por seu intermdio que construmos a
nossa realidade, adquirimos os nossos padres culturais e nossas identidades. O cinema
desenvolveu seu prprio sistema de cdigos que funcionam na construo do texto flmico.
Assim, como nos diz Turner (1997), para significar o cinema tem, por exemplo:
a) o close-up que indica forte emoo ou crise;
-
b) o slow fade ao final das cenas de amor, indicando o desvio do olhar do espectador e,
ao mesmo tempo a continuao da cena;
c) o sistema shot-reverse shot que uma conveno para representar um dilogo;
d) o emprego da msica para indicar emoo;
e) as seqncias em cmera lenta usadas para estetizar a cena, embelezando ou dando
relevncia ao tema, funcionando para mitologizar determinas cenas. Isso pode ser
visto em Uma rajada de balas, Meu dio ser sua herana e, mais recentemente em
Matrix.
Indstria Cultural - O conceito de indstria cultural foi desenvolvido para
analisar o novo estatuto dos bens culturais enquanto mercadoria, em torno de 1940, por
Adorno e Horkheimer, no mbito da Escola de Frankfurt. De acordo com os
frankfurtianos, este conceito propriamente no diz respeito s indstrias produtoras de bens
culturais em massa e nem s tcnicas de difuso massiva destes bens, mas ao moderno
processo histricofilosfico em que se deu a transformao da cultura em bem de
consumo, ou seja, em mercadoria. Por conseguinte, para a melhor compreenso da
categoria indstria cultural no se deve prender literalidade do termo indstria e sim ao
movimento proporcionado pelo desenvolvimento do capitalismo avanado em que as
relaes mercantis foram estendidas vida social, tornando-se hegemnica.
Como mercadorias culturais, os bens culturais perdem o carter estrito de criaes
artsticas na medida em que so absorvidos pelo conjunto da atividade econmica
capitalista. Dentro desse contexto, h tanto o uso mercantil dos veculos de comunicao e
das tcnicas promocionais de marketing quanto a tendncia padronizao dos bens
-
artsticos e intelectuais e o mercado de bens culturais, que permite a circulao e a
distribuio destes para alm do mbito do mecenato e da aristocracia.
Recepo - Os estudos de recepo datam de meados do sculo XX e desde ento
tm modificaram muito as concepes acerca dos espectadores dos meios de comunicao.
Os modelos que, principalmente, nortearam estes estudos, entre 1950 e 1980, foram: o
positivista, que se alicerava nos fatos e nas experincias, e o marxista, sob influncia da
Sociologia. Na dcada de 1970, os estudos de recepo estavam mais voltados para os
efeitos produzidos pelas mensagens veiculadas pelos meios de comunicao (WHITE,
1998, p. 57). J na dcada de 1980, os estudos se voltaram para a anlise dos significados
que os receptores faziam dessas mensagens.
As primeiras pesquisas iniciaram-se em decorrncia de preocupaes que foram
originalmente formuladas no seio das agncias institucionalizadas, notadamente de natureza
tcnico-educativa (FAUSTO NETO, 1995, p.190-191), e foram desenvolvidas por
pesquisadores das Cincias Sociais, principalmente antroplogos e socilogos, sendo
somente utilizadas mais tarde por pesquisadores da Comunicao.
Um grande problema para se estudar a recepo, que esta pode ser percebida por
diferentes maneiras pelos profissionais que se dedicam ao seu estudo, fazendo com que,
muitas vezes, essas classificaes sejam totalmente distintas e at mesmo incompatveis
entre si. necessrio buscar outras tcnicas e abordagens que possibilitem conhecer as
negociaes travadas pela emisso e recepo, uma vez que, nesta ltima, h a existncia
de uma multiplicidade de receptores/leitores, j que se constitui no interior do prprio
processo discursivo por meio de mltiplas operaes articuladas pelos processos da prpria
linguagem (FAUSTO NETO, 1995, p.194).
-
Uma abordagem dos estudos da recepo a teoria crtica, que aborda as relaes
de poder entre os sujeitos, estes entendidos agora no somente como indivduos, mas
tambm como pertencentes a um grupo, uma classe, contextualizados historicamente. O
fator principal que permitiu a mudana para a abordagem crtica foi a identificao do
texto como fenmeno processual [...] onde este deve ser percebido como algo incompleto e
dinmico exigindo a atividade de leitura para se completar (PAULA, 1998, p.133).
Desta maneira, como as leituras so entendidas como resultados da dinmica entre as
experincias sociais reais e a experincia mediada textual, do fato de os leitores/receptores
serem sujeitos sociais e estarem imersos em grupos especficos faz com que ao grupo social
seja dada uma posio importante dentro do estudo da recepo. A
interpretao/decodificao da mensagem est intrinsecamente relacionada posio social
do receptor e aliada a uma posio particular de discurso, uma vez que o acesso aos
diferentes discursos determinado pela posio social. Dentro desta perspectiva terica,
determinados temas ganham relevncia: resistncia, cultura de resistncia, cultura de
contraposio, comunicao alternativa, receptor ativo, guerrilha televisiva, hegemonia,
ideologia e classes, entre outros. Das quatro correntes tericas que foram desenvolvidas a
partir da teoria crtica, Estudos culturais; Interacionismo simblico; Estudos consensuais
culturais; Mediaes entre a lgica da produo e do consumo, somente a primeira ser
abordada neste trabalho.
Os estudos culturais podem ser considerados um movimento terico-poltico
surgido na Gr-Bretanha, na dcada de 1960, sob forma organizada, atravs do Centre for
Contemporary Cultural Studies (CCCS), diante da alterao dos valores tradicionais da
classe operria da Inglaterra do ps-guerra. Como principais fatores que contriburam para
-
formar um ambiente propcio ao surgimento e desenvolvimento dos Estudos Culturais
estariam os movimentos no mbito da literatura inglesa, e a ascenso, na dcada de 1960,
de alguns movimentos sociais de esquerda, que se sustentaram na teoria marxista. No
entanto, os Estudos Culturais atribuem cultura um papel que no totalmente explicado
pelas determinaes da esfera econmica (JOHNSON, ESCOSTEGUY & SCHULMAN,
2000, p. 144). No sendo considerado por seus criadores como uma disciplina, mas uma
rea onde diferentes disciplinas interagem, os Estudos Culturais surgiram da insatisfao
com algumas disciplinas e seus prprios limites (JOHNSON, ESCOSTEGUY &
SCHULMAN, 2000, p.137) para a explicao dos aspectos culturais da sociedade
contempornea.
Como principais tericos que contriburam para o surgimento dos Estudos Culturais
esto Richard Hoggart, Raymond Williams e E. P. Thompson, que tm como principal
objeto de estudo os materiais culturais da cultura popular e dos mass media, argumentando
que na cultura popular no existe apenas submisso cultura hegemnica, mas, ao
contrrio, tambm h resistncia. Desta maneira, a cultura constitui a categoria-chave para
os Estudos Culturais, entendida a partir de um conceito antropolgico segundo o qual ela
um processo no qual os significados e definies so socialmente construdos e
historicamente transformados (JOHNSON, ESCOSTEGUY & SCHULMAN, 2000, p.
140).
A temtica da recepo e dos consumos mediticos ganharam importncia para os
pesquisadores a partir do final dos anos 1960, quando Stuart Hall (...) ao substituir
Hoggart na direo do Centro, de 1969 a 1979, incentivou o desenvolvimento de estudos
etnogrficos, as anlises dos meios massivos e a investigao de prticas de resistncia
-
dentro de subculturas (JOHNSON, ESCOSTEGUY & SCHULMAN, 2000, p. 141).
Assim, influenciado pelas teorias de William, para os demais pesquisadores do Centro, os
receptores usavam a mdia para representar a interpretao que fazem da sua realidade.
No final dos anos 1970 e incio dos anos 1980, as influncias dos tericos franceses,
como Michel de Certeau, Michel Foucault e Pierre Bourdieu, so incorporadas ao campo
terico dos Estudos Culturais. Nesse momento, os Estudos Culturais deixam de ser
limitados ao mbito britnico e passam a internacionalizar-se. Os Estudos Culturais
comearam tambm a abordar os estudos de gnero, envolvendo discusses acerca de raa
e etnia. Nesta concepo h uma preocupao em no tratar a audincia como uma massa
de indivduos indiferenciados, mas que deve ser entendida dentro de limites, os quais so
chamados nveis de gerenciamento, uma vez que existem classes sociais determinadas e os
indivduos de cada uma destas vivenciam um sistema de significados ou uma estrutura
ideolgica prpria de cada classe. Uma crtica desta teoria com relao passividade do
pblico, especfica do modelo funcionalista, que no conseguia atender aos verdadeiros
objetivos do estudo da recepo. Este modelo elimina as interferncias que a audincia
tambm capaz de promover nos meios de comunicao.
CONSIDERAES FINAIS
O trabalho de anlise das leituras realizadas pelos discentes da turma de Pedagogia
desencadearam os seguintes questionamentos: quais os contextos de produo e insero do
texto flmico (a indstria cultural e a academia)? Quais as estratgias de recepo e leitura?
Quais os usos das informaes relacionados produo de novas discursividades,
considerando os trs diferentes nveis?
-
Com relao aos diferentes contextos de insero, o texto flmico posiciona-se, por
um lado, na dinmica da crtica da indstria cultural como foi desenvolvida pelos
frankfurtianos; por outro lado, a sua insero no espao acadmico possibilita uma
problematizao que procura ultrapassar tal posicionamento, apontando para as
potencialidades deste tipo de texto, inclusive, para discutir o seu estatuto de simples bem
cultural para o entretenimento.
As estratgias de recepo e leitura comearam a ser entendidas conforme o quadro
terico da teoria da recepo, enfocando a necessidade de se repensar o conceito de
receptor, de modo a produzir uma nova explicao do processo comunicativo, como um
modelo mais apropriado para explicar a produo e a leitura dos fenmenos culturais e
comunicacionais colocadas a partir de uma nova dinmica social, em decorrncia da
modernizao (como por exemplo, a utilizao de novas tecnologias e a expanso do
processo de industrializao). Em sincronia com esta modernizao, modelos antigos
passaram a ser substitudos por novas abordagens tericas, onde estas ora se
complementavam ora se contrapunham. Pode-se dizer que modelos antigos colocavam
obstculos a uma completa observao das audincias, de modo que apenas algumas partes
do processo de recepo eram percebidas.
Finalmente, pde ser observado, nos trs nveis que representam o processo que vai
do texto flmico produo de novas discursividades, que as informaes neles presentes
funcionam de forma diferenciada. No primeiro nvel, tal informao inscrita nos cdigos
constituintes do texto flmico, sendo necessrio um entendimento mnimo para que o
receptor possa ser acionado e colocar-se em uma dinmica de leitura. No segundo nvel,
outras informaes, desta feita no inscritas no documento informacional texto flmico, mas
-
circulantes e/ou potencialmente latentes nos contextos de insero do receptor, devem ser
acionadas. O terceiro nvel o espao no qual desembocam os acionamentos anteriores,
redundando na produo de novas discursividades, que constituem novos textos
materializados ou novos espaos de negociao e interlocuo. Ou seja, a insero do texto
flmico em um outro locus que desloca sua significao de objeto de entretenimento
(cinema a maior diverso) abre o caminho para a sua reflexo crtica por parte do
receptor e de outros agentes sociais como os docentes. Assim, tal deslocamento promove
estas novas discursividades, aqui entendidas em sua dimenso no somente material (texto),
mas tambm experencial, um novo espao privilegiado de atuao do leitor/sujeito crtico.
REFERNCIAS
BARRETO, Aldo de Albuquerque. A questo da informao. So Paulo em Perspectiva,
v.8, n.4, p. 3-8, out./dez. 1994.
FAUSTO NETO, Antonio. A deflagrao do sentido. Estratgias de produo e de captura
da recepo. In: SOUSA, Mauro Wilton de et alli. Sujeito, o lado oculto do receptor. So
Paulo: Brasiliense, 1995. p. 189-221.
GONZLEZ DE GOMES, Maria Nlida. A representao do conhecimento e o
conhecimento da representao: algumas questes epistemolgicas. Ci. Inf., Braslia, v.22,
n.3, p.217-222, set./dez., 1993.
JOHNSON, Richard; ESCOSTEGUY, Ana Carolina; SCHULMAN, Norma. O que ,
afinal, Estudos Culturais?. Belo Horizonte: Autntica, 2000.
LALANDE, Andr. Vocabulrio tcnico e crtico da filosofia. So Paulo: Martins Fontes.
1999.
LE GOFF, Jacques. Histria e memria. Campinas, SP: Ed. da Unicamp. 1996.
MANGUEL, Alberto. Uma histria da leitura. So Paulo: Cia. das Letras, 1997.
METZ, Christian. Linguagem e cinema. So Paulo: Perspectiva. 1971.
-
MINAYO, Maria Ceclia de Sousa O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
sade. So Paulo: Rio de Janeiro: HUCITEC: ABRASCO, 1992.
ORLANDI, Eni. Discurso e leitura.So Paulo: Cortez. 1987.
PAULA, Silas de. Estudos culturais e receptor ativo. In: RUBIM, Antnio A. C. et alli
(org.). Produo e percepo dos sentidos miditicos. Petrpolis: Vozes, 1998. p. 131-
141.
RIBEIRO, Leila B.; WILKE, Valria Cristina L.; OLIVEIRA, Carmen Irene C. de .
agenciamento da informao intra e extra discursiva para o entendimento da construo e
leitura do texto flmico. In: XX Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentao e
Cincia da Informao, 2002, Fortaleza. Anais ... Fortaleza: FEBAB/ABC, 2002. 1 CD-
ROM.
SILVA, Armando B. Malheiro da, et al. A informao. In: ___. Arquivstica: teoria e
prtica de uma Cincia da Informao. Porto: Afrontamento, 1998. p.23-44.
TURNER, Graeme. Cinema como prtica social. So Paulo: Summus, 1997.
WHITE, Robert. Tendncias dos estudos de recepo. Comunicao & Educao. So
Paulo, 1998. v. 13. p. 41-66.
WILKE, Valria Cristina L.; RIBEIRO, Leila B.; OLIVEIRA, Carmen Irene C. de . Texto
flmico: a construo de um modelo de leitura e anlise informacional. Universidade do Rio
de Janeiro. Projeto de pesquisa. 2000.
WOLFANG, Iser. O ato da leitura: uma teoria do efeito esttico. So Paulo: Editora 34,
1999. vol. 2.
Promoo:
Busca:
Relao de Autores:
Relao de Ttulos:
Comisses:
Objetivo: