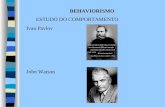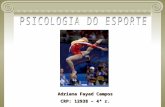Apostila de Psicologia Geral
-
Upload
lucienygomes -
Category
Documents
-
view
27 -
download
0
description
Transcript of Apostila de Psicologia Geral
- LANE, S
APOSTILA DE PSICOLOGIA GERAL- BOCK, A. M. M. A Psicologia ou as Psicologias. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 15-30.
PSICOLOGIASDe psiclogo e louco todo mundo tem um pouco
O ditado no bem esse (de mdico e de louco todo mundo tem um pouco), mas serve perfeitamente para ilustrar que as pessoas, em geral, tm a sua psicologia; seja para vender um produto, conquistar algum, para entender as pessoas...
Ser essa a psicologia dos psiclogos?
Certamente no. A psicologia usada no cotidiano pelas pessoas em geral denominada psicologia do senso comum. No deixa de ser uma psicologia, mas denota um domnio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela Psicologia cientfica.
a Psicologia cientfica que vamos estudar, antes disso vamos entender a relao de cincia/senso comum.
Os acontecimentos do dia-a-dia denunciam, a todo tempo, que estamos vivos; e a cincia procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano, a partir de seu estudo sistemtico.
Fazendo cincia, baseamo-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamo-nos, abstramo-nos, dela para refletir e conhecer alm de suas aparncias, transformando-a em objeto de investigao.
Ocorre que, mesmo o mais especializado dos cientistas, quando sai de seu laboratrio, est submetido dinmica do cotidiano e, assim, vai tambm acumulando conhecimento intuitivo, espontneo, de tentativas e erros.
Para atravessar uma rua movimentada, por exemplo, no precisamos usar uma mquina de calcular ou uma fita mtrica, sabemos perfeitamente medir a distncia e a velocidade do automvel que vem em nossa direo.
A esse tipo de conhecimento que vamos acumulando chamamos senso comum.
A necessidade desse conhecimento espontneo parece-nos bvia. Imagine termos que descobrir diariamente que as coisas tendem a cair e no a subir, que para fazer um aparelho funcionar precisamos de eletricidade, que um automvel em velocidade vai se aproximar rapidamente de ns...
O senso comum, na produo desse tipo de conhecimento, percorre um caminho que vai do hbito tradio, a qual, quando estabelecida, passa de gerao para gerao.
nessa tentativa de facilitar o dia-a-dia que o senso comum produz suas prprias teorias.
O conhecimento do senso comum, alm de sua produo caracterstica, acaba por se apropriar, de uma maneira muito singular, de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produo do saber humano. O senso comum mistura e recicla esses outros saberes, muito mais especializados, e os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada viso-de-mundo.
claro que isso no ocorre muito rapidamente e nunca um conhecimento mais sofisticado e especializado absorvido totalmente.
Quando utilizamos termos como rapaz complexado, menina histrica, estamos usando termos da Psicologia cientfica. No nos preocupamos em defini-los e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos at estarmos prximos do conceito cientfico, mas, na maioria das vezes, nem o sabemos.
Por sua vez, somente esse tipo de conhecimento no seria suficiente para as exigncias de desenvolvimento da humanidade. Somente esse tipo de conhecimento intuitivo seria pouco para o domnio da natureza. Os gregos, por volta do sc 4 a.C. j dominavam complicados clculos matemticos. Podemos destacar que esse tipo de conhecimento foi se especializando cada vez mais, at conseguir levar o homem Lua. A este tipo de conhecimento denominamos cincia.
Contudo, essas no so as nicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Podemos, ainda, ressaltar a filosofia, a partir das especulaes sobre a origem e o significado da existncia humana; a religio, que formula um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistrios, princpios morais; a arte, conhecimento que traduz emoo e sensibilidade.
Agora podemos enfocar a Psicologia cientfica, comeando a delimitar melhor o que vem a ser cincia.
A cincia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos sobre fatos e aspectos da realidade (objeto de estudo), expresso por meio de linguagem precisa e rigorosa. Para tanto, esses conhecimentos so obtidos de forma sistemtica e controlada para possibilitar a verificao de sua validade e permitir sua continuidade e avano (seja negando, reafirmando ou descobrindo novos aspectos).
Alm disso, a cincia aspira objetividade. Suas concluses devem ser passveis de verificao e isentas de emoo para tornarem-se vlidas para todos.
Assim, esse conjunto de caractersticas, possibilita denominarmos de cientfico um conjunto de conhecimentos.
A partir da, qual, ento, o objeto de estudo da Psicologia?
Como cincia humana, a Psicologia estuda o homem. No entanto, isso no a especifica, uma vez que a Antropologia, a Economia, a Sociologia, tambm estudam o homem.
Se perguntarmos a um psiclogo comportamentalista, ele dir que o objeto da psicologia o comportamento humano; se perguntarmos a um psicanalista ele dir que o inconsciente. Outros diro que a conscincia humana, e outros, a personalidade.
Essa diversidade de objetos explicada pelo fato de este campo do conhecimento ter-se constitudo como rea cientfica somente recentemente (final do sculo 19), a despeito de existir h muito tempo na Filosofia enquanto preocupao humana.
Outro fato importante que contribui para dificultar tal definio de objeto que o cientista, o pesquisador, se confunde com o objeto a ser pesquisado.
Sendo assim, a concepo de homem que o pesquisador traz consigo influencia, inevitavelmente, a sua pesquisa em Psicologia.
Para o filsofo francs, Rousseau, por exemplo, o homem nasce puro e a sociedade o corrompe; cabendo ao filsofo reencontrar essa pureza perdida.
Outros, no entanto, vem o homem como ser abstrato, com caractersticas definidas e que no mudam, a despeito das condies sociais a que estejam submetidos.
Ns, professores desse curso, vemos o homem como ser datado, determinado pelas condies histricas e sociais que o cercam.
Conforme a concepo de homem adotada, teremos uma concepo de objeto que combine com ela. No caso da Psicologia, esta cincia estuda os diversos homens concebidos pelo conjunto social, caracterizando-se por uma diversidade de objetos de estudo.
A superao de tal impasse levar a uma Psicologia que enquadre esse homem como ser concreto e multideterminado. Esse o papel de uma cincia crtica, da compreenso, da comunicao e do encontro do homem com o mundo em que vive, j que o homem que compreende a Histria tambm compreende a si mesmo, e o homem que compreende a si mesmo pode compreender o engendramento do mundo e criar novas rotas e utopias.
Assim, podemos dizer que no existe uma Psicologia, mas Cincias Psicolgicas embrionrias e em desenvolvimento.
De qualquer maneira, a forma particular e especfica de contribuio da Psicologia para a compreenso da totalidade da vida humana o estudo da subjetividade. Logo, a matria prima da psicologia o homem em todas as suas expresses, as visveis (nosso comportamento) e as invisveis (nossos sentimentos), as singulares (porque somos o que somos) e as genricas (porque somos todos assim) o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ao e tudo isso est sintetizado no termo subjetividade.
A subjetividade o mundo das idias, significados e emoes construdo internamente pelo sujeito a partir de suas relaes sociais, de suas vivncias e de sua constituio biolgica; , tambm, fonte de suas manifestaes afetivas e comportamentais.
A subjetividade a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. o que constitui o nosso modo de ser.
Entretanto, a sntese que a subjetividade representa no inata ao indivduo. Ele a constri aos poucos, apropriando-se do material do mundo social e cultural, e faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre este mundo, ou seja, ativo na sua construo. Criando e transformando o mundo (externo), o homem constri e transforma a si prprio.
De um certo modo, podemos dizer que a subjetividade no s fabricada, produzida, moldada, mas tambm automoldvel, ou seja, o homem pode promover novas formas de subjetividade recusando a massificao que exclui e estigmatiza o diferente, a aceitao social condicionada ao consumo, a medicalizao do sofrimento...
Nesse sentido, cada homem pode participar na construo do seu destino e da sua coletividade.
Assim, estudar a subjetividade tentar compreender novos modos de ser, cuja fabricao social e histrica.
O movimento e a transformao so os elementos bsicos desse processo, como expressa pertinentemente o escritor Guimares Rosa, em Grande Serto: Veredas:
O importante e bonito do mundo isso: que as pessoas no esto sempre iguais, ainda no foram terminadas, mas que elas vo sempre mudando. Afinam e desafinam.
- BOCK, A. M. M. A evoluo da Cincia Psicolgica. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 31-44.
A HISTRIA DA PSICOLOGIAPara compreender a diversidade com que a Psicologia se apresenta hoje, indispensvel recuperar sua histria. A histria de sua construo est ligada, em cada momento histrico, s exigncias de conhecimento da humanidade, s demais reas do conhecimento humano e aos novos desafios colocados pela realidade econmica e social e pela insacivel necessidade do homem de compreender a si mesmo.
entre os filsofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma Psicologia. O prprio termo vem do grego psyque, que significa alma, e de logos, que significa razo. Portanto, etimologicamente, psicologia significa estudo da alma.
O filsofo grego Plato (427-347 a.C.), discpulo de Scrates, postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo; por outro lado, Aristteles (384-322 a.C.), discpulo de Plato, afirmava a mortalidade da alma e sua relao de pertencimento ao corpo.
E foram esses filsofos que influenciaram Santo Agostinho (354-430) e So Toms de Aquino (1225-1274) j na poca da era crist. Falar de Psicologia nesse perodo relacion-la ao conhecimento religioso, j que, ao lado do poder econmico e poltico, a Igreja Catlica tambm monopolizava o saber e, conseqentemente, o estudo do psiquismo.
Santo Agostinho tambm fazia a ciso entre alma e corpo, mas considerava a alma uma prova de manifestao divina no homem.
So Toms de Aquino - vivendo num perodo que prenunciava a ruptura da Igreja Catlica, o aparecimento do Protestantismo e numa poca que se preparava para a transio para o capitalismo - considera que o homem, na sua essncia, busca a perfeio atravs de sua existncia, afirmando que a busca de perfeio pelo homem seria a busca de Deus.
Mas na Renascena, com o filsofo Ren Descartes (1596-1659) que postulada a separao entre mente e corpo, o que permitir o avano da cincia com o estudo do corpo humano morto.
No sculo 19, com o crescimento da nova ordem econmica: o capitalismo, faz-se necessrio ainda mais o avano da cincia, que deve dar respostas e solues prticas no campo da tcnica.
Em meados desse sculo, os problemas e temas da Psicologia at ento estudados por filsofos, passam a ser tambm investigados pelas especialidades da Medicina: Fisiologia, Neuroanatomia e Neurofisiologia, o que, aos poucos, vai lhe dando o status de cincia.
A psicologia cientfica nasce quando, de acordo com os padres de cincia do sculo 19, wilhelm Wundt (1832-1926) preconiza a Psicologia "sem alma". O conhecimento tido como cientfico passa ento a ser aquele produzido em laboratrios, com o uso de instrumentos de observao e medio.
Embora a Psicologia cientfica tenha nascido na Alemanha, nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rpido crescimento, resultado do grande avano econmico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. ali que se constituem trs escolas Associacionismo, Estruturalismo e Funcionalismo substitudas, no sculo 20, por novas teorias.
Funcionalismo: para a escola funcionalista, importa responder o que fazem os homens e por que fazem. Para responder a isto, W. James elege a conscincia como o centro de suas preocupaes e busca a compreenso de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio.
Estruturalismo: est preocupado com a compreenso do mesmo fenmeno que o Funcionalismo: a conscincia. Mas, diferentemente, ir estud-la em seus aspectos estruturais, isto , os estados elementares da conscincia como estrutura do sistema nervoso central.
Associacinismo: seu principal representante Edward L. Thondike, e sua importncia est em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na Psicologia. O termo Associacionismo origina-se da concepo de que a aprendizagem se d por um processo de associao das idias das mais simples s mais complexas. Assim, para aprender uma coisa complexa, a pessoa precisaria primeiro aprender as idias mais simples, que a ela estariam associadas. Torndike formulou a Lei do Efeito, que seria de grande utilidade para a Psicologia Comportamentalista. De acordo com essa lei, todo o comportamento de um organismo vivo tende a se repetir, se ns o recompensarmos (efeito) assim que ele o emitir. Por outro lado, o comportamento tender a no acontecer se o organismo for castigado (efeito) aps sua ocorrncia. E, pela Lei do Efeito, o organismo ir associar essas situaes com outras semelhantes.
As trs mais importantes tendncias tericas da psicologia neste sculo so consideradas por inmeros autores como sendo o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanlise.
O Behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos, em funo de suas aplicaes prticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicolgico, demodo concreto, a partir da noo de comportamento.
A Gestalt, que tem seu bero na Europa, surge como uma negaoda fragmentao das aes e processos humanos, realizada pelas tendncias da psicologia cientfica do sculo 19., postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt a tendncia terica mais ligada filosofia.
A Psicanlise, que nasce com Freud, na ustria, a partir da prtica mdica, recupera para a psicologia a importncia da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrandoa tradio da psicologia como cincia da conscincia e da razo.- BOCK, A. M. M. O Behaviorismo. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p.45-58.
BEHAVIORISMO
O termo Behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson, em 1913. O termo ingls behavior significa comportamento; por isso, para denominar essa tendncia terica, usamos Bahaviorismo e, tambm, Comportamentalismo, Teoria Comportamental, Anlise Experimental do Comportamento, Anlise do Comportamento.
Watson, postulando o comportamento como objeto da Psicologia, dava a esta cincia a consistncia que os psiclogos da poca vinham buscando: um objeto observvel, mensurvel, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condies e sujeitos. Essas caractersticas foram importantes para que a Psicologia alcanasse o status de cincia, rompendo definitivamente com a sua tradio filosfica.
Watson buscava a construo de uma Psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de mtodos subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e controlar.
Apesar de colocar o comportamento como objeto da Psicologia, o Behaviorismo foi, desde Watson, modificando o sentido do termo. Hoje, no se entende comportamento como uma ao isolada de um sujeito, mas, sim, como uma interao entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Portanto, o Behaviorismo dedica-se ao estudo das interaes entre o indivduo e o ambiente, entre as aes do indivduo (suas respostas) e o ambiente (as estimulaes). o homem tomado como produto e produtor das interaes.
O mais importante dos behavioristas que sucedem Watson B. F. Skinner (1904-1990).
A base da corrente skinneriana est na formula co do comportamento operante. Antes, vamos definir comportamento reflexo ou respondente.
Comportamento respondente ou reflexo o que usualmente chamamos de no-voluntrio e inclui as respostas eliciadas (produzidas) por estmulos antecedentes do ambiente. Como exemplo, podemos citar a contrao das pupilas (resposta incondicionada) sob a incidncia de luz forte (estmulo incondicionado).
Interaes desse tipo tambm podem ser provocadas por estmulos que, originalmente, no eliciavam respostas em determinado organismo. Quando tais estmulos so temporalmente pareados com estmulos eliciadores podem, em certas condies, eliciar respostas semelhante s destes. A essas novas interaes chamamos tambm de reflexos, que agora so condicionados (aprendidos) devido a uma histria de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estmulos que antes no respondia.Reflexos Condicionados
A noo de reflexo condicionado foi construda por obra do acaso. Para estudar as glndulas digestivas de ces, Pavlov inventou um mtodo de exposio cirrgica no qual as secrees digestivas, como a saliva, poderiam ser coletadas, observadas e medidas fora do corpo do animal. Para estimular a produo de saliva, colocava comida na boca do animal, que era mantido acordado. Entretanto, com o tempo, comeou a notar que os Ces tendiam a salivar mesmo antes de terem o contato direto do alimento (estmulo) com a boca. Percebeu que o animal salivava quando via a pessoa que costumava trazer a comida para a sala de cirurgia ou, mesmo, em outros momentos, quando ouvia seus passos. Pavlov considerou que se isso ocorria era porque esses outros estmulos (a viso do assistente, os sons de seus passos) tinham sido associados ingesto de alimento. Depois de alguns estudos definiu como reflexo incondicionado ou inato uma resposta reflexa a um determinado estmulo, sem que tivesse sido, portanto, necessrio um perodo especial de aprendizagem prvia (salivar com a comida na boca). Salivar diante da viso do assistente ou de seus passos, ou mesmo, diante da viso do prprio alimento no uma resposta inata mas que tem que ser aprendida. Chamou-a de reflexo condicionado porque dependia de uma conexo entre a viso da comida e sua subseqente ingesto, ou a ela estava condicionada.
Um experimento tpico que realizava era o seguinte: Apresentava o estmulo condicionado ao animal (uma luz acesa por exemplo). Imediatamente apresentava o estmulo no condicionado ( a comida). Depois de sucessivas experimentaes pareando luz e comida, o animal salivava diante da luz sem a presena do alimento. O animal estava, ento, condicionado a responder diante de estmulos no condicionados (como a luz). Concluiu que o reforo era necessrio para que a aprendizagem ocorresse.
Pavlov e seus associados estudaram, na formao da resposta condicionada, fenmenos correlatos como o reforo, a extino, a generalizao, a discriminao e o condicionamento de ordem superior, todos termos muito conhecidos na Psicologia atual.
Skinner comeou o estudo do comportamento pelo comportamento respondente e no desenvolvimento do seu trabalho teorizou sobre um outro tipo de relao do indivduo com seu ambiente, a qual viria a ser nova unidade de anlise de sua cincia: o comportamento operante.
Comportamento operante o comportamento voluntrio e abrange uma quantidade muito maior da atividade humana desde os comportamentos do beb de balbuciar, at os comportamentos mais sofisticados que o adulto apresenta. O comportamento operante diz Keller inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, tm um efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. Ler este texto, namorar, tocar violo... so todos exemplos de comportamento operante. O condicionamento do comportamento operante tem seus fundamentos na Lei de Efeito, de Thorndike.
A idia de que a aprendizagem de uma ao apropriada ou operante pode ser reforada fortalecida se a ao for seguida de uma conseqncia agradvel. Isto aumenta a probabilidade da ao ocorrer novamente. No condicionamento operante, o reforamento pode ser positivo ou negativo. Se positivo, a ao diretamente recompensada, aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz, se negativo, ela indiretamente recompensada pela remoo ou afastamento de algo desagradvel, aumenta a probabilidade da resposta que o remove ou atenua.
Outros processos foram sendo formulados pela anlise Experimental do comportamento, como a extino e a punio.
Extino um procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente de ser reforada. Como conseqncia, a resposta diminuir de freqncia e at mesmo poder deixar de ser emitida.
O tempo necessrio para que a resposta deixe de ser emitida depender da histria e do valor do reforo envolvido.
Punio outro procedimento importante que envolve a conseqenciao de uma resposta quando h apresentao de um estmulo aversivo ou remoo de um reforador positivo presente.
Os dados de pesquisa mostram que a supresso do comportamento punido s definitiva se a punio for extremamente intensa, isto porque as razes que levaram ao que se pune no so alteradas com a punio.
Punir aes leva supresso temporria de resposta sem, contudo, alterar a motivao.
- BOCK, A. M. M. A Gestalt. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 59-69.
GESTALT
A Psicologia da Gestalt uma das tendncias tericas mais coerentes e coesas da histria da Psicologia. Seus articuladores preocuparam-se em construir no s uma teoria consistente, mas tambm uma base metodolgica forte, que garantisse a consistncia terica.
Gestalt um termo alemo de difcil traduo, o mais prximo em portugus seria forma ou configurao.Iniciou-se com estudos de Ernst Mach (1838-1916), fsico, e Christian Von Ehrenfels (1859-1932), filsofo e psiclogo, e teve continuidade com Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Khler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1941).
Os estudos iniciaram pela percepo e sensao do movimento. Os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicolgicos envolvidos na iluso de tica, quando o estmulo fsico percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade.
Ex.: a sensao de movimento que temos no cinema, ao passo que uma fita cinematogrfica composta de fotogramas estticos.
A percepo o ponto de partida e tambm um dos temas centrais dessa teoria.os experimentos com percepo levaram os tericos da Gestalt ao questionamento de um princpio implcito na teoria behaviorista que h relao de causa e efeito entre o estmulo e a resposta porque para os gestaltistas, entre o estmulo que o meio fornece e a resposta do indivduo, encontra-se o processo de percepo. O que o indivduo percebe e como percebe so achados importantes para a compreenso do comportamento humano.
Tanto a Gestalt como o Behaviorismo definem a Psicologia como a cincia que estuda o comportamento. No entanto, assumem diferentes posies diante do mesmo objeto.
A Gestalt critica o Behaviorismo por considerar que o comportamento, quando estudado de maneira isolada de um contexto mais amplo, pode perder seu significado (o seu entendimento) para o psiclogo.
Os gestaltistas levam em considerao as condies que alteram a percepo do estmulo.
A maneira como percebemos um estmulo ir desencadear nosso comportamento.
Se ocorrer, por exemplo, de cumprimentarmos uma pessoa distncia e ao chegarmos mais perto depararmos com um atnito desconhecido, vamos interpretar que cometemos um erro de percepo. No entanto, no momento em que confundimos a pessoa, estvamos de fato cumprimentando um amigo.
A nossa percepo do estmulo em determinadas condies ambientais mediatizada pela forma como interpretamos o contedo percebido.
Se nos elementos percebidos no h equilbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, no alcanaremos a boa-forma, que supera a iluso de tica.
Uma boa-forma permite a relao figura-fundo, sua separao. Quando isso no ocorre, torna-se difcil distinguir o que figura e o que fundo, como nos exemplos abaixo:
O conjunto de estmulos determinantes do comportamento denominado meio ou meio ambiental. So conhecidos dois tipos de meios: meio geogrfico e meio comportamental.
O meio geogrfico o meio enquanto tal, o meio fsico em termos objetivos.
O meio comportamental o meio resultante da interao do indivduo com o meio fsico e implica a interpretao desse meio atravs das foras que regem a percepo (equilbrio, simetria, estabilidade e simplicidade).
No exemplo do cumprimento, a pessoa cumprimentada era um desconhecido, se s tivssemos acesso ao meio geogrfico. No entanto, no momento de um encontro casual (no trnsito em movimento, por exemplo) fomos levados a uma interpretao diferente da realidade, confundindo com uma pessoa conhecida. Esta interpretao subjetiva, particular, da realidade, criada por nossa mente, o meio comportamental. Logo, naturalmente, nosso comportamento desencadeado pela percepo do meio comportamental.
Ainda com esse exemplo, podemos destacar que houve tambm uma tendncia a estabelecer a unidade das semelhanas entre as duas pessoas, mais que suas diferenas. Essa tendncia a juntar os elementos o que a Gestalt denomina de fora do campo psicolgico.
O campo psicolgico entendido como um campo de fora que nos leva a procurar a boa-forma. Tem a tendncia que garante a busca da melhor forma possvel em situaes que no esto muito estruturadas.
Ocorre de acordo com os princpios da proximidade, semelhana e fechamento.
Kurt Lewin (1890-1947), que trabalhou durante dez anos com Wertheimer, Koffka e Khler, parte da teoria da Gestalt para, ainda, construir um novo e genuno conhecimento: a Teoria de Campo.
O principal conceito de Lewin o do espao vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivduo num certo momento; e concebe como campo psicolgico, o que nos interessa, como o espao de vida considerado dinamicamente, onde se levam em conta no somente o indivduo e o meio, mas tambm a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente interdependentes: a percepo, mas tambm as caractersticas da personalidade do indivduo, componentes emocionais ligados ao grupo e prpria situao vivida, assim como a situaes passadas e que estejam ligadas ao acontecimento, na forma em que so representadas no espao de vida atual do indivduo.
- BOCK, A. M. M. A Psicanlise. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 70-84.
PSICANLISE
As teorias cientficas so produtos histricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram o desenvolvimento do conhecimento.
Sigmund Freud (1856-1939) foi um mdico vienense que alterou, radicalmente, o modo de pensar a vida psquica.
Ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo: as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas cientficos.
A investigao sistemtica desses problemas levou criao da Psicanlise.
O termo psicanlise usado para se referir a uma teoria, a um mtodo de investigao e a uma prtica profissional.
Freud publicou uma extensa obra relatando suas descobertas e formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana.
A psicanlise, enquanto mtodo de investigao, caracteriza-se pelo mtodo interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que manifesto por meio de aes e palavras ou pelas produes imaginrias, como os sonhos, os delrios, as associaes livres, os atos falhos.
A prtica profissional refere-se forma de tratamento a Anlise que busca o autoconhecimento ou a cura, que ocorre atravs desse autoconhecimento.
Atualmente, utilizada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientao; aplicada em trabalho com grupos, instituies.
Especializado em Psiquiatria, Freud clinicava utilizando a sugesto hipntica (e conseqente liberao das reaes emotivas associadas ao evento traumtico) como principal instrumento de trabalho na eliminao dos sintomas dos distrbios nervosos.
Aos poucos, abandonou a hipnose e desenvolveu a tcnica da concentrao, na qual a rememorao sistemtica era feita por meio da conversao normal.
Por fim, abandona as perguntas e a direo da sesso para se confiar por completo fala desordenada do paciente.
Passou a observar que, muitas vezes, os pacientes ficavam embaraados ou envergonhados com algumas idias ou imagens que lhes ocorriam. A essa fora psquica que se opunha a tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud denominou resistncia.
E chamou de represso o processo psquico que visa encobrir, fazer desaparecer da conscincia, uma idia ou representao insuportvel e dolorosa que est na origem do sintoma.
Esses contedos psquicos localizam-se no inconsciente.
Antes, definiremos o sintoma: uma produo, quer seja um comportamento, quer seja um pensamento, resultante de um conflito psquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfao do desejo. Ele ou pode ser o ponto de partida da investigao psicanaltica na tentativa de tentar descobrir os processos psquicos encobertos que determinam sua formao. Os sintomas da paciente Ana O. eram a paralisia e os distrbios do pensamento. Hoje, o sintoma da colega da sala de aula recusar-se a comer.
Em 1900, no livro A interpretao dos sonhos, Freud apresenta a primeira concepo sobre a estrutura e funcionamento da personalidade. Essa teoria refere-se existncia de trs sistemas ou instncias psquicas:
Inconsciente: exprime o conjunto dos contedos no presentes no campo atual da conscincia. constitudo por contedos reprimidos, que no tm acesso aos sistemas pr-consciente/consciente, pela ao de censuras internas. Estes contedos podem ter sido conscientes, em algum momento, e ter sido reprimidos, isto , foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente um sistema do aparelho psquico regido por leis prprias de funcionamento. Por exemplo, atemporal, no existem as noes de passado e presente.
Pr-consciente: sistema onde permanecem contedos acessveis conscincia.
Consciente: sistema que recebe ao mesmo tempo as informaes do mundo interior e exterior. Destacam-se os fenmenos da percepo, ateno, raciocnio.
A Descoberta da Sexualidade Infantil
Freud, em suas investigaes na prtica clnica sobre as causas e funcionamento das neuroses, descobriu que a grande maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivduos, isto , que na vida infantil estavam as experincias de carter traumtico, reprimidas, que configuravam como origem dos sintomas atuais, e confirmava-se, desta forma, que as ocorrncias destes perodos da vida deixam marcas profundas na estruturao da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psquica, e postulada a existncia da sexualidade infantil. Estas afirmaes tiveram profundas repercusses na sociedade puritana da poca, pela concepo vigente da infncia como inocente.
Os principais aspectos destas descobertas so:
A funo sexual existe desde o princpio da vida, logo aps o nascimento, e no s a partir da puberdade como afirmavam as idias dominantes.
O perodo de desenvolvimento da sexualidade longo e complexo at chegar sexualidade adulta, onde as funes de reproduo e de obteno do prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher. Esta afirmao contrariava as idias predominantes de que o sexo estava associado, exclusivamente, reproduo.
A libido, nas palavras de Freud, a energia dos instintos sexuais e s deles.
No processo de desenvolvimento psicossocial, o indivduo tem, nos primeiros tempos de vida, a funo sexual ligada sobrevivncia, e, portanto o prazer encontrado no prprio corpo. O corpo erotizado, isto , as excitaes sexuais esto localizadas em partes do corpo, e h um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em:
Fase oral: do nascimento a 1 ano de vida. A zona de erotizao a boca.
Fase anal: de 2 a 3 anos, o tronco inferior torna-se mais sensitivo, a zona de erotizao o nus.
Fase flica: de 3 a 5 anos, a parte genital se encontra desenvolvida, a zona de erotizao o rgo sexual.
Perodo de latncia: de 5 a 12 anos, uma espcie de perodo de intervalo na evoluo da sexualidade.
Fase genital: de 12 aos 18 anos e depois, ocorrem as mudanas posteriores dos rgos genitais. O objeto de erotizao ou de desejo no est mais no prprio corpo, mas em um objeto externo ao indivduo.
Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psquico e introduz os conceitos de Id, Ego e Superego para referir-se aos trs sistemas da personalidade.
O id constitui o reservatrio da energia psquica, onde se localizam as pulses: a de vida e a de morte. As caractersticas atribudas ao sistema inconsciente, na primeira teoria, so nesta teoria, atribudas ao id. regido pelo princpio do prazer.
O ego o sistema que estabelece o equilbrio entre as exigncias do id, as exigncias da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. regido pelo princpio da realidade, que, com o princpio do prazer, rege o funcionamento psquico. um regulador, na medida em que altera o princpio do prazer para buscar a satisfao considerando as condies objetivas da realidade. As funes bsicas do ego so: percepo, memria, sentimentos, pensamento.
O superego origina-se com o complexo de dipo, a partir da internalizao das proibies, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais so funes do superego. O contedo do superego refere-se a exigncias sociais e culturais. Est voltado para a nossa conscincia moral. Sua preocupao decidir se alguma coisa certa ou errada, para que a pessoa possa agir de acordo com os padres da sociedade.
importante considerar que esses sistemas no existem enquanto uma estrutura vazia, mas so sempre habitados pelo conjunto de experincias pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relao com o outro e em determinadas circunstncias sociais. Isso significa que, para compreender algum, necessrio resgatar sua histria pessoal, que est ligada histria de seus grupos e da sociedade em que vive.
importante percebermos o homem em todas suas dimenses: visveis (comportamento); invisveis (sentimentos); singulares (de cada um); genricas (de todos). Homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ao. Produto e produtor das subjetividades.
O homem um ser scio-histrico. O homem no pode ser concebido como ser natural, porque ele um produto histrico, nem pode ser estudado como ser isolado, porque se torna humano em funo de ser social, nem pode ser concebido como ser abstrato, porque o conjunto de suas relaes sociais.
O homem multideterminado: pelo suporte biolgico; pelo trabalho e utilizao de instrumentos; pela linguagem; pelas relaes sociais e por sua subjetividade.
- BOCK, A. M. M. Psicologias em Construo. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 85-96.
PSICOLOGIAS EM CONSTRUO
As tendncias tericas apresentadas, Behaviorismo, Gestalt e Psicanlise, constituram-se em matrizes do desenvolvimento da cincia psicolgica, propiciando o surgimento de inmeras abordagens da Psicologia contemporneas: Behaviorismo Radical (B. F. Skinner), Behaviorismo Cognitivista (A. Bandura), Psicologia Existencialista, Existencialismo (Martin Heiddeger), Gestalt Terapia (Pearls), Psicologia Analtica (Carl G.Jung), a Reichiana (W. Reich), Psicanlise Kleiniana (Melanie Klein) e a Lacaniana (J. Lacan), que deram continuidade teoria freudiana.
Podemos perceber que a Psicologia no ficou estagnada no tempo. Pelo contrrio: desenvolveu-se e, ao desenvolver-se, construiu abordagens que deram prosseguimento s j existentes, retomando conhecimentos antigos e superando-os. Enfim, a Psicologia uma cincia em constante processo de construo.
Agora, abordaremos uma vertente terica que surgiu no incio do sculo 20 e ficou restrita ao Leste europeu at os anos 60, quando explodiria na Europa e nos Estados Unidos como uma nova possibilidade terica. Estamos falando da Psicologia Scio-Histrica, que chegou ao Brasil nos anos 80 atravs da Psicologia Social e da Psicologia da Educao, ganhando importncia rapidamente.
Vigotski e a Psicologia Scio-Histrica
Esta vertente terica nasceu na ex-Unio Sovitica, embalada pela Revoluo de 1917 e pela teoria marxista. No Ocidente, a teoria Scio-Histrica ganharia importncia nos anos 70, tornando-se referncia para a Psicologia do Desenvolvimento, a Psicologia Social e para a Educao.
Tendo como referncia esta nova abordagem terica formulada por Vigotski, buscava-se construir uma Psicologia que superasse as tradies positivistas e estudasse o homem e seu mundo psquico como uma construo histrica e social da humanidade. Para Vigotski, o mundo psquico que temos hoje no foi nem ser sempre assim, pois sua caracterizao est diretamente ligada ao mundo material e s formas de vida que os homens vo construindo no decorrer da histria da humanidade.
Vigotski morreu muito cedo e no pde completar sua obra, mas deixou alguns princpios aos seus seguidores:
A compreenso das funes superiores do homem no pode ser alcanada pela psicologia animal, pois os animais no tm vida social e cultural.
As funes superiores do homem no podem ser vistas apenas como resultado da maturao de um organismo que j possui, em potencial, tais capacidades.
A linguagem e o pensamento humano tm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e explicao das funes superiores.
A conscincia e o comportamento so aspectos integrados de uma unidade, no podendo ser isolados pela Psicologia.
Vigotski desenvolveu, tambm, uma estrutura terica marxista para a Psicologia:
Todos os fenmenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformao.
O homem constitui-se e se transforma ao atuar sobre a natureza com sua atividade e seus instrumentos.
No se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois no se captam as determinaes que so constitutivas do objeto. Ao contrrio, preciso rastrear a evoluo dos fenmenos, pois esto em sua gnese e em seu movimento as explicaes para sua aparncia atual.
A mudana individual tem sua raiz nas condies sociais de vida. Assim, no a conscincia do homem que determina as formas de vida, mas a vida que se tem que determina a conscincia.
O desafio de Vigotski foi assumido por outros tericos, entre eles Luria e Leontiev, seus parceiros de trabalho. Sua obra ficou, por muitos anos, restrita ex-Unio Sovitica. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos e em pases do Terceiro Mundo, como o Brasil, Vigotski vem sendo estudado e utilizado, principalmente, nas reas de Psicologia da Educao e Psicologia Social. No Brasil, essas duas reas foram influenciadas pela obra de Vigotski na dcada de 80 - na Educao, atravs das teorias construtivistas da aprendizagem, principalmente a partir da influncia de Emlia Ferreiro; na Psicologia Social, pela atuao da professora Silvia Lane, que contribuiu significativamente para a construo de uma Psicologia Social crtica, permitindo que, ao se pensar o psiquismo humano, se falasse das condies sociais que so constitutivas deste mundo psicolgico.
Hoje, Vigotski um autor conhecido e seu pensamento fundamento da corrente denominada Psicologia Scio-Histrica ou Psicologia de Orientao Scio-Cultural.
A Psicologia Scio-Histrica, no Brasil, tem se constitudo, fundamentalmente, pela crtica viso liberal de homem que traz idias como:
O homem visto como ser autnomo, responsvel pelo seu prprio processo de individuao.
Uma relao de antagonismo entre o homem e a sociedade, em que esta faz eterna oposio aos anseios que seriam naturais do homem.
Uma viso de fenmeno psicolgico, na qual este tomado como uma entidade abstrata que tem, por natureza, caractersticas positivas que s no se manifestam se sofrerem impedimentos do mundo material e social. O fenmeno psicolgico, visto como enclausurado no homem, concebido como um verdadeiro eu.A Psicologia Scio-Histrica entende que essas concepes liberais construram uma cincia na qual o mundo psicolgico foi completamente deslocado do campo social e material. Esse mundo psicolgico passou, ento, a ser definido de maneira abstrata, como algo que j estivesse dentro do homem, pronto para se desenvolver - semelhante semente que germina. Esta viso liberal naturalizou o mundo psicolgico, abolindo, da Psicologia, as reflexes sobre o mundo social.
No Brasil, os tericos da Psicologia Scio-Histrica buscam construir uma concepo alternativa liberal. Retomaremos um pouco essas reflexes a partir de algumas idias fundamentais.
No existe natureza humanaNo existe uma essncia eterna e universal do homem, que no decorrer de sua vida se atualiza, gerando suas potencialidades e faculdades. Tal idia de natureza humana tem sido utilizada como fundamento da maioria das correntes psicolgicas e faz, na verdade, um trabalho de ocultamento das condies sociais, que so determinantes das individualidades.
Esta idia est ligada viso de indivduo autnomo, que tambm no aceita na Psicologia Scio-Histrica. O indivduo construdo ao longo de sua vida a partir de sua interveno no meio (sua atividade instrumental) e da relao com os outros homens. Somos nicos, mas no autnomos no sentido de termos um desenvolvimento independente ou j previsto pela semente de homem que carregamos.
Existe a condio humanaA concepo de homem da Psicologia Scio-Histrica pode ser assim sintetizada: o homem um ser ativo, social e histrico. essa a sua condio humana. O homem constri sua existncia a partir de uma ao sobre a realidade, que tem, por objetivo, satisfazer suas necessidades.
Mas essa ao e essas necessidades tm uma caracterstica fundamental: so sociais e produzidas historicamente em sociedade.
As necessidades bsicas do homem no so apenas biolgicas; elas, ao surgirem, so imediatamente socializadas. Por exemplo, os hbitos alimentares e o comportamento sexual do homem so formas sociais e no naturais de satisfazer necessidades biolgicas.
Atravs da atividade, o homem produz o necessrio para satisfazer essas necessidades. A atividade de cada indivduo, ou seja, sua ao particular, determinada e definida pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho. Entendido corno a transformao da natureza para a produo da existncia humana, o trabalho s possvel em sociedade. um processo pelo qual o homem estabelece, ao mesmo tempo, relao com a natureza e com os outros homens; essas relaes determinam-se reciprocamente. Portanto, o trabalho s pode ser entendido dentro de relaes sociais determinadas. So essas relaes que definem o lugar de cada indivduo e a sua atividade. Por isso, quando se diz que o homem um ser ativo, diz-se, ao mesmo tempo, que ele um ser social.
A ao do homem sobre a realidade que, obrigatoriamente, ocorre em sociedade, um processo histrico. uma ao de transformao da natureza que leva transformao do prprio homem. Quando produz os bens necessrios satisfao de suas necessidades, o homem estabelece novos parmetros na sua relao com a natureza, o que gera novas necessidades, que tambm, por sua vez, devero ser satisfeitas. As relaes sociais, nas quais ocorre esse processo, modificam-se medida que se desenvolvem as necessidades humanas e a produo que visa satisfaz-Ias. um processo de transformao constante das necessidades e da atividade dos homens e das relaes que estes estabelecem entre si para a produo de sua existncia. Esse movimento tem por base a contradio: o desenvolvimento das necessidades humanas e das formas de satisfaz-Ias, ao mesmo tempo em que s so possveis diante de determinadas relaes sociais, provocam a necessidade de transformao dessas mesmas relaes e condicionam o aparecimento de novas relaes sociais. Esse processo histrico construdo pelo homem e esse processo histrico que constri o homem. Assim, o homem um ser ativo, social e histrico.
O homem criado pelo homemNo h uma natureza humana pronta, nem mesmo aptides prontas. A "aptido" do homem est, justamente, no fato de poder desenvolver vrias aptides. Esse desenvolvimento se d na relao com os outros homens atravs do contato com a cultura j constituda e das atividades que realiza neste meio.
Os objetos produzidos pelos homens materializam a histria e cristalizam as "aptides" desenvolvidas pelas geraes anteriores. Quando os manuseia e deles se apropria, o homem desenvolve atividades que reproduzem os traos essenciais das atividades acumuladas e cristalizadas nos objetos. A criana que aprende a manusear um lpis est, de alguma forma, submetida forma, consistncia, s possibilidades e aos limites do lpis. Isso envolve no apenas uma questo "fsica", material, mas, necessariamente, uma condio social e histrica do uso e significado do lpis. As habilidades humanas, que utilizam o lpis como seu instrumento, esto cristalizadas na forma, na consistncia e nas possibilidades do lpis, bem como nos seus limites e significados. Nas relaes com os outros homens ocorre a "descristalizao" destas possibilidades - a "mgica" acontece - e, do lpis, o pequeno homem retira suas habilidades de rabiscar, escrever e desenhar, colocando-se, assim, no "patamar" da histria, tornando-se capaz de recuper-Ia e transform-Ia. Portanto, do instrumento e das relaes sociais, nas quais esse instrumento utilizado, que o homem retira suas possibilidades humanas.
Esse processo acontece com todas as suas aptides. O homem, ao nascer, candidato humanidade e a adquire no processo de apropriao do mundo. Nesse processo, converte o mundo externo em um mundo interno e desenvolve, de forma singular, sua individualidade.
Assim, atravs da mediao das relaes sociais e das atividades que desenvolve, o homem se individualiza, torna-se homem, desenvolve suas possibilidades e significa seu mundo.
A linguagem instrumento fundamental nesse processo e, como instrumento, tambm produzida social e historicamente, e dela tambm o homem deve se apropriar.
A linguagem materializa e d forma a uma das aptides humanas: a capacidade de representar a realidade. Juntamente om a atividade, o homem desenvolve o pensamento. Atravs da linguagem, o pensamento objetiva-se, permitindo a comunicao das significaes e o seu desenvolvimento.
Mas o pensamento humano, historicamente transforma-se em algo mais complexo, justamente por representar, cada vez melhor, a complexidade da vida humana em sociedade. Transforma-se em conscincia. A linguagem instrumento essencial na construo da conscincia, na construo de um mundo interno, psicolgico. Permite a representao no s da realidade imediata, mas das mediaes que ocorrem na relao do homem com essa realidade. Assim, a linguagem apreende e materializa o mundo de significaes, que construdo no processo social e histrico.
Quando se apropria da linguagem enquanto instrumento, o indivduo tem acesso a um mundo de significaes historicamente produzido. Alm disso, a linguagem tambm instrumento de mediao na apropriao de outros instrumentos. Por isso, quando se torna indivduo - o que s ocorre socialmente - o homem apropria-se de todos os significados sociais. Mas, por ser ativo, tambm atribui significados, ou seja, apropria-se da histria, apreende o mundo, atribuindo-lhe um sentido pessoal construdo a partir de sua atividade, de suas relaes e dos significados aprendidos. Esse processo de apropriao do mundo social permite o desenvolvimento da conscincia no homem.
O homem concreto objeto de estudo da PsicologiaA Psicologia deve buscar compreender o indivduo como ser determinado histrica e socialmente. Esse indivduo jamais poder ser compreendido seno por suas relaes e vnculos sociais, pela
sua insero em uma determinada sociedade, em um momento histrico especfico.
O homem existe, age e pensa de certa maneira porque existe em um dado momento e local, vivendo determinadas relaes.
A conscincia humana revela as determinaes sociais e histricas do homem - no diretamente, de maneira imediata, porque no assim, mecanicamente, que se processa a conscincia.
As mediaes devem ser desvendadas, pois passam pelas formas de atividade e relaes sociais, pelos significados atribudos nesse processo a toda realidade na qual vivem os homens. necessrio conhecer alm da aparncia, buscando a essncia deste processo, que revela o movimento de transformao constante a partir da contradio, entendida como princpio fundamental do movimento da realidade.
Assim, para conhecer o homem preciso situ-Io em um momento histrico, identificar as determinaes e desvend-Ias. Para entender o movimento contraditrio da totalidade na qual se encontram os indivduos, deve-se partir do geral para o particular para o processo individual de relao entre atividade e conscincia. necessrio perceber o singular e seu movimento como parte do movimento geral e, ao revelar essas mediaes, compreender no s o geral, mas o particular. dessa forma que o indivduo deve ser entendido pela Psicologia fundamentada no materialismo histrico e dialtico.
Subjetividade social e subjetividade individualNesta teoria, os fenmenos sociais no so externos aos indivduos nem so fenmenos que acontecem na sociedade e pouco tm a ver com cada um de ns. Os fenmenos sociais esto, de forma simultnea, dentro e fora dos indivduos, isto , esto na subjetividade individual e na subjetividade social.
A subjetividade deve ser compreendida como "um sistema integrador do interno e do externo, tanto em sua dimenso social, como individual, que por sua gnese tambm social... A subjetividade no interna nem externa: ela supe outra representao terica na qual o interno e o externo deixam de ser dimenses excludentes e se convertem em dimenses constitutivas de uma nova qualidade do ser: o subjetivo. Como dimenses da subjetividade ambos (o interno e o externo) se integram e desintegram de mltiplas formas no curso de seu desenvolvimento, no processo dentro do qual o que era interno pode converter-se em externo e vice-versa". (Gonzales Rey, 1997)
A subjetividade individual representa a constituio da histria de relaes sociais do sujeito concreto dentro de um sistema individual. O indivduo, ao viver relaes sociais determinadas e experincias determinadas em uma cultura que tem idias e valores prprios, vai se constituindo, ou seja, vai construindo sentido para as experincias que vivencia. Este espao pessoal dos sentidos que atribumos ao mundo se configura como a subjetividade individual.
A subjetividade social, conforme Gonzalez Rey (1997), exatamente a aresta subjetiva da constituio da sociedade. Refere-se "ao sistema integral de configuraes subjetivas (grupais ou individuais), que se articulam nos distintos nveis da vida social..."
Assim, para a Psicologia Scio-Histrica, no h como se saber de um indivduo sem que se conhea seu mundo. Para compreender o que cada um de ns sente e pensa, e como cada um de ns age, preciso conhecer o mundo social no qual estamos imersos e do qual somos construtores; preciso investigar os valores sociais, as formas de relao e de produo da sobrevivncia de nosso mundo, e as formas de ser de nosso tempo.
Para facilitar a compreenso dessas noes bsicas da Psicologia Scio-Histrica; sugerimos-lhe que reflita sobre o que sente, pensa e como age, identificando em seu mundo social os espaos nos quais estas formas se configuram, pois, com certeza, nelas que voc busca a matria-prima para construir sua forma particular de ser. Mesmo sem perceber, voc as refora ou reconstri diariamente, atuando para que elas se mantenham. H um movimento constante que vai de voc para o mundo social e que lhe vem deste mesmo mundo. O instrumento bsico para esta relao a linguagem.
Para a teoria Scio-Histrica, os fenmenos do mundo psquico no so naturais do mundo psquico, mas fenmenos que vo se constituindo conforme o homem atua no mundo e se relaciona com os outros homens. O mundo social deixa de ser visto como um espao de oposio a nossas vontades e impulsos, passando a ser visto como o lugar no qual nosso mundo psicolgico se constitui.
- BOCK, A. M. M. A Psicologia social. In: ______. Psicologias uma introduo ao estudo de Psicologia. So Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 135-149.A PSICOLOGIA SOCIAL
Psicologia Social a rea da Psicologia que procura estudar a interao social. A interao social, a interdependncia entre os indivduos, o encontro social so os objetos investigados por essa rea da Psicologia. Dessa perspectiva os principais conceitos so: a percepo social,; a comunicao; as atitudes; a mudana de atitudes; o processo de socializao; os grupos sociais e os papis sociais.
Percepo SocialPercebemos-nos uns aos outros. E percebemos no s a presena do outro mas o conjunto de caractersticas que se apresenta, o que nos possibilita ter uma impresso dele. A partir dos nossos contatos com o mundo vamos organizando informaes em nossa cognio (organizao do conhecimento no nvel da conscincia), esta organizao que nos permitir compreender ou categorizar um novo fato. A percepo um processo que vai desde a recepo do estmulo pelos rgos dos sentidos at a atribuio de significado ao estmulo.
ComunicaoA comunicao um processo que envolve codificao (formao de um sistema de cdigos) e decodificao (a forma de procurar entender a codificao) de mensagens. Estas mensagens permitem uma troca de informaes entre os indivduos. A comunicao no constituda apenas de cdigo verbal. Tambm utilizamos para comunicao expresses do rosto, gestos, movimentos, desenhos e sinais.
AtitudesA partir da percepo do meio social e dos outros, o indivduo vai organizando estas informaes, relacionando-as com afetos (positivos/negativos) e desenvolvendo uma predisposio para agir (favorvel ou desfavoravelmente) em relao s pessoas e aos objetos presentes no meio social. As informaes com forte carga afetiva, que predispem o indivduo para uma determinada ao (comportamento), damos o nome de atitudes. Diferentemente do senso comum, para a Psicologia Social, ns no tomamos atitudes (comportamento, ao), ns desenvolvemos atitudes (crenas, valores, opinies) em relao aos objetos do meio social.
Mudana De AtitudesAs atitudes podem ser modificadas a partir de novas informaes, novos afetos, ou novos comportamentos ou situaes. Podemos ainda mudar uma atitude quando somos obrigados a nos comportar em desacordo com ela.
Processo De SocializaoNossas atitudes so importantes, pois elas de certa forma norteiam nosso comportamentos. Ainda h influencia dos motivos, interesses e necessidades com que nos apresentamos na situao. A formao de nossas crenas, valores e significados d-se por meio da socializao. Nesse processo, o indivduo ao tornar-se membro de um determinado conjunto seus cdigos, suas normas e regras bsicas de relacionamento, apropriando-se de um conjunto de conhecimentos acumulados por este conjunto.
Grupos SociaisOs grupos sociais so pequenas organizaes de indivduos que, possuindo objetivos em comuns, desenvolvem aes na direo desses objetivos. Para garantir esta organizao possuem normas, formas de pressionar seus integrantes para que se conformem normas; um funcionamento determinado, com tarefas e funes distribudas entre seus membros, formas de cooperao e de competio, apresentam aspectos que atraem os indivduos, impedindo que abandonem o grupo.
Papis SociaisOs papis sociais nos permite compreender a situao social, pois so referncias para a nossa percepo do outro, ao mesmo tempo que so referncias para nosso prprio comportamento. A prender os nossos papis sociais , na realidade, aprender o conjunto de rituais que nossa sociedade criou.
Crticas A Psicologia SocialAt o momento foi apresentada uma Psicologia descritiva que procura organizar e dar nomes aos processos observveis que ocorrem nas interaes sociais. A psicologia Social tradicional pensa o homem como um ser que reage s estimulaes externas, atribui-lhes significado e se comporta. O homem um ser no espao social. uma psicologia que parte de uma noo estreita do social. Este considerado apenas como a relao entre as pessoas, a interao social, e no como um conjunto de produes humanas capazes de, ao mesmo tempo em que vo construindo a realidade social, construir tambm o indivduo. Esta concepo ser a referncia para a construo da nova Psicologia Social.Uma Nova Psicologia SocialA nova Psicologia Social concebe o homem como um ser se natureza social. O homem um ser social que constri a si prprio, ao mesmo tempo que constri, com outros homens, a sociedade e sua histria. A nova Psicologia Social desvincula-se da tradio norte-americana de cincia pragmtica, com intenes de prever o comportamento e manipula-lo, optando por uma cincia que, ao melhorar a compreenso que se tem da realidade social e humana, permita ao homem transform-la. A nova Psicologia ir propor como conceitos bsico de anlise, a atividade, a conscincia e a identidade.Atividade a unidade bsica fundamental da vida do sujeito material. por meio da atividade que o homem se apropria do mundo, ou seja, a atividade que propicia a transio daquilo que est fora do homem para dentro dele. A atividade humana a base do conhecimento e do pensamento do homem. Aqui est se considerando que os indivduos apresentam uma necessidade de manter uma relao ativa com o mundo externo, transformando-o. Ao fazer isso, estamos construindo a ns mesmos.
ConscinciaA conscincia humana expressa a forma como o homem se relaciona com o mundo objetivo. O homem apresenta seu modo de reagir ao mundo objetivo: ele o compreende, isto , transforma-o em idias e imagens e estabelece relaes entre essas informaes, de modo a compreender o que se produz na realidade ambiente. A conscincia um certo saber., que no se limita ao saber lgico, inclui o saber das emoes, e sentimentos do homem, o saber dos desejos. A conscincia do homem produto das relaes sociais que os homens estabelecem. O homem encontra um mundo de objetos e significados j construdos pelos outros homens. Nas relaes sociais, ele se apropria desse mundo cultural e desenvolve o sentido pessoal. Produz, assim uma compreenso sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre os outros.
IdentidadeSe a conscincia est em movimento, se o homem, conseqentemente, est em movimento, a conscincia que desenvolve sobre o eu mesmo no poderia estar parada. Estamos nos transformando a cada momento, a cada nova relao com o mundo social. Identidade a denominao dada s representaes que o indivduo desenvolve a respeito de si mesmo, a partir de suas vivncias. A identidade a sntese pessoal sobre si mesmo, incluindo dados pessoais (cor, idade, sexo), biografia, atributos que os outros lhe conferem, permitindo uma representao a respeito de si. Este conceito supera a compreenso do homem enquanto conjunto de papis, de valores, habilidades, de atitudes, etc, pois compreende todos estes aspectos integrados, o homem como totalidade. A identidade do indivduo um processo continuo de seu estar sendo no mundo.
- LANE, S. T. M. A Psicologia Social e uma nova concepo de homem para a Psicologia. In: LANE, S. T. M., GODO, W. (Orgs.) Psicologia Social O homem em movimento. So Paulo: Editora Brasiliense, 1999, p. 10-19.
PSICOLOGIA SOCIAL E UMA NOVA CONCEPO DE HOMEM PARA A PSICOLOGIAA relao entre a Psicologia e a Psicologia Social deve ser entendida em sua perspectiva histrica, quando na dcada de 50 se iniciam sistematizaes em termos da Psicologia Social, dentro das duas tendncias predominantes: uma, na tradio pragmtica dos Estados Unidos, visando alterar e/ou criar atitudes, interferir nas relaes grupais para harmoniz-las e assim garantir a produtividade do grupo uma atuao que se caracteriza pela euforia de uma interveno que minimizaria conflitos, tornando os homens felizes reconstrutores da humanidade que acabava de sair da destruio de uma Segunda Guerra Mundial. A outra tendncia, que tambm procura conhecimentos que evitem novas catstrofes mundiais, segue a tradio filosfica europia, com razes na fenomenologia, buscando modelos cientficos totalizantes, como Lewin e sua teoria de Campo.A euforia deste ramo cientfico denominado Psicologia Social dura relativamente pouco, pois sua eficcia ecomea a ser questionada em meados da dcada de 60, quando as anlises crticas apontavam para uma crise do conhecimento psicossocial que no conseguia intervir nem explicar, muito menos prever comportamentos sociais.
Na Frana, a tradio psicanaltica retomada com toda a veemncia aps o movimento de 68, e sob sua tica feita uma crtica psicologia social norte-americana como uma cincia ideolgica, reprodutora dos interesses da classe dominante, e produto de condies histrias especficas, o que invalida a transposio tal e qual deste conhecimento para outros pases, em outras condies histricos-sociais. Esse movimento tambm tem suas repercusses na Inglaterra, onde Israel e Tjfell analisam a crise sob o ponto de vista epistemolgico com os diferentes pressupostos que embasam o conhecimento cientfico a crtica ao positivismo, que em nome da objetividade perde o ser humano.
Na Amrica Latina, Terceiro Mundo, dependente econmica e culturalmente, a Psicologia Social oscila entre o pragmatismo norte-americano e a viso abrangente de um homem que s era compreendido filosfica ou sociologicamente ou seja, um homem abstrato. somente a partir do final da dcada de 70, comeo de 80, que psiclogos brasileiros comeam a fazer suas crticas, procurando novos rumos para uma Psicologia Social que atendesse nossa realidade. O primeiro passo para a superao da crise foi constatar a tradio biolgica da Psicologia, em que o indivduo era considerado um organismo que interage no meio fsico, sendo que os processos psicolgicos (o que ocorre dentro dele) so assumidos como causa, ou uma das causas que explicam o seu comportamento. Ou seja, para compreender o indivduo bastaria conhecer o que ocorre dentro dele, quando ele se defronta com estmulos do meio.
Porm o homem fala, pensa, aprende e ensina, transforma a natureza; o homem cultura, histria. Este homem biolgico no sobrevive por si e nem uma espcie que se reproduz tal e qual, com variaes decorrentes de clima, alimentao, etc. O seu organismo uma infra-estrutura que permite o desenvolvimento de uma superestrutura que social e, portanto, histrica. Deve, ento, ser visto como um produto histrico-social.
No discutimos as validades das leis de aprendizagem; indiscutvel que o reforo aumenta a probabilidade de ocorrncia do comportamento, assim como a punio extingue comportamentos, porm a questo se coloca por que se apreende certas coisas e outras so extintas, por que objetos so considerados reforadores e outros punidores? Em outras palavras, em que condies sociais ocorre a aprendizagem e o que ela significa no conjunto das relaes sociais que definem concretamente o indivduo na sociedade em que ele vive.
A ideologia nas cincias humanasA afirmativa de que o positivismo, na procura da objetividade dos fatos, perdera o ser humano decorreu de uma anlise crtica do conhecimento minucioso enquanto descrio de comportamentos que, no entanto, no dava conta do ser humano agente de mudana, sujeito da histria. O homem ou era socialmente determinado ou era causa de si mesmo: sociologismo vs biologismo? Se por um lado a psicanlise enfatizava a histria do indivduo, a sociologia recuperava, atravs do materialismo histrico, a especificidade de uma totalidade histrica concreta na anlise de cada sociedade. Portanto, caberia Psicologia Social recuperar o indivduo na interseco de sua histria com a histria de sua sociedade apenas este conhecimento nos permitiria compreender o homem enquanto produtor da histria.Na tradio e no entusiasmo de descrever o homem enquanto um sistema nervoso complexo que o permitia dominar e transformar a natureza, criando condies sui-generis para a sobrevivncia da espcie, os psiclogos se esqueceram de que este homem, junto com outros, ao transformar a natureza, se transformava ao longo da histria.
As psicologias tradicionais, apesar de suas contribuies para descrever a materialidade do organismo humano, pouco contribuem para entendermos o pensamento humano e seu desenvolvimento atravs das relaes entre os homens, para compreendermos o homem criativo, transformador sujeito da histria social de seu grupo.Se a Psicologia apenas descrever o que observado ou enfocar o indivduo como causa e efeito de sua individualidade, ela ter uma ao conservadora, estatizante ideolgica quaisquer que sejam as prticas decorrentes. Se o homem no for visto como produto e produtor, no s de sua histria pessoal mas da histria de sua sociedade, a Psicologia estar apenas reproduzindo condies necessrias para impedir a emergncia das contradies e a transformao social.
A psicologia social e o materialismo histricoSe o positivismo, ao enfrentar a contradio entre objetividade e subjetividade, perdeu o ser humano, produto e produtor da Histria, se tornou necessrio recuperar o subjetivismo enquanto materialidade psicolgica. A dualidade fsico x psquico implica uma concepo idealista do ser humano, na velha tradio animstica da psicologia, ou ento camos num organicismo onde homem e computador so imagem e semelhana um do outro. Nenhuma das duas tendncias d conta de explicar o homem criativo e transformador. dentro do materialismo histrico e da lgica dialtica que vamos encontrar os pressupostos epistemolgicos para a reconstruo de um conhecimento que atenda realidade social e ao cotidiano de cada indivduo e que permita uma interveno efetiva na rede de relaes sociais que define cada indivduo objeto da Psicologia Social.
Definies, conceitos e constructos que geram teorias abstratas em anda contribuem para uma prtica psicossocial. Para conhecer o indivduo deve-se perceber que o homem no sobrevive a no ser em relao com outros homens, portanto a dicotomia Indivduo x Grupo falsa desde seu nascimento o homem est inserido num grupo social.
O resgate deste fato permite ao psiclogo social se aprofundar na anlise do indivduo concreto, considerando a imbricao entre relaes grupais, linguagem, pensamento e aes na definio de caractersticas fundamentais para a anlise psicossocial.
A personalidade vista ento como categoria, decorrente do princpio de que o homem, ao agir, transformando o seu meio se transforma, criando caractersticas prprias que se tornam esperadas pelo seu grupo no desenvolver de suas atividades e de suas relaes com outros indivduos.
Na especificidade psicossocial tambm se deve analisar as relaes grupais enquanto mediadas pelas instituies sociais e como tal exercendo uma mediao ideolgica na atribuio de papis sociais e representaes decorrentes de atividades e relaes sociais tidas como adequadas, corretas, esperadas, etc.Desta forma, a anlise do processo grupal nos permite captar a dialtica indivduo-grupo, quando o indivduo e o grupo se tornam agentes da histria social, membros indissociveis da totalidade histrica que os produziu e a qual eles transformam por suas atividades, tambm indissociveis.
- BRAGHIROLLI, E. M., PEREIRA, S., RIZZON, L. A. O indivduo no meio social. In: ______. Temas de Psicologia Social. Petrpolis: Vozes, 1999, p. 11-36.
O INDIVDUO NO MEIO SOCIAL
Personalidade: Formao e DesenvolvimentoO vocbulo personalidade se origina de persona ou personare, que na lngua latina significava soar atravs, expresso que se referia mscara que os atores do antigo teatro grego utilizavam para caracterizar as personagens que representavam. Assim, no senso comum permanece a idia de que personalidade aquilo que refletido, que mostrado por meio dos papis sociais que as pessoas desempenham.
Hoje, a maioria dos psiclogos entende personalidade como conjunto dos traos e caractersticas singulares, tpicas de uma pessoa e que distinguem-na das demais. A personalidade abrange necessariamente a constituio fsica, com seus caracteres morfolgicos e fsico-qumicos, que se aliceram nas disposies herdadas. Abrange tambm todos os modos de interao entre as pessoas e o mundo: seus hbitos, valores e capacidades; suas aspiraes; seus modos de experimentar os afetos; suas maneiras habituais de se comportar no cenrio social. A personalidade muito mais do que aquilo que refletido por meio dos nossos comportamentos. Diz respeito totalidade daquilo que somos, no apenas do que somos hoje, mas do que fomos ontem e do que aspiramos ser no futuro.
A Psicologia tem a convico de que a personalidade uma totalidade sincrtica, resultante da ao dos fatores genticos e dos fatores ambientais. Sabe-se que sobre o alicerce biolgico, das disposies herdadas, que iro se plasmar as estruturas orgnicas. A ao continuada do meio, durante a vida intra-uterina desde o momento da concepo, bem como ao longo do processo de desenvolvimento de uma pessoa, vai depender das caractersticas de qualidade da composio gentica. com esta composio que vai dar a interao com o meio para a configurao de uma personalidade nica.
Uma questo que se coloca hoje o que, precisamente, se deve estrutura gentica e o que se deve influncia ambiental. Talvez tanto os progressos da gentica, como os das investigaes psicolgicas possam, em um futuro, esclarecer esta questo. Entretanto, j no h mais dvida no sentido de que tanto a hereditariedade como o meio so decisivos para a formao da personalidade; no h como negar ou reduzir a participao de um ou de outro fator. A personalidade s se constituir a partir das interaes que ocorrerem entre a criana e o seu meio prximo.
Formao de ImpressesA impresso que formamos de outra pessoa , em geral, o resumo de todas as observaes ou dados que pudemos reunir sobre ela. Observamos seu comportamento verbal e no-verbal, mas no de forma isolada. Levamos em considerao as circunstncias em que o comportamento ocorreu. Isso nos permite julgar a respeito das causas do comportamento observado, se ele deve ser atribudo a caractersticas ou intenes internas da pessoa, ou circunstncias externas, do meio ambiente. Exemplo:
Ao observarmos um indivduo debruado sobre a vitrine de uma joalheria, cujos vidros acabou de quebrar, julgamos que se trata de um ladro e talvez procuremos avisar a polcia. Se, no entanto, formos informados de que ele tropeou numa pedra e caiu para dentro da vitrine, nossa percepo a respeito dele muda radicalmente.
Algumas fontes de erro na Percepo SocialO Estado do PercebedorMuitos estudos demonstraram que as necessidades, os sentimentos, expectativas, etc., do percebedor influem nas suas percepes, podendo torna-las enganosas ou menos precisas. As pessoas tendem a projetar seus prprios sentimentos, intenes, valores, etc., nos outros, bem como ser mais sensveis a determinadas caractersticas devido ao seu estado emocional num determinado momento.
Teoria Implcita de PersonalidadeAtribui-se a uma pessoa um determinado trao de personalidade ao se inferir que seu comportamento deriva de determinada inteno ou intenes. No entanto, a percepo da pessoa no para a. Em geral, a partir deste trao atribudo, faz-se inferncia de muitos outros, a respeito dos quais no se tem informao. A maioria das pessoas tem uma teoria implcita a respeito da personalidade humana, isto , um conjunto de crenas a respeito de como determinados traos se conjugam. Por exemplo, ao inferir que determinada pessoa inteligente, possvel que lhe sejam tambm atribudas caractersticas de competente, criativa, ativa, e outros traos que no esto necessariamente relacionados.
Apesar de cada um de ns poder ter sua teoria implcita de personalidade, tambm existem aquelas compartilhadas por indivduos de uma mesma cultura e que vo se construir nos esteretipos.
EsteretiposUma constatao a respeito da teoria implcita de personalidade o fato dela existir e ser largamente compartilhada, a respeito de grupos tnicos (negros, japoneses, alemes, etc.), profissionais (advogados, psiclogos, mdicos), e de outros grupos. o que se denomina de esteretipo.
Esteretipo trata-se de uma supergeneralizao de uma caracterstica para toda uma categoria ou grupo de pessoas, generalizao cuja inadequao ser mais facilmente reconhecida quanto mais o percebedor conhecer o grupo ou categoria de pessoas percebidas. O esteretipo aproxima-se de uma generalizao defeituosa que provavelmente se vincula aos sistemas de crenas e valores dominantes.
Efeito das ExpectativasAs pessoas so capazes de identificar quais as expectativas que os outros tem a seu respeito. E elas ser particularmente importantes se forem as dos pais, ou as de professores de uma criana. A tendncia da criana, e dos adultos tambm, a de corresponder s expectativas (mesmo as negativas), criando o que se chama de profecia auto-realizadora. Nas palavra de Sawrey e Telford (1976, p.42), dando a uma pessoa um rtulo, freqentemente foramo-la a viver de acordo com ele....
- CIAMPA, A. C. Identidade. In: LANE, S. T. M., GODO, W. (Orgs.) Psicologia Social O homem em movimento. So Paulo: Editora Brasiliense, 1999, p. 58-75.
IDENTIDADE
Quem voc? uma pergunta que freqentemente nos fazem e que s vezes fazemos a ns mesmos.
Quando queremos conhecer a identidade de algum, quando nosso objetivo saber quem algum , nossa dificuldade consiste apenas em obter as informaes necessrias, tomando essas informaes das mais variadas fontes. Assim, obter as informaes necessrias uma questo prtica: quais as informaes significativas, quais as fontes confiveis, de forma a obter as informaes, como interpretar e analisar essas informaes, etc.
A forma mais simples, habitual e inicial de fornecer essas informaes fornecer o nome, um substantivo; se olharmos o dicionrio, veremos que substantivo a palavra que designa o ser, que nomeia o ser. Ns nos identificamos com esse nome, que nos identifica num conjunto de outros seres, que indica nossa singularidade: nosso nome prprio.
A no ser em casos excepcionais, o primeiro grupo social do qual fazemos parte a famlia, exatamente quem nos d nosso nome. Nosso primeiro nome nos diferencia de nossos familiares, enquanto o ltimo nos iguala a eles. Diferena e igualdade. uma primeira noo de identidade.
Sucessivamente, vamos nos diferenciando e nos igualando conforme os vrios grupos sociais de que fazemos parte: brasileiro, igual a outros brasileiros, diferente dos outros estrangeiros; homem ou mulher, entre outros.
O conhecimento de si dado pelo reconhecimento recproco dos indivduos identificados atravs de um determinado grupo social que existe objetivamente, com sua histria, suas tradies, suas normas, seus interesses, etc.
Um grupo pode existir objetivamente, por exemplo, em uma classe social, mas seus componentes podem no se identificar enquanto membro, e nem se reconhecerem reciprocamente. fcil, parece, perceber as conseqncias de tal fato, seja para o indivduo, seja para o grupo social.
Para compreendermos melhor a idia de ser a identidade constituda pelos grupos de que fazemos parte, faz-se necessrio refletirmos como um grupo existe objetivamente: atravs das relaes que estabelecem seus membros entre si e com o meio onde vivem, isto , pela sua prtica, pelo seu agir. Estamos constatando talvez uma obviedade: ns somos nossas aes, ns nos fazemos pela prtica.
At aqui estamos tratando a identidade como um dado a ser pesquisado, como um produto preexistente a ser conhecido, deixando de lado a questo fundamental de saber como se d esse dado, como se produz esse produto. A resposta pergunta quem sou eu? uma representao da identidade. Ento, torna-se necessrio partir da representao, como um produto, para analisar o prprio processo de produo.
Dizer que a identidade de uma pessoa um fenmeno social e no natural aceitvel pela grande maioria dos cientistas sociais. Por exemplo, antes de nascer, o nascituro j representado como filho de algum e essa representao prvia o constitui efetivamente, objetivamente, como filho, membro de uma determinada famlia.
verdade que no basta a representao prvia. O nascituro, uma vez nascido, constituir-se- como filho na medida em que as relaes nas quais esteja envolvido concretamente confirmem essa representao atravs de comportamentos que reforcem sua conduta como filho e assim por diante.
Contudo, na medida em que pressuposta a identificao da criana como filho (e dos adultos em questo como pais) que os comportamentos vo ocorrer, caracterizando a relao paterno-filial.
Desta forma, a identidade do filho, se de um lado conseqncia das relaes que se do, de outro com anterioridade uma condio dessas relaes. Ou seja, pressuposta uma identidade que re-posta a cada momento, sob pena de esses objetos sociais filho, pais, famlia, etc., deixarem de existir objetivamente.
Isto introduz uma complexidade que deve ser considerada aqui. Uma vez que a identidade pressuposta resposta, ela vista como dada e no como se dando num contnuo processo de identificao. Da a expectativa generalizada de que algum deve agir de acordo com o que (e conseqentemente ser tratado como tal).A posio de mim me identifica, discriminando-me como dotado de certos atributos que me do uma identidade considerada formalmente como atemporal. A re-posio da identidade deixa de ser vista como uma sucesso temporal, passando a ser vista como simples manifestao de um ser idntico a si-mesmo na sua permanncia e estabilidade. A mesmice de mim pressuposta como dada permanentemente e no como reposio de uma identidade que uma vez foi posta.
Dessa forma, cada posio minha me determina, fazendo com que minha existncia concreta seja a unidade da multiplicidade, que se realizada pelo desenvolvimento dessas determinaes.
Em cada momento de minha existncia, embora eu seja uma totalidade, manifesta-se uma parte de mim como desdobramento das mltiplas determinaes a que estou sujeito. Quando estou frente a meu filho, relaciono-me como pai; com meu pai, como filho; e assim por diante. Contudo, meu filho no me v apenas como pai, nem meu pai apenas como filho; nem eu compareo frente aos outros como portador de um nico papel, mas sim o como o representante de mim, com todas minhas determinaes que me tornam um indivduo concreto. Desta forma, estabelece-se uma intrincada rede de representaes que permeia todas as relaes, onde cada identidade reflete outra identidade, desaparecendo qualquer possibilidade de se estabelecer um fundamento originrio para cada uma delas.As atividades de indivduos identificados so normatizadas tendo em vista manter a estrutura social, vale dizer, conservar as identidades produzidas, paralisando o processo de identificao pela re-posio de identidades sobreposta, que um dia foram postas. Assim, a identidade que se constitui no produto de um permanente processo de identificao aparece como um dado e no como um dar-se constante que expressa o movimento social.
A anlise terica feita at aqui inverte totalmente a noo tradicional que se tem de identidade, ou seja, o que , . Mas, o que ser o que ?
Vejamos um exemplo clssico: uma semente j contm em si uma pequena plantinha, a planta plenamente desenvolvida e seus frutos, de onde sairo novas sementes. Ento, ser semente ser semente, mas no s a mesma semente, como tambm a plantinha, a planta desenvolvida, o fruto e a nova semente, uma multiplicidade que, naturalmente, j est contida na semente e que se concretiza pela transformao em fruto.
E para o homem: o que para o ser humano ser o que ? A histria do homem a contnua hominizao do homem, a partir do momento em que este, diferenciando-se do animal, produz suas condies de existncia, produzindo-se a si mesmo conseqentemente. De um lado, portanto, o homem no est limitado no seu vir-a-ser por um fim preestabelecido (como a semente); de outro, no est liberado das condies histricas em que vive, de modo que seu vir-a-ser fosse uma indeterminao absoluta.A primeira constatao acima de que o vir-a-ser do homem no pode se confundir com o de uma semente deve servir para questionar toda e qualquer concepo fatalista, mecanicista, de um destino inexor vel, seja nas suas formas mais supersticiosas (sou pobre porque Deus quer, nasceu para ser criminoso, etc), seja em formas mais sofisticadas de teorias pseudocientficas (por exemplo, em certas verses de teorias de personalidade).
A segunda constatao de que o homem no est liberado de suas condies histricas nos coloca um problema e uma tarefa.
O problema consiste em que no possvel dissociar o estudo de identidade do indivduo do da sociedade. As possibilidades de diferentes configuraes de identidade esto relacionadas com as diferentes configuraes da ordem social. no contexto histrico e social em que o homem vive que decorrem suas determinaes e, conseqentemente, emergem as possibilidades ou impossibilidades, os modos e as alternativas de identidade.
Acredito que, alm de outros, dois fatores podem impedir que o sujeito se engaje na produo de sua prpria histria e da histria da sociedade. O primeiro ter uma atitude, de um lado intelectual, frente questo da relao indivduo e sociedade, semelhante quela que nos leva a discutir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha: o que prevalece, primeiro a sociedade ou primeiro o indivduo? De outro lado, uma atitude prtica, semelhante do asno indeciso entre dois montes de feno, permanecendo no imobilismo: o que atacar primeiro, o indivduo ou a sociedade?
O segundo fator uma concepo de identidade como permanncia, como estabilidade; mais que uma simples concepo abstrata, vivermos privilegiando a permanncia e a estabilidade, e patologizando a crise e a contradio, a mudana e a transformao. Assim, como que estancamos o movimento, escamoteamos a contradio, impedimos a superao dialtica.- MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal Treinamento em grupo. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1997, p. 32-52, 96-166.
DESENVOLVIMENTO INTERPESSOALEu e os Outros
"Como trabalhar bem com outros? Como entender os outros e fazer-se entender? Por que os outros no conseguem ver o que eu vejo, como eu vejo, por que no percebem a clareza de minhas intenes e aes? Por que os outros interpretam erroneamente meus atos e palavras e complicam tudo? Por que no podemos ser objetivos no trabalho e deixar problemas pessoais de fora? Vamos ser prticos, e deixar as emoes e sentimentos de lado..."
Quem j no pensou assim, alguma vez, em algum momento ou situao?
Desde sempre, a convivncia humana difcil e desafiante. Escritores e poetas, atravs dos tempos, tm abordado a problemtica do relacionamento humano. Sartre, em sua admirvel pea teatral Huis Clos, faz a famosa afirmao: "O inferno so os outros..."
Estaremos realmente condenados a sofrer com os outros? Ou podemos ter esperanas de alcanar uma convivncia razoavelmente satisfatria e produtiva?
Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto , reagem s outras pessoas com as quais entram em contato: comunicam-se, simpatizam e sentem atraes, antipatizam e sentem averses, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem afeto.
Essas interferncias ou reaes, voluntrias ou involuntrias, intencionais ou inintencionais, constituem o processo de interao humana, em que cada pessoa na presena de outra pessoa no fica indiferente a essa situao de presena estimuladora. O processo de interao humana complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e no-manifestos, verbais e no-verbais, pensamentos, sentimentos, reaes mentais e/ou fsico-corporais.
Assim, um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um deslocamento fsico de aproximao ou afastamento constituem formas no-verbais de interao entre pessoas. Mesmo quando algum vira as costas ou fica em silncio, isto tambm interao - e tem um significado, pois comunica algo aos outros. O fato de 'sentir' a presena dos outros j interao.
A forma de interao humana mais freqente e usual, contudo, representada pelo processo amplo de comunicao, seja verbal ou no-verbal.
A primeira impresso
O contato inicial entre pessoas gera a chamada primeira impresso, o impacto que cada um causa ao outro. Essa primeira impresso est condicionada a um conjunto de fatores psicolgicos da experincia anterior de cada pessoa, suas expectativas e motivao no momento e a prpria situao do encontro.
Primeiras impresses podero ser muito diferentes se certos preconceitos prevalecerem ou no, se as predisposies do momento forem favorveis ou no aceitao de diferenas no outro e se o contexto for formal ou informal, de trabalho neutro ou de ansiedade e poder assimtrico, tal como, por exemplo, uma entrevista para solicitar emprego, ou promoo, ou outras vantagens.
Quando a primeira impresso positiva de ambos os lados, haver uma tendncia a estabelecer relaes de simpatia e aproximao que facilitaro o relacionamento interpessoal e as atividades em comum. No caso de assimetria de percepes iniciais, isto , impacto positivo de um lado, mas sem reciprocidade, o relacionamento tende a ser difcil, tenso, exigindo um esforo de ambas as partes para um conhecimento maior que possa modificar aquela primeira impresso.
Quantas vezes geramos e recebemos primeiras impresses errneas que nos trazem dificuldades e aborrecimentos desnecessrios, porque no nos dispomos a rever e, portanto, confirmar ou modificar aquela impresso. Quando isto acontece, naturalmente, ao longo de uma convivncia forada, como na situao de trabalho, por exemplo, percebemos, ento, quanto tempo precioso e quanta energia perdemos por no tomar a iniciativa de procurar conhecer melhor o outro e examinar as prprias atitudes e preconceitos, com o fito de desfazer impresses negativas no-realsticas.
muito cmodo jogar a culpa no outro pela situao equvoca, mas a realidade mostra a nossa parcela de responsabilidade nos eventos interpessoais. No h processos unilaterais na interao humana: tudo que acontece no relacionamento interpessoal decorre de duas fontes: eu e outro(s).
Relaes Interpessoais
As relaes interpessoais desenvolvem-se em decorrncia do processo de interao.
medida que as atividades e interaes prosseguem, os sentimentos despertados podem ser diferentes dos indicados inicialmente e ento, inevitavelmente, os sentimentos influenciaro as interaes e as prprias atividades.
Esse ciclo 'atividades-interaes-sentimentos' no se relaciona diretamente com a competncia tcnica de cada pessoa. Profissionais competentes individualmente podem render muito abaixo de sua capacidade por influncia do grupo e da situao de trabalho.
Quando uma pessoa comea a participar de um grupo, h uma base interna de diferenas que englobam conhecimentos, informaes, opinies, preconceitos, atitudes, experincia anterior, gostos, crenas, valores e estilo comportamental, o que traz inevitveis diferenas de percepes, opinies, sentimentos em relao a cada situao compartilhada. Essas diferenas passam a constituir um repertrio novo: o daquela pessoa naquele grupo. Como essas diferenas so encaradas e tratadas determina a modalidade de relacionamento entre membros do grupo, colegas de trabalho, superiores e subordinados.
Por exemplo: se no grupo h respeito pela opinio do outro, se a idia de cada um ouvida, e
discutida, estabelece-se uma modalidade de relacionamento diferente daquela em que no h respeito pela opinio do outro, quando idias e sentimentos no so ouvidos, ou ignorados, quando no h troca de informaes. A maneira de lidar com diferenas individuais cria um certo clima entre as pessoas e tem forte influncia sobre toda a vida em grupo, principalmente nos processos de comunicao, no relacionamento interpessoal, no comportamento organizacional e na produtividade.
Se as diferenas so aceitas e tratadas em aberto, a comunicao flui fcil, em dupla direo, as pessoas ouvem as outras, falam o que pensam e sentem, e tm possibilidades de dar e receber feedback. Se as diferenas so negadas e suprimidas, a comunicao torna-se falha, incompleta, insuficiente, com bloqueios e barreiras, distores e 'fofocas'. As pessoas no falam o que gostariam de falar, nem ouvem as outras, s captam o que refora sua imagem das outras e da situao.
O relacionamento interpessoal pode tornar-se e manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo trabalho cooperativo, em equipe, com integrao de esforos, conjugando as energias, conhecimentos e experincias para um produto maior que a soma das partes, ou seja, a to buscada sinergia.
Ou ento tender a tornar-se muito tenso, conflitivo, levando desintegrao de esforos, diviso de energias e crescente deteriorao do desempenho grupal para um estado de entropia do sistema e final dissoluo do grupo.
Relaes interpessoais e clima de grupo influenciam-se recproca e circularmente, caracterizando um ambiente agradvel e estimulante, ou desagradvel e averso, ou neutro e montono. Cada modalidade traz satisfaes ou insatisfaes pessoais e grupais.
A liderana e a participao eficaz em grupo dependem essencialmente da competncia interpessoal do lder e dos membros. O trabalho em equipe s ter expresso real e verdadeira se e qua