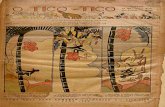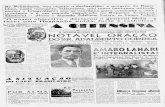guizardifrancine-.pdf
-
Upload
valdo-santanna -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of guizardifrancine-.pdf
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
1/259
Tese de Doutorado
DO CONTROLE SOCIAL GESTO PARTICIPATIVPERSPECTIVA (PS-SOBERANAS) DA
PARTICIPAO POLTICA NO SUS
Francini Lube Guizardi
rea de Concentrao:Poltica, Planejamento e Administrao em Sade2008
Orientadora: Roseni Pinheiro
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
2/259
FRANCINI LUBE GUIZARDI
Do Controle Social Gesto Participativa:perspectiva (ps-soberanas) da participao poltica no SUS
Tese apresentada como requisito parcialpara obteno do ttulo de Doutora, aoPrograma de Ps-Graduao em SadeColetiva, do Instituto de Medicina Socialda Universidade do Estado do Rio deJaneiro. rea de concentrao: Poltica,Planejamento e Administrao em Sade.
Orientadora: Prof. Dra. Roseni Pinheiro
Rio de JaneiroSetembro, 2008
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
3/259
C A T A L O G A O N A F O N T E U E R J / R E D E S I R I U S / C B C
G969 Guizardi, Francini Lube.Do controle social gesto participativa: perspectiva ps-soberanas da participao
poltica no SUS / Francini Lube Guizardi. 2008.258f.Orientador: Roseni Pinheiro.Tese (doutorado) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina
Social.1. Poltica de sade Teses. 2. Controle social Teses. 3. Sistema nico de Sade (Brasil)
Teses. 4. Participao poltica Teses. I. Pinheiro, Roseni. II. Universidade do Estado do Rio deJaneiro. Instituto de Medicina Social. Ill. Ttulo.
CDU 614.2(81) _______________________________________________________________________________
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
4/259
Para FelipePor Elis
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
5/259
AGRADECIMENTOS
Espero conseguir no reduzir este gesto a uma formalidade, ainda que no possadeixar de s-lo. Este trabalho chega a uma provisria finalizao em meio a um percursobastante intenso, caracterstico do esforo de produo de uma tese. Isto por si no nenhumaespecificidade da trajetria que hoje entrevejo em retrospectiva. Ela, contudo, no poderiadeixar de ser singular em seus encontros, desencontros, transformaes e rupturas requisitadase desejadas pelo caminho. A toda essa experincia sinto necessidade de agradecer, pois tantoeste trabalho, como os modos de ser e viver pelos quais hoje me reconheo, em ummovimento terno de estranhamento e acolhida, no poderiam advir sem tal trajetria. Noentanto, me percebo refm de um grande desconforto (que talvez explique a dificuldade em
escrever este ltimo texto), pois vejo que seria, sobretudo, leviano, esperar nomear todos quea conformaram, eles prprios co-autores dessa produo, que no se limita s pginasseguintes. Porm, seria tambm leviano deixar de explicitar quem em uma demonstrao degenerosidade e solidariedade ajudou a concretizar essa etapa, que se encerra solicitando umagrande mobilizao. Dentre tantos e tantas, agradeo em especial a Felipe, por seu amorguerreiro, pela presena, forte e doce, por toda ajuda, ao mesmo passo obstinada e dedicada,sem a qual com certeza a empreitada seria invivel em suas circunstncias. Elis, por todo o
sentido, pelas coisas simples que importam. Agradeo Ana, pela amizade construda com ocarinho de uma verdadeira fada madrinha; toda famlia, antiga famlia, pai, me, irmsqueridas, parte de mim que est sempre a acompanhar-me, e s outras famlias, que o bem-querer reuniu pela vida: Miguel, Mrcio, badecos e lilicas, aos amigos e amigas, que fazem doRio um lugar de morada, Rafa, Bruno, Felipe, Marcela e Veros. Agradeo minhaorientadora, Roseni, por todo aprendizado e por todas as oportunidades; aos colegas detrabalho do Labgesto, pela compreenso e pelo suporte ofertado; aos companheiros da
Escola Politcnica de Sade Joaquim Venncio. No poderia deixar de mencionar Ruben,pela referncia sempre disponvel e acolhedora, em todos estes anos no IMS; e a redeuniversidade nmade, que nos apresentou outras perspectivas de luta, que marcaramdefinitivamente as interrogaes e exclamaes dessa pesquisa.Agradeo CAPES, peloapoio financeiro, sem o qual tanto o doutoramento, como o mestrado, teriam sidograndemente dificultados.
Enfim, agradeo a todos os companheiros e companheiras de percurso, com imenso eterno carinho, por ter podido chegar at aqui, com algumas clarezas e muito mais dvidasquanto ao desafio cotidiano de viver em coerncia com o desejo de um mundo tambmgeneroso e solidrio nos encontros a que convida toda a gente.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
6/259
A poltica o horizonte da revoluo que notermina, mas continua a ser reaberta peloamor do tempo. Toda motivao humana emdireo poltica consiste nisto: em viver uma
tica da transformao atravs de um desejode participao que se revel amor pelo tempoa se construir.
Antonio Negri
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
7/259
RESUMO
GUIZARDI, F.L.Do Controle Social Gesto Participativa: perspectivas (ps-soberanas) para a participao poltica no SUS . Tese (Doutorado em Sade Coletiva) Instituto deMedicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008.
Este trabalho parte da hiptese de que discutir a participao poltica no SUS exige aproblematizao das opes e concepes que orientam sua definio como controle social,operacionalizado por meio de mecanismos de representao de interesses. Desta forma, ainteno de promover uma reflexo sobre a participao poltica no SUS remetida aocotidiano institucional, como desafio de construo de modos de gesto participativos. Aproposta metodolgica baseia-se em uma abordagem filosfica, que tem por objetivo delinearos conceitos e dispositivos de gesto propostos no campo da Sade Coletiva, as inovaestericas que ofertam ao debate sobre a gesto em sade, tendo por marcador o tema dapoltica. Nesse sentido, elegemos como perspectiva de anlise as rupturas e os planos queconstituem este campo, procurando mapear o que essa produo faz emergir comooportunidade de constituio de novas prticas sociais e dispositivos institucionais de gesto.Denominamosmatrizes conceituais os dois planos filosficos que selecionamos para estudono campo da Sade Coletiva, a saber, o Planejamento em Sade e o Modelo Assistencial emDefesa da Vida. Por fim, a pesquisa procura dialogar com as produes tericas analisadas,tendo por referncia a definio de poltica como experimentao, inveno de territriosexistenciais, criao de valor inerente s implicaes normativas da atividade, o que noscoloca o problema da transformao dos espaos institucionais e a produo das normas queos determinam. O conceito de Poltica que adotamos se define no em termos de igualdade(formal) que se contrape s diferenas (sociais), mas como co-produo de realidade que seconcretiza nas relaes entre Igualdade e Diferena, como acesso e uso dos bens-comuns, emsua capacidade indeterminada e aberta de criao de valor. Pensar a participao nestestermos significa tecer participaes como possibilidade de instituir normas, e no apenascomo controle da execuo e fiscalizao das normas existentes. Nessa concepo prope-sepensar a gesto como co-produo de sade, a partir da publicizao e articulao reticular dadimenso normativa da atividade humana, o que implica questionar a produo concreta(portanto local) das polticas e intervenes pblicas. Dentre as principais questes tericasdiscutidas, destacamos a articulao de redes de cooperao e a construo de saberes,artifcios tcnicos e dispositivos que viabilizem a produo e legitimao do valor-Sadecomo bem comum. Perspectiva que explicita as implicaes que desejamos incorporar ao
conceito de gesto participativa, como possvel tecnologia de governo ps-soberana. Aparticipao na sade pensada, deste modo, a partir do problema de constituio de umapoltica pblica que consiga permanecer aberta e imprevisvel, resguardando, contudo,condies materiais de igualdade. Nesse sentido, uma poltica pblica que rompa com osmecanismos da soberania moderna ao incorporar em seus desenhos institucionais aimprevisibilidade da produo normativa, forjando-se como dispositivo tico (portanto abertoe comum) de produo de valor.
Palavras-Chave: Participao Poltica. Controle social. Gesto participativa. PolticasPblicas.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
8/259
ABSTRACT
GUIZARDI, F.L. From the Social Control to the Participative Management:(postsovereignty) perspectives for political participation in the SUS . Tese (Doutorado em SadeColetiva) Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio deJaneiro, 2008.
This work is based on the hypothesis that discussing the political participation at the SUSrequires problematization of options and concepts that guide its definition as social control,operated by mechanisms of interests representation. The promotion of a reflection on thepolitical participation at the SUS is referred to the institutional routine, as a challenge to buildparticipative management modes. The methodological proposal is based on a philosophicalapproach, whose aim is to outline management concepts and devices proposed by PublicHealth, their theoretical innovations in the debate on healthcare management, marked by thetheme of politics. Conceptual matrixes are the two philosophical plans selected for study inthe field of Public Health,i.e., Health Planning and the Assistance Model in Defense of Life.The concept of Politics adopted here is defined not in terms of (formal) equality as opposed to(social) differences, but as co-production of the reality built within the relations betweenEquality and Difference, as access and use of common goods, in their indefinite and opencapacity to create values. Thinking about participation in these terms means to buildparticipations as means of setting rules, and not only controlling the fulfillment and inspectionof current rules. So we propose considering management as co-production of healthcare, fromthe publicization and reticulated articulation of the normative dimension of human activity,what means arguing the concrete production (thus local) of public politics and interventions.Among the main theoretical issues discussed here, we point out the articulation of cooperationnetworks and the construction of knowledge, technical support and devices that allow theproduction and legitimacy of the Health-value as common good. This perspective explains theimplications we want to incorporate to the concept of participative management as a possiblegovernment post-authoritative technology. Health participation is taken here from theconstitution of a public politics able to remain open and unpredictable, though keepingmaterial conditions for equality. In this sense, a public politics breaking with the mechanismsof modern authority while incorporating, in its institutional design, the unpredictability ofnormative production, pretending to be an ethical device (thus open and common) of valueproduction.Key words: Political participation. Social control. Participative management. Public policies.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
9/259
SUMRIO
PARTE I A CONSTITUIO DO PROBLEMA
1. POLTICA E SOBERANIA NO ESTADO MODERNO: UMA INTRODUO QUESTO DA PARTICIPAO POLTICA NO SUS........................................12
1.1. A participao poltica no SUS: cenrios, dispositivos e obstculos.....12
1.2. Trajetria histrica de constituio das formas hegemnicas deinsero e participao poltica....................................................................22
2. REMINISCNCIAS METODOLGICAS........................................................40
2.1. Emergncia do objeto...........................................................................40
2.2. Percursos metodolgicos......................................................................42
PARTE II GESTO NA SADE COLETIVA: MATRIZES CONCEITUAIS.
1. O PLANEJAMENTO EM SADE COMO MODELO DE GESTO................63
1.1. Fundamentos Conceituais do Planejamento em Sade .......................63
1.2. O Planejamento em Sade como Recurso de Transformao doModelo Assistencial: os Conceitos de Distrito Sanitrio e Programaoem Sade ....................................................................................................89
1.3. Ao Programtica em Sade: contexto terico e histrico de
emergncia................................................................................................103
1.4. A teoria comunicativa no campo do planejamento e gesto emsade .........................................................................................................115
1.5 Consideraes sobre a matriz conceitual do planejamento emsade .........................................................................................................125
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
10/259
2. A DEFESA DA VIDA COMO VALOR QUE ORIENTA A GESTO EMSADE.............................................................................................................128
2.1. Delineando a Matriz conceitual em Defesa da Vida............................128
2.2. Configurao tecnolgica do trabalho em sade: a micropoltica dotrabalho vivo em ato...................................................................................143
2.3 Gesto em sade e transformao do modelo assistencial.................151
2.4. A produo de democracia institucional nas Organizao Pblicasde Sade ...................................................................................................160
2.5. Consideraes sobre a matriz conceitual Em defesa da vida ..........181
PARTE III PARTICIPAO POLTICA, PRODUO DE VALOR E GESTO EMSADE
1. POLTICA E PRODUO DE VALOR.........................................................188
1.1. Notas antecedentes sobre poltica e produo de valor namodernidade..............................................................................................188
1.2. Atividade humana, suas relaes com a poltica, a linguagem eproduo de valor. .....................................................................................197
2. A GESTO EM SADE: NEXOS ENTRE O COTIDIANO INSTITUCIONAL EA PARTICIPAO POLTICA NO SUS...........................................................207
2.1. Pensar a gesto como produo de normas e de sade...................212
2.2. Perspectivas democrticas e suas condies de possibilidade: sobrea participao poltica e os desafios da reorganizao das instituies eda gesto em Sade..................................................................................216
3. CONSIDERAES PROVISRIAS SOBRE AS PERSPECTIVAS (PS-SOBERANAS) PARA A PARTICIPAO POLTICA NO SUS.......................241
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................................253
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
11/259
PARTE I
A Constituio do Problema
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
12/259
12
1. POLTICA E SOBERANIA NO ESTADO MODERNO: UMAINTRODUO QUESTO DA PARTICIPAO POLTICA
NO SUS.1.1. A participao poltica no SUS: cenrios, dispositivos e obstculos.
As lutas polticas pela democratizao de nossas relaes sociais, historicamentemarcadas por excluses, pela reificao de desigualdades e autoritarismos, tm no campo dasade um horizonte promissor, principalmente quando comparado histria do Estado
brasileiro e de suas polticas pblicas, em especial, as polticas sociais. Esse carter inovadorpode ser particularmente vislumbrado no Sistema nico de Sade (SUS) com a criao dasConferncias e Conselhos de Sade, espaos em que o princpio constitucional departicipao da comunidade adquiriu configurao institucional, expressando o projeto dedemocratizao do planejamento e execuo das polticas de sade no Brasil. Conselhos eConferncias de sade so instncias de controle social1 que representam o reconhecimentoformal da participao poltica como condio e recurso indispensvel construo do direito
sade.Ao falarmos em construo procuramos enfatizar sua apreenso no estritamente
como garantia constitucional, formalizao jurdica, mas como prticas de sociabilidade,princpios reguladores que estruturam uma linguagem pblica (TELLES, 1994, p.92) e queganham materialidade atravs da complexidade dos fluxos e movimentos societrios. Nessesentido, consideramos a conquista constitucional apenas uma faceta da construo efetiva dasade como um direito. Construo coletiva, que no entendemos como sendo relativa a
modelos ou metas a serem alcanadas, mas sim produo de realidades sociais. A noo dedireito aqui entendida como inveno poltica, no porque implica diretamente a instnciaestatal, mas porque presume a conformao de referncias de sociabilidade, a constituio deterritrios existenciais. Construo poltica do direito sade que faz do SUS campo de lutasprimordial nesse processo histrico-social e da participao poltica estratgia fundamental.
A criao dos Conselhos e Conferncias de Sade, com a Lei Federal no 8.142 de 28de dezembro de 1990, representa a tentativa de viabilizar uma arquitetura institucional que
1 Ao contrrio do sentido que a expresso possui na literatura sociolgica, controle social no Sistema nico deSade significado como controle da sociedade e de seus representantes sobre o modo como o Estado formula econcretiza a poltica pblica de sade.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
13/259
13
garantisse o projeto de democratizao do Estado. A formalizao dessas instncias consistiunum esforo em assegurar a existncia de espaos de representao dos segmentos quecompem o SUS, com carter permanente e deliberativo, dotados de prerrogativas de
formulao de estratgias, acompanhamento e fiscalizao da execuo das polticas de sade.
Os conselhos foram incorporados Constituio, na suposio de quese tornariam canais efetivos de participao da sociedade civil eformas inovadoras de gesto pblica a permitir o exerccio de umacidadania ativa, incorporando as foras vivas de uma comunidade gesto de seus problemas e implementao de polticas pblicasdestinadas a solucion-los (GERSCHMAN, 2004, p. 1672).
Contudo, tal como o direito sade no se define estritamente por sua explicitaoconstitucional, tambm a participao poltica no depende apenas da existncia formal detais instncias para ser efetiva na gesto das Polticas Pblicas de Sade. Como veremos aoretomar a literatura sobre o tema, particularmente no que diz respeito aos Conselhos de Sade, possvel observar aspectos recorrentes na experincia de participao poltica no SUS. Demodo geral tm persistido inmeros obstculos concretizao das principais expectativasvinculadas a essas instncias, dentre as quais se destaca a reverso do padro de planejamentoe execuo das polticas de sade em direo radicalizao do projeto democrtico. Aspecto
principalmente pertinente sua capacidade de determinar a produo das polticas pblicas apartir das caractersticas locais e regionais e da experincia dos setores e grupos sociaisimplicados.
Nessa direo, vrias publicaes2 apontam dificuldades que tm pautado essaparticipao e que em grande medida tm obstaculizado o exerccio de suas prerrogativas nadefinio, acompanhamento e avaliao das polticas de sade. Estudos sobre os Conselhos deSade, principal espao de participao poltica da comunidade, tm repetidamente indicado
srias amarras concretizao de seus objetivos. O Cadastro Nacional de Conselhos deSade, organizado pela Secretaria de Gesto Participativa do Ministrio da Sade identificoucomo obstculos relevantes concretizao dos conselhos
[...] o no-exerccio do seu carter deliberativo na maior parte dosmunicpios e estados; as precrias condies operacionais e de infra-estrutura; a falta de regularidade de funcionamento; a ausncia de
2 Para explorar essas discusses ver WENDHAUSEN e CARDOSO, 2007; SERAPIONI e ROMANI, 2006;BELLO, 2006; GUIZARDI e PINHEIRO, 2006; MORONI, 2005; COHN, 2003; BORGES, 2003; GUIZARDI,2003; RIBEIRO e ANDRADE; 2003; SOARES e RIBEIRO, 2003; TATAGIBA, 2002; LABRA eFIGUEIREDO, 2002; WENDHAUSEN e CAPONI, 2002; PESSOTO, NASCIMENTO e HIEMANN, 2000;RIBEIRO, 1997; PINHEIRO, 1995; SPOZATI e LOBO, 1992.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
14/259
14
outras formas de participao; a falta de transparncia nasinformaes da gesto pblica; a dificuldade e desmobilizao do seudesenvolvimento na formulao de estratgias e polticas para aconstruo do novo modelo de ateno sade; e a baixa
representatividade e legitimidade de conselheiros nas relaes comseus representados (MS, 2005).
Tais resultados demonstram que a inteno de vocalizao dos interesses e deconstruo de estratgias de interveno por grupos e setores usualmente segregados do planoinstitucional de deliberao poltica no tem se concretizado. Nesses dezessete anos deexperincia com os conselhos, hoje presentes em 5580 municpios brasileiros (MS, 2008),tem-se constatado que a participao, principalmente do segmento dos usurios, tende a ser
cerceada na medida em que a presena quantitativa assegurada com o requisito jurdico daparidade, mesmo quando cumprida, no significa uma correspondncia direta com acapacidade de interveno. Interferem nesse aspecto os artifcios de poder do discursotcnico-cientfico (WENDHAUSEN E CAPONI, 2002; RIBEIRO e ANDRADE, 2003;RIBEIRO, 1997), as dificuldades dos mecanismos de representao (COELHO, 2007;BELLO, 2006; SERAPIONI E ROMANI, 2006; COHN, 2003; LABRA e FIGUEIREDO,2002; TATAGIBA, 2002; SOARES e RIBEIRO, 2003; WENDHAUSEN e CAPONI, 2002;PESSOTO, NASCIMENTO e HIEMANN, 2001; BORGES, 2003); a tendncia dereproduo do jogo poltico local em suas relaes de fora e exerccio de poder (PINHEIRO,1995); e a apropriao dos conselhos pelo poder executivo, com um conseqente cartermonolgico prevalecendo na dinmica desses espaos (WENHAUSEN e CARDOSO, 2007;MORONI, 2005; GUIZARDI, 2003; RIBEIRO e ANDRADE, 2003; WENDHAUSEN eCAPONI, 2002). Apropriao que Wenhausen e Cardoso (2007), em um estudo sobre oprocesso decisrio nos conselhos gestores de sade, identificam particularmente no tocante formulao da agenda, j que sua pr-determinao pela representao governamental impedeos demais membros de proporem temas e assuntos, de modo que o controle freqente doEstado sobre a agenda dos conselhos acaba por determinar e definir os assuntos consideradosrelevantes e pertinentes (WENHAUSEN e CARDOSO, 2007; RIBEIRO e ANDRADE,2003; TATAGIBA, 2002).
Outro elemento recorrente na literatura, e que demonstra as dificuldades que osconselhos tm enfrentado no cumprimento de suas prerrogativas, diz respeito dependnciaentre a efetividade de seu funcionamento e o posicionamento poltico da gesto. Conforme
Campos (2007), a principal resistncia conservadora concretizao do que prescreve a LeiOrgnica da Sade (Lei 8.142) deriva da autonomia que os gestores possuem em optar ou no
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
15/259
15
pela implementao do SUS em seus respectivos sistemas municipais e estaduais, o que temacentuado as diferenas de acesso regional e gerado grande impreciso na definio daresponsabilidade sanitria de cada ente federado. Cohn (1995) estabelece uma correlao
direta entre o grau e a qualidade da participao no SUS e a identificao dos profissionais empostos de direo com o projeto de sua implementao e viabilizao. Aspecto tambmsinalizado por Coelho (2007), que relaciona o comprometimento dos gestores como fatorfavorvel atuao do conselho, alm de outras questes como a transparncia e a dinmicainclusiva da eleio de conselheiros e a presena do associativismo popular.
A relao das redes e movimentos sociais com o poder executivo assume, com isso, atendncia incorporao deste outro, identificado como representante da Sociedade Civil.
Na medida em que as aes dos Conselhos demonstram depender de decises polticas dossetores administrativos, grandes constrangimentos se colocam ao objetivo de formulaodemocrtica das polticas. Relao de foras que interfere e impe severos limites para aatuao dessas instncias no SUS, j que comumente no conseguem constituir-se como arenapoltica de fato marcada pela alteridade, pelo dilogo e pela presena dos posicionamentosdiversos que deveria expressar.
[...] apesar de o tema do controle social ter sido um objetivofundamental da construo democrtica do SUS, e continuar sendotema central das conferncias de sade em todos os nveis, deincontveis debates e numerosas publicaes, em geral no percebido como uma realidade prtica dos CS. E quando isso sucede, entendido como sendo uma funo das autoridades e no como ummeio para os cidados exercerem vigilncia sobre as aes dospoderes pblicos de modo que atendam o bem comum (LABRA eFIGUEIREDO, 2002, p. 545).
Essas consideraes apontam-nos uma tendncia de recusa, por parte do Estado, em
partilhar o poder decisrio nos espaos dos conselhos (TATAGIBA, 2002). Recusa que serevela muitas vezes na dificuldade de reconhecimento da legitimidade dos representantes daSociedade Civil, aspecto especialmente destacado quando retomamos a complexidade dasquestes tcnicas implicadas nas discusses levadas ao Conselho. Nesse sentido, no queconcerne representao nos conselhos, como afirma Andrade et al (2003), deve-se levar emconsiderao os conhecimentos especficos e as constantes modificaes normativas inerentesao campo da sade que, aliados a capacitaes espordicas e pouco efetivas, tm dificultado a
participao dos usurios no exerccio do controle social (p.449). Wendhausen e Cardoso(2007) apontam como problemas freqentes no funcionamento desses fruns a dessimetria
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
16/259
16
entre seus participantes, a falta de acesso a informaes, o uso de linguagem tcnica, prticasde manipulao poltica e atitudes ambguas dos setores governamentais em relao participao, que por vezes incentivada e por outras coibida. Dentre todos estes fatores as
autoras destacam que as relaes de fora nos conselhos so pautadas pelo recurso aconhecimentos e saberes considerados legtimos, de forma que aqueles que detm o poder,atravs do discurso competente, determinam como deve ser o jogo do poder (p.583).
Partindo dessas colocaes podemos especular a freqncia com que, nos conselhos desade, a legitimidade da argumentao tcnico-cientfica impe o silncio s experinciaspopulares e desautoriza o posicionamento de seus representantes ao colocar-se como requisitoao dilogo. Trata-se, como aponta Ribeiro (1997), da prevalncia do posicionamento e da
mediao da burocracia tcnica na forma como so operadas as estruturas decisrias, o queocorre em geral pela intermediao da poltica pela tcnica (p.86). Relao assimtrica depoder em que o contexto de deliberao poltica torna-se pouco acessvel aos representantesdos segmentos dos usurios e trabalhadores, concorrendo com isso para a burocratizao dosconselhos e para sua restrio a uma dinmica informativa e consultiva.
Cohn (2003), avaliando a relao entre Estado e Sociedade e as reconfiguraes dodireito sade, aponta que a democratizao da democracia no tem sido fortalecida pela
atuao dos conselhos, em razo de aspectos como a pouca rotatividade de seus membros e atendncia de distanciamento entre representantes e representados, responsvel pelo avano docarter burocrtico-administrativo destas instncias, em detrimento de sua dimenso poltica.A autora problematiza no contexto dos conselhos a prevalncia da poltica dos tcnicos, queconcorre para o fortalecimento de particularismos generalizados.
Como pude observar na pesquisa de mestrado, concluses referendadas por outrosdiversos trabalhos (SERAPIONE e ROMANI, 2006; BELLO, 2006; TATAGIBA, 2002;
SOARES e RIBEIRO, 2003; BORGES, 2003), a prpria premissa da representao tem-serevelado problemtica, uma vez que os conselheiros freqentemente no se colocam comoporta-vozes de demandas e questes coletivas, assumindo sua participao um cartercircunstancial. Muitos deles relatam o sentimento de isolamento, a dificuldade em representara sua entidade ou comunidade, levar suas informaes ao conselho e particip-la, ou torn-laciente de seus processos. De um modo geral, os conselheiros (falamos especificamente dosno-governamentais) [...] tm encontrado pouco respaldo e acompanhamento de suas aespor parte das entidades que representam (TATAGIBA, 2002, p.65). Assim, a prpriapremissa da representatividade dos que ocupam assento nos conselhos releva-se frgil, dadasas dificuldades em estabelecer mecanismos adequados para o acompanhamento e controle da
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
17/259
17
atuao dos representantes (BELLO, 2006). Aparte a prpria impossibilidade, caso fosseefetiva a relao entre conselheiros e suas respectivas entidades, de assegurar que estes socapazes de ser porta-vozes de todos os cidados (SERAPIONI e ROMANI, 2006).
Essa caracterstica recorrente incide negativamente na eficcia dessa forma departicipao, tolhendo-a em um de seus principais propsitos, qual seja, a vocalizao polticada Sociedade Civil, particularmente, dos grupos populares. Fator que nos permite perceber aexistncia de diferentes inseres nos Conselhos de Sade. De fato, pretender uma igualdadea partir da presena fsica dos representantes seria supor que ela pudesse superar em si mesmaum longo processo scio-histrico engendrado atravs de inmeras desigualdades. Comoindica Pinheiro (1995) em seu estudo sobre a institucionalizao destes espaos, os Conselhos
por ela pesquisados acabaram por reproduzir o jogo poltico local em suas relaes de fora eexerccio de poder, de forma que as decises tomadas tenderam a express-lo.
Aspecto observado inclusive no tocante seleo dos representantes que o constituem.Alis, este permanece sendo um tema pouco debatido. Os critrios e mecanismos de seleodas instituies que designam representantes para os conselhos de sade so poucopublicizados e problematizados, o que em vrias localidades possibilitou que a composiodos Conselhos de Sade fosse estabelecida por grupos e setores hegemnicos, reproduzindo
frequentemente a cultura poltica patrimonialista e clientelista que marca a constituio doEstado brasileiro.
Mesmo quando a Sociedade Civil organizada consegue impor sua presena nosconselhos, no possvel assegurar que a desigualdade inicial em termos de participao edistribuio de recursos e servios esteja sendo revertida, j que os segmentos maismobilizados tendem a ter acesso diferenciado, concentrar poder e meios de interveno(BELLO, 2006). Ribeiro e Andrade (1997) salientam que a desigualdade poltica que demarca
a atuao dos atores que representam interesses especficos nos espaos dos conselhos desade indica que o entendimento da desigualdade na distribuio de recursos relativos cultura poltica fundamental para a compreenso de fenmenos polticos contemporneos(p. 353). Nesta direo, Coelho (2004) sinaliza que grupos excludos, no organizados eorganizados, que no possuem vnculos polticos, encontram grande dificuldade em participardos Conselhos de Sade. Como afirma Pinheiro (1995);
Ainda que se defenda a paridade, como padro jurdico de igualdade
de condies, tem-se claro que se deseja uma paridade entre desiguais,pois a composio desses rgos no representa apenasreivindicaes, mas tambm profundas diferenas sociais. Diferenas
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
18/259
18
que refletem os efeitos do modo de produo de uma sociedade, e arelao desta com a poltica que tendem a obstaculizar formas derepresentao e mesmo de participao (p.91).
O reconhecimento desse cenrio tem levado proposio de um conjunto deintervenes, voltadas principalmente para o melhor funcionamento dos conselhos. Dentreelas, os processos de capacitao surgem como a principal estratgia. No pretendemosquestionar a importncia de uma preparao adequada dos conselheiros de sade, masconsideramos que focar o debate da participao nessa temtica apresenta limites queprecisam ser questionados.
Um deles no intervir nos mecanismos de representao, cujos critrios de seleo
(em funo mesmo da complexidade da dinmica desses espaos) levam a uma certaespecializao e elitizao desses conselheiros, tendendo a concentrar cada vez mais ocontingente de usurios que efetivamente participam dessas instncias. Corroborando essaavaliao, Gerschman (2004), em estudo sobre municpios do Rio de Janeiro, conclui que osindicadores de escolaridade, renda e sexo revelam que [...] a composio social dosconselheiros representantes dos usurios configura uma elite na comunidade a que pertencem(p. 1673). Em pesquisa realizada sobre o perfil dos conselheiros de sade na regiometropolitana do Rio de Janeiro, Labra e Figueiredo (2002) indicam que
A experincia prvia [como representante em conselhos de polticaspblicas], mais o nvel educacional acima da mdia e o pertencimento direo da organizao [que representam] revelariam duastendncias convergentes: a profissionalizao da atividade deconselheiro e certa elitizao dos ocupantes desse cargo, tendnciasessas reforadas pela predominncia de representantes de usurios dosexo masculino (p. 511).
Focar as respostas para o problema da participao poltica na capacitao dosconselheiros tende tambm a tornar complicada sua substituio pelas entidadesrepresentadas, sem mencionar que o domnio tcnico das questes pode ter como efeitoreverso o distanciamento da comunidade dos debates. Essas indicaes nos levam a pensarque talvez seja necessrio um exerccio de estranhamento frente aos recursos de participaoque conhecemos. Em vez de procurar adaptar os representantes (especialmente os dosusurios) complexa dinmica desses espaos, porque no questionar sua organizao, asrelaes de poder que os produzem? Como por exemplo, a necessidade e os usos que tornam
o discurso que neles se emprega um manejo dehipercodificaes ideolgicas(WENDHAUSEN e CAPONI, 2002), que obscurecem as opes polticas e as interpretaes
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
19/259
19
divergentes das questes tratadas? Porque no estranhar o desconhecimento dos usurios daspossibilidades de interveno?
Como salienta Chau (in WENDHAUSEN e CAPONI, 2002), a condio para o
prestgio e para a eficcia da competncia como discurso do conhecimento, depende daafirmao tcita e da aceitao tcita da incompetncia dos homens enquanto sujeitos sociaise polticos (p.11). Em outros termos, em nossa compreenso, a questo da participao nopassa pela qualificao dos discursos, uma vez dado o referencial da competncia e de sualegitimidade. Antes, ela no pode desvencilhar-se do questionamento desses signos e sentidosdo discurso autorizado, que pretende negligenciar as aes dos homens em sua condio(propriamente humana) de sujeitos polticos.
Embora sejam frequentemente reportadas aos espaos dos conselhos, as questes eobstculos mapeados no nos remetem apenas a eles. Ao contrrio, remontam a um lequeamplo de problemas que sinalizam que pensar a participao poltica no SUS significa hojeenfrentar alguns desafios como a reconstruo da arquitetura dessa participao; o resgate dopapel poltico dos conselhos e da atribuio de mobilizao social das conferncias; o respeitoe a expresso da multiplicidade dos sujeitos polticos; o reconhecimento de outras formas deorganizao; e mesmo o debate sobre a reforma do Estado (MORONI, 2005). Tais desafios
incidem sobre uma interrogao central efetivao do princpio de participao dacomunidade: o que se entende por participao? Que formas de participao poltica se esperaconstruir no SUS?
Usualmente antes de serem colocadas, essas perguntas so precedidas por freqentesqueixas sobre a baixa participao da comunidade no SUS (GERSCHMAN, 2004, p. 1673)ou, ainda, queixas sobre as concepes de participao que nela prevalecem. Vazquez et al(2003) constataram em pesquisa realizada em dois municpios de Pernambuco, que quase
60% dos 1592 entrevistados no sabem indicar formas de participao no SUS, sendo que emtorno de 20% dos demais reconhecem prioritariamente como participao o uso dos servios.Menos de 1% citou os mecanismos institucionais existentes. Esses dados nos sinalizam anecessidade de discutir as possibilidades de participao poltica existentes no SUS,especialmente quando atentamos para o processo de constituio de novos espaos, como osPlos de Educao Permanente, o Sistema de Ouvidoria, as mesas de negociao, as plenriasregionais e consultas pblicas, entre outros, que nos recolocam uma srie de questes, emespecial as que nos indagam sobre os caminhos possveis e os obstculos a serem enfrentadosna construo dessa participao.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
20/259
20
Nesse sentido, as questes trazidas sobre a concretizao do controle social nosconselhos de sade apontam-nos um debate necessrio sobre a eficcia (deliberativa) dosdispositivos institucionais de participao poltica hoje existentes no SUS. Remetem-nos,
sobretudo, discusso sobre a construo e articulao de novos recursos e artifcios departicipao que expressem a diversidade das experincias e posicionamentos implicados naproduo das polticas de sade. Isto porque, o princpio de participao da comunidadesupe que a constituio da poltica seja porosa s demandas, realidades e fazeres dosdiferentes agentes e grupos sociais, possibilitando no somente a atualizao das formas jinstitudas do direito sade, mas tambm a expresso de seus movimentos instituintes, emoutros termos, sua expresso como constituio de polticas pblicas e, portanto, constituio
do prprio direito.Em nossa compreenso esse desafio no trata, exatamente, de fazer o poltico
corresponder ao social, mas de inserir a produo do poltico na criao do social (NEGRI,2002, p.425), de afirmar a dimenso poltica da ao como as possibilidades e usos feitos naproduo de realidades sociais. Como coloca Arendt (1998) o sentido da poltica aliberdade, a liberdade de produo do novo, razo pela qual qualificamos como sendo polticaa participao que esperamos ver no SUS.
[...] sempre que algo novo acontece, de maneira inesperada,incalculvel e por fim inexplicvel em sua causa, acontece justamentecomo um milagre dentro do contexto de cursos calculveis. Em outraspalavras, cada novo comeo , em sua natureza, um milagre ou seja,sempre visto e experimentado do ponto de vista dos processos que eleinterrompe necessariamente. [...] Se o sentido da poltica a liberdade,isso significa que nesse espao e em nenhum outro temos o direitode esperar milagres. No porque fssemos crentes em milagres, massim porque os homens, enquanto puderem agir, esto em condies defazer o improvvel e o incalculvel e, saibam eles ou no, estosempre fazendo (p.42).
Pensar a constituio do novo, do que se situa como externalidade s possibilidadesque o presente reconhece, significa em nossa compreenso interrogar radicalmente osdispositivos, espaos e, sobretudo, os sentidos que a participao poltica no SUS adquiriu. Aradicalidade a que referimos no condiz com a negao ou desconstruo das alternativas jcriadas, e sim com o estranhamento da suposio de que sejam as nicas existentes ouviveis. Trata-se de um exerccio que em nossa perspectiva antecede a avaliao dos
resultados das instncias formalizadas, e que se direciona ao questionamento de suasintencionalidades e sentidos. Em suma, falamos do exerccio de propor perguntas que nos
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
21/259
21
ajudem a estranhar as realidades que se apresentam como fechadas, j determinadas em seushorizontes de possibilidade. Perguntas como, por exemplo,
o que ou o que est sendo entendido como participao?,questo se desdobra em outras perguntas tambm anteriores anliseda efetividade de um determinado arranjo participativo. Que processosdevem ser considerados como participatrio: a escolha derepresentantes (e por que vias) ou a expresso direta de demandas(individuais ou coletivas)? Que dimenses da vida social devem serdestacadas para que se identifique a ao participativa? Enfim, emtermos tericos, como definir participao? (MS, 2006).
Sem tais estranhamentos, deduzimos que dificilmente os obstculos mapeados podero
ser desfeitos e superados, o que significa no somente intervir nos efeitos que geram, mastambm em seus regimes de produo, nos entrelaamentos e determinaes que os atualizamem to diversas circunstncias. Questes que remetem constituio dos territriosexistenciais a partir dos quais as instituies se forjam como lgicas materializadas emrelaes e equipamentos sociais, em tecnologias especficas de governo. Colocar neste planoo problema da participao poltica no SUS consiste em aceitar o repto de criar novasalternativas e tambm de reinventar as j existentes, de aproxim-las das expectativas ticasde democratizao social que o direito sade expressa e mobiliza.
Partimos de uma hiptese terica que orienta o percurso desta pesquisa. Trata-se daposio assumida de que discutir a participao poltica no SUS e suas possibilidades exige aproblematizao das opes e concepes que orientam sua definio e operacionalizaoestritamente por meio de mecanismos de representao. Como apresentaremos adiante, talhiptese nos levou a propor o deslocamento de nosso objeto de anlise. Assim, a inteno depromover uma reflexo sobre as possibilidades de participao poltica no SUS nestetrabalho remetida ao cotidiano institucional da gesto.
Tal posio no pretende negligenciar os avanos obtidos com a conquista dos frunsinstitucionalizados de participao. Ao contrrio, supe-se que sua necessria e desejadaeficcia depende da capacidade de radicalizar o projeto democrtico, estendendo aparticipao construo e gesto cotidiana da poltica de sade, posto que na dinmica dofuncionamento dos servios que concretamente a populao vive como realidade material odireito sade. Afinal, a participao no pode ficar restrita a uma interpretao meramenteformal dada pela democracia representativa. Faz-se necessrio, portanto, ampliar a noo de
participao de modo a resgatar um contedo mais ativo, de modo que a democracia possarealmente se aprofundar (SANTOS, 2008, p.8).
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
22/259
22
Os limites encontrados em pensar a participao poltica no SUS para alm dosmecanismos de representao no so, contudo, uma peculiaridade do Sistema de Sade e daorganizao scio-poltica brasileira. Eles remetem, antes, constituio do Estado como
forma hegemnica de institucionalizao da ao poltica. Sem a compreenso dessasvinculaes torna-se complicado debater o que entendemos e desejamos construir comomaterializao do princpio de participao da comunidade no SUS e propor alternativas suaconcretizao.
1.2. Trajetria histrica de constituio das formas hegemnicas de insero eparticipao poltica.
Neste tpico procuraremos explicitar o conceito de participao poltica a partir doqual surge nosso problema de pesquisa. Usualmente, apesar de ser em uma primeiraaproximao uma noo bastante recorrente, a idia de participao traz consigo uma gamadiferenciada e por vezes contraditria de sentidos. Indiscutivelmente o que se impe commaior freqncia sua estreita relao com o sistema de governo democrtico. A premissadessa correlao, embora correta, obscurece uma srie de questes que pretendemos nessetrabalho abordar, cuja pertinncia depende exatamente da possibilidade de delimitar compreciso as diferenciaes que tais conceitos abarcam.
Embora a estreita ligao entre participao e democracia remeta experincia daantiguidade grega, apenas com o constitucionalismo moderno, em meio s revoluesburguesas, que a questo da democracia recolocada no panorama poltico, por meio dadiscusso empreendida pelos Federalistas. Em contraposio participao direta doscidados gregos no governo da polis, a democracia moderna nasce situada nos marcos darepresentao, tendo como caracterstica central o afastamento da populao dos processosdecisrios diretos. Tal concepo advoga a impossibilidade de organizao de umademocracia direta nas complexas sociedades modernas, fazendo com que, nos limites destepensamento de inspirao liberal, a insero poltica seja compreendida justamente como odireito representao.
[a respeito da definio liberal de democracia] A cidadania definidapelos direitos civis e a democracia se reduz a um regime polticoeficaz, baseado na idia da cidadania organizada em partidos polticos,e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, narotatividade dos governantes e nas solues tcnicas para os
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
23/259
23
problemas econmicos e sociais. Essa concepo de democraciaenfatiza a idia de representao, ora entendida como delegao depoderes, ora como governo de poucos sobre muitos, no dizer deStuart Mill (CHAU, 2005, p.23).
Como salienta Cabral Neto (1997) a democracia dos modernos nasce como umaconcepo politicamente discriminatria, pautada na subordinao da condio de cidadania propriedade privada. Nas bases deste pensamento, que tem em Locke uma importantefundao, a igualdade natural dos homens afirmada face necessidade de erigir uma ordemcivil que assegure o direito propriedade privada. Ou seja, a igualdade pretendida aigualdade formal dos proprietrios, a qual, juntamente com a definio das regras do jogopoltico, tem por objetivo garantir a livre competio dos indivduos (LOCKE, 1983).
Eis ento que oconceito de povo aparece na modernidade como uma produo do Estado. Povo entendido como conjunto de cidadosproprietrios (a propriedade o direito fundamental) que abdicaramde sua liberdade tendo como compensao a garantia da propriedade.Sua liberdade, aps ter sido um direito natural absoluto, torna-se agoraum direito pblico (subjetivo), e portanto o Estado que garante ograu e a medida de liberdade dos indivduos, til ao funcionamento damquina estatal e reproduo das relaes de propriedade (NEGRI,2001, p.143).
Retomar os traos gerais que orientam essa concepo liberal oportuno na medidaem que expe que o tema da democracia ressurge no contexto da modernidade desvinculadode qualquer compromisso com a universalizao de direitos e com a desconcentrao dariqueza e do poder nas relaes sociais. Claro que no objetamos aqui que a igualdade formalassim afirmada tenha sido passo imprescindvel para a conquista de uma gama de direitoscivis, polticos e sociais. Procuramos apontar, outrossim, para um conjunto de contradiesque subjazem muitas vezes de modo no enunciado no discurso hegemnico acerca dademocracia como sistema de governo e como valor a ser defendido socialmente. Isto particularmente relevante quando observamos que a legitimidade deste discurso, atualmenteuma referncia consensual no mundo ocidental, embasa-se numa perspectiva de justia socialque no a fundamenta em absoluto, a no ser como campo de disputa poltica de sentidos.
Ainda que a tradio de esquerda tenha postulado crticas e concretizado inmeraslutas em direo construo de uma democracia social, processo histrico que tem naampliao dos direitos e noWelfare State sua mais expressiva configurao institucional, em
nossa avaliao o questionamento da premissa liberal da participao como representaopoltica permaneceu demasiado tmido, como se este fosse em certa medida uma priori ao
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
24/259
24
debate. Nesse sentido consideramos historicamente restrito o estranhamento da representaocomo dispositivo central, por meio do qual se afirma a igualdade formal como eixofundamental do sistema democrtico de governo, a despeito de toda produo real de
desigualdade que tem caracterizado nossas sociedades consideradas democrticas. Cabe,quanto a este ponto, colocar a discusso sob o prisma do que Boaventura de Souza Santos(2006) intitula Sociologia das Ausncias, j que [...] muito do que no existe em nossasociedade produzido ativamente como no existente, e por isso a armadilha maior que senos apresenta reduzir a realidade ao que existe (p.23,traduo nossa).
A discusso que propomos acerca da participao poltica no SUS tem como horizonte justamente as alternativas e possibilidades no colocadas de interveno no campo da sade.
O desafio forjar questionamentos que forcem os limites do real na direo da constituio denovas experincias de insero e participao poltica no sistema de sade. Quanto a isto, inevitvel interrogar sobre a produo desta grande ausncia em nossos modos de organizaopoltica: o silncio existente em torno do que difere das estratgias hegemnicas (balizadaspor mecanismos de representao) de participao.
Nosso objetivo neste momento torna-se a anlise da produo dessa ausncia, o querequer a compreenso de suas relaes com a organizao do Estado Moderno, posto ser este
o principal dispositivo de normatizao da ao e insero poltica dos homens nas sociedadescontemporneas.
1.2.1. A Emergncia do Estado Moderno como Estado de Direitos e os mecanismosde representao poltica.
O Estado como ordem poltica surgiu na Europa entre os sculos XIII e fins de XVIII,ou incio de XIX com a progressiva territorializao do comando e com a monopolizao dopoder poltico, que teve na figura do monarca sua primeira expresso. Erigindo-se comoinstncia superior sociedade, o ordenamento poltico estatal legitimou-se atravs da posiode distanciamento neutral, a partir da qual se faria possvel o arbtrio dos conflitos em prol dainstaurao e manuteno da ordem social. Objetivo indissocivel das exigncias deacumulao do nascente Capital, vinculao que aponta a extenso das mtuas implicaes edeterminaes na emergncia de ambos os fenmenos histricos (SCHIERA, 1998).
Atributos de mundaneidade (em contraposio com a pregressa ordem poltico-
religiosa), finalidade e racionalidade passam a caracterizar o exerccio do poder poltico,responsvel pela
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
25/259
25
[...]organizao das relaes sociais (poder) atravs de procedimentostcnicos preestabelecidos (instituio, administrao), teis para apreveno e neutralizao dos casos de conflito e para o alcance dos
fins terrenos que as foras dominadoras na estrutura socialreconhecem como prprias e impem como gerais a todo o pas(SCHIERA, 1998:427).
O Estado de Direito, propriamente dito, configurou-se a partir da contestao por partede diversos movimentos revolucionrios, da personificao histrica do poder Estatal nafigura do Monarca. A contraposio derivada desses embates no resultou realmente nadesmontagem da estrutura absoluta do poder estatal, tampouco dos seus recursosadministrativo-institucionais ou do sentido de racionalidade e finalidade de suas intervenes.Em verdade, todas essas caractersticas viriam a ser aperfeioadas e superdimensionadas coma organizao do Estado Moderno. Ocorreu, outrossim, afirm-los em funo de valores queno a referida personificao histrica: valores apresentados como pertencentes ao indivduo,em funo do que este passa a ocupar o lugar de "protagonista direto da vida civil e poltica"(SCHIERA, 1998:430). Como expuseram Negri e Hardt (2001), por meio dessas operaesda mquina de soberania, a multido se transforma, em todos os momentos, numa totalidadeordenada (p.105). Uma totalidade de indivduos, uma nao.
Assim, o Estado organiza-se como Estado de garantias, frente ao qual a participaopoltica, o agir poltico em sua dimenso ontolgica, resolvido como sendo pertinente aombito das liberdades individuais, j que o indivduo se faz fonte da legitimidade estatal.Formalizao que apenas foi possvel ao recorrer a referncias lgicas e abstratas, portantoexternas e inobjetveis: as normas jurdicas, por meio das quais instituda a igualdade detodos os indivduos perante o Estado. Como salienta Schiera (1998), passa-se assim dalegitimidade legalidade, operao fundada
[...] sobre a liberdade poltica (no apenas privada) e sobre a igualdadede participao (e no apenas pr-estatal) dos cidados (no maissditos) frente ao poder, mas gerenciado pela burguesia como classedominante, com os instrumentos cientficos fornecidos pelo direito epela economia na idade triunfal da Revoluo Industrial (p.430).
Fundamentado na legalidade desses preceitos, o Estado de Direito legitima-se com aconstruo de uma esfera pblica enraizada na igualdade formal dos indivduos-cidados,igualmente submetidos ao aparelho jurdico estatal. A separao com isso instituda entreesfera pblica (plano poltico dos direitos) e sociedade privada passa a exercer-se comobaluarte do imperativo da representao dos interesses individuais (privados) frente
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
26/259
26
instncia estatal. A liberdade de participao poltica delimitada neste contexto equivale,portanto, liberdade das garantias individuais. O Estado faz-se externo sociedade,demarcando a moderna fronteira entre o que seria social e o que seria poltico.
Por outro lado, percebe-se facilmente que a igualdade que esta noo de cidadaniapressupe choca-se com a desigualdade real inerente ao processo de acumulao capitalistaque se mostra a outra face da formao do Estado Moderno. A ambigidade presente entre aformalizao legal e a dinmica societria real materializa-se no fato de que a "res publica"assim instituda revela-se referncia maior aos "possuidores de bens: sejam eles terras,instrumentos de trabalho ou mercadorias" (GERSCHAMN, 1995:28). Como resultante, arepresentao poltica imposta pela separao formal entre esfera pblica e sociedade
"privada" produz como efeito indiscutvel a cristalizao de dispositivos de poder que buscamusurpar a potncia ontolgica do agir poltico dos homens de sua prerrogativa de constituiode mundo, fechando-a nas amarras da diviso social do trabalho. O pblico no o espaoaberto da produo de realidade social, mas espao de sua regulao, de sua conteno,enredado em redes hierrquicas e institucionais de ordenamento social.
Deste modo, o poder constituinte absorvido na mquina pelarepresentao. O carter ilimitado da expresso constituinte limitado
em sua gnese, porquanto submetido s regras e extenso relativa dosufrgio; no seu funcionamento porquanto submetido s regrasparlamentares; no seu perodo de vigncia, que se mantmfuncionalmente delimitado, mais prximo forma da ditadura clssicado que teoria e s prticas da democracia: em suma, a idia de poderconstituinte juridicamente pr-formada quando se pretendia que elaformasse o direito, absorvida pela idia de representao quando sealmejava que ela legitimasse tal conceito (NEGRI, 2002, p.11).
Eis porque a representao tem-se construdo como monumento dessa contradio: por
confrontar a igualdade formal desigualdade real, fissura erguida na inacessibilidade dediversos grupos sociais ares pblica (agora sinnimo de esfera estatal) da construo poltica.Alijamento fundado nos mecanismos de regulao do poder constituinte imanente vida,separada do poltico e feita espao prprio do social. O campo da representao entobatizado como prtica poltica por excelncia, fora maior de expresso dos poderes docidado, cujo exerccio poltico fica desta forma confinado, num territrio prprio e distantede seu fazer cotidiano. A poltica esvaziada de sua dimenso ontolgica, salvaguardada dacontaminao intempestiva do desejo, tornada prtica exclusiva da chamada classe poltica.As demais convertem-se, assim, em meras classes sociais.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
27/259
27
Conforme leitura realizada por Negri (2002), se a representao pesa sobre o poderconstituinte como uma sobre-determinao espacial de sua expresso - ao confin-la s salas ecorredores estatais, s assemblias legislativas formais, o constitucionalismo pesa-lhe como
uma clausura temporal. Isso porque, embora expresso na vitalidade do processoconstitucional, o poder constituinte torna-se um procedimento extraordinrio. Poder restrito aperodos determinados, fora dos quais o constitucionalismo se exerce como prtica delimitao, como poder constitudo que se torna impermevel s modalidades singulares doespao e do tempo, como mquina menos disposta ao exerccio da potncia do que aocontrole de suas dinmicas, e fixao de relaes de fora imutveis (id. p.444).
Ambos, constitucionalismo e estruturas de representao, concretizam-se como
aparatos transcendentais de controle que esvaziam do poltico a vida, que fazem do poder aconsumao da potncia (NEGRI, 2002, p. 448). Neles, o poder constituinte enredado eperde sua radicalidade de fundamento, tornando-se procedimento contratual. Deixa de sertemporalidade e espao abertos e extensivos da criao, para ser exercido nos limitesnormalizados de finalidades institudas. Faz-se ordem formal e no procedimento absoluto.Porm, ainda assim, a dimenso poltica do agir humano no se conforma inteiramente aopoder, nele no se encerra. E com isso, o poder constituinte permanece escape, desmonte do
institudo, movimento da histria. [...] Potncia criadora de ser, vale dizer, de expressesconcretas do real, valores, instituies e lgicas de ordenao da realidade. O poderconstituinte constitui a sociedade, identificando o social e o poltico em um nexo ontolgico(id. p.451).
o que vemos, por exemplo, ao constatar como, contemporaneamente, muitos grupos- valendo-se da igualdade jurdica instituda pelo Estado de Direito - lograram avanar emdireo igualdade real atravs da afirmao de inmeros direitos sociais. O que nos permite
supor que as democracias modernas tm avanado justamente em funo deste espao polticoassegurado pelos direitos e no exatamente pela representao (RIBEIRO, 2001).
[...] a marca da democracia moderna, permitindo sua passagem dedemocracia liberal a democracia social, encontra-se no fato de quesomente as classes e grupos populares e os excludos concebem aexigncia de reivindicar direitos e criar novos direitos. Isso significa,portanto, que a cidadania se constitui pela e na criao de espaossociais de lutas [...] e pela instituio de formas polticas de expressopermanente [...] que criem, reconheam e garantam direitos (CHAU,2005, p.25).
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
28/259
28
Percebemos, assim, que o campo da constituio dos direitos se abre como uma arenapblica onde potencialmente podem vir a se colocar diversos conflitos, cuja intensidade temsido esvaziada pelos mecanismos institucionais das solues modernas.
A luta por esses direitos, e aqui falamos especificamente do direito sade, assumecom clareza a dimenso poltica da vida, fazendo-a escapar dos caminhos institucionais ondese buscou repetidamente confin-la, tecendo-a como luta cotidiana, como implicao ativa,relativa a todos. A democracia, com isso, pode desvincular-se de sua pertinncia estrita sinstituies estatais, e assumir-se procedimento absoluto da liberdade, como governoabsoluto (NEGRI, 2002, p.26). Isto, entretanto, exige-nos o debate sobre os limites daatividade poltica, especialmente no que diz respeito ao seu enclausuramento na dinmica da
organizao estatal.
1.2.2. Todo Estado de exceo? Sobre a constituio do plano poltico e seusconceitos-limite.
Agamben (2004a, 2004b) prope pensar o conceito de Estado de exceo comofundamento da poltica moderna, presena recorrente na histria de todos os Estados-Naosendo, nesse sentido, um conceito que expressa o limite do poltico, revelando suas fronteirase, portanto, os territrios internos e externos que o codificam. Em suas pesquisas ele mostracomo esse recurso jurdico marcou os momentos mais decisivos da histria ocidental, tendouma recorrncia que indica no se tratar de uma efetiva de exceo, mas de um mecanismosempre presente nos regimes constitucionais. Suspenso do ordenamento legal, geralmentefeita em detrimento das garantias e direitos constitucionais individuais, o Estado de exceoconfigura-se como dispositivo jurdico balizado pelo paradigma da segurana, que tenderia atornar-se regra com a ampliao da biopoltica como tecnologia de poder. Seria ele omonumento (no sentido foucaultiano do termo) da democracia protegida, monumento queexpe seus entrelaamentos com a organizao e conduo de regimes totalitrios.
A tradio jurdica divide-se na compreenso do fenmeno: por um lado h atendncia a considera-lo como interno ao direito positivo, na medida em que fundado pelanecessidade, que age como fonte autnoma do direito (AGAMBEN, 2004. p.38), ou pelodireito subjetivo do Estado de garantir sua prpria conservao; por outro lado, h autores queo entendem como fato extra-jurdico, externo ao direito. A grande contribuio de Agamben
romper com essa polarizao, que em ltima instncia tem como referncia a ordem jurdica
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
29/259
29
como realidade primordial de anlise, procurando compreender em que medida a exceo estimplicada na constituio da prpria norma.
Na verdade, o estado de exceo no nem exterior nem interior ao ordenamento jurdico e o problema de sua definio diz respeito a um patamar, ou a uma zona deindiferena, em que dentro e fora no se excluem, mas se indeterminam. A suspenso danorma no significa sua abolio e a zona de anomia por ela instaurada no (ou, pelo menos,no pretende ser) destituda de relao com a ordem jurdica (AGAMBEN, 2004. p.39).
A modernidade , portanto, marcada pela tentativa de incluir a exceo na ordem jurdica, numa zona em que fato e direito no se diferenciam: fato se transforma em direito e,
inversamente, o direito suspenso como fato. No estado de exceo a relao com a ordem jurdica forjada no pelo contedo normativo de seus processos, mas pela relao de forasque esse espao institui (e assegura) entre norma e realidade. Nesse sentido, ainda que externa norma, a exceo a ela pertence: estar-fora e ao mesmo tempo pertencer: tal a estruturatopolgica do estado de exceo (AGAMBEN, 2004. p.57). O que as une norma e exceo- a garantia de sua aplicao, do exerccio do poder que as funda. Em outros termos, entreambas h uma vinculao comum com a realidade, na medida em que se constituem como
normatizao efetiva do real (AGAMBEN, 2004. p.58) garantida por certa fora deaplicao: Fora de Lei, como a escreve Agamben, posto que fora de lei que se aplica semlei, atos com valor de lei que se efetivam em sua suspenso.
O estado de exceo refere-se, antes, a umasuspenso do ordenamento vigente paragarantir-lhe a existncia. Longe de responder a uma lacuna normativa, o estado de exceoapresenta-se como a abertura de uma lacuna fictcia no ordenamento, com o objetivo desalvaguardar a existncia da norma e sua aplicabilidade situao. A lacuna no interna
lei, mas diz respeito sua relao com a realidade, possibilidade mesma de sua aplicao. como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da norma e suaaplicao e que, em caso extremo, s pudesse ser preenchida pelo estado de exceo, ou seja,criando-se uma rea onde essa aplicao suspensa, mas onde a lei, enquanto tal, permaneceem vigor (AGAMBEN, 2004. p.49).
Essa vinculao com a exceo que se revela constitutiva do ordenamento estatal traz tona a dissociao intransponvel entre norma jurdica e realidade. Dissociao apenassilenciada e transposta dado o recurso fora, uma vez que no h nada interno norma quegaranta sua aplicao. Ao contrrio, ela se funda na suspenso do poder normativo da prxis(ao histrica) como ao imanente ao real. Desse modo, a unio impossvel entre norma e
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
30/259
30
realidade, e a conseqente constituio do mbito da norma, operada sob a forma daexceo, isto , pelo pressuposto de sua relao (AGAMBEN, 2004., p.63).
A anlise dessa relao faz surgir, principalmente, a inseparabilidade entre
ordenamento jurdico e violncia, mesmo quando formalizados em Estados democrticos dedireito (percepo que nos reduz o estranhamento causado pela histrica proximidade entredemocracia e totalitarismo). Ou, faz surgir a tentativa de aprisionamento da violncia (em seuestatuto de cdigo de ao humana) no mbito jurdico, como uma violncia sempre mediadapor um fim (a norma, a lei), ainda que atravs de sua suspenso. Da que seja inadmissvel suaexistncia fora do direito, impossibilidade assegurada pelo recurso exceo.
Essa relao, efetiva na medida em que encerra a violncia no ordenamento jurdico
(no aleatrio que Max Weber tenha definido o Estado pelo monoplio do uso da violncialegtima), tem como condio uma determinada forma de inscrio da vida nesseordenamento, um pertencimento marcado pela exposio sem mediaes ao exerccio dopoder de estado. Quanto a isso, Agamben resgata a figura dohomo sacer,presente no direitoromano, como expoente de uma relao poltica original, por ele definida no conceito de vidanua.
O homo sacer aquele que, excludo pelo poder soberano tanto da jurisdio humana,
como da divina, se apresenta como umavida insacrificvel e, todavia, matvel(AGAMBEN,2004b, p.90) , isto , uma vida que no pode ser consagrada, cujo assassinato, porm, nocaracteriza um homicdio. Numa excluso inclusiva (excludo do necessrio pertencimentohumano aos cdigos de um universo simblico, e por outro lado, includo por meio dessaexcluso na esfera de ao do poder de estado) essa vida feita nua o fundamento do poderpoltico justamente na medida em que inscrita na ordem jurdica a partir de suamatabilidade, a partir dessa exposio direta ao poder soberano.
Se nossa hiptese est correta, a sacralidade , sobretudo, a formaoriginria da implicao da vida nua na ordem jurdico-poltica, e osintagma homo sacer nomeia algo como uma relao polticaoriginria, ou seja, a vida enquanto, na excluso inclusiva, serve dereferente deciso soberana (AGAMBEN, 2004b, p.92).
Compreendendo a biopoltica como [...] a crescente implicao da vida natural dohomem nos mecanismos e nos clculos do poder (AGAMBEN, 2004, p.125), o autorconsidera que a modernidade caracterizada pela ampliao de seu exerccio, em decorrncia
do qual a vida biolgica se torna o fato politicamente decisivo. Nesse sentido, o Estadomoderno se organiza com a extenso da sacralidade que demarca a vida nua vida de todos os
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
31/259
31
cidados. A soberania moderna calcada no poder de valorar a vida, poder expressoespecialmente por meio da negao desse valor, na distino entre vidas autnticas e vidaspoliticamente irrelevantes, sacras. Na estrutura do Estado-Nao, os direitos de cidadania que
fundam as constituies democrticas so condicionados pela inscrio da vida apreendidacomo corpo, pelo nascimento em sua relao com o territrio (localizao) e o ordenamento(Estado). Ou seja, os direitos humanos (e os refugiados so testemunho incontornvel disso)apenas se efetivam se legitimados pela inscrio primria da vida na ordem estatal(AGAMBEN, 2004, p.136) .
Toda sociedade fixa este limite, toda sociedade mesmo a maismoderna decide quais sejam os seus homens sacros. possvel,alis, que este limite, do qual depende a politizao e aexceptio davida natural na ordem jurdica estatal no tenha feito mais do quealargar-se na histria do Ocidente e passe hoje no novo horizontebiopoltico dos estados de soberania nacional necessariamente aointerior de toda vida humana e de todo cidado. A vida nua no estmais confinada a um lugar particular ou em uma categoria definida,mas habita o corpo biolgico de cada ser vivente (AGAMBEN, 2004,p.146).
A leitura realizada por Agamben sobre a constituio do plano poltico nas sociedades
modernas apresenta uma srie de possibilidades de anlise que consideramos importanteexplorar. H, contudo, dois pontos sobre os quais ela erigida que necessitam serproblematizados. O primeiro diz respeito demarcao de uma fronteira entre vida e poltica,desenhada pelo autor em razo de serem esses dois planos apreendidos como inteiramentedistintos em sua origem. Planos apenas articulados atravs do territrio de exceo, com aproduo da vida nua (AGAMBEN, 2004b, p.155). Decorrente dessa assertiva, o segundoponto concerne caracterizao da biopoltica moderna a partir de sua [...] necessidade de
redefinir continuamente, na vida, o limiar que articula e separa aquilo que est dentro daquiloque est fora (AGAMBEN, 2004b, p.138), sendo essa fronteira estabelecida em referncia auma vida impoltica, natural, convertida em fundamento da soberania ao ser politizada com oingresso na polis, no ordenamento estatal.
Essas duas premissas implicam uma determinada concepo de poltica: a polticacomo inerente ao mbito estatal, aos recursos de poder do Estado. Soberania contraposta auma imaginria ordem natural, situada temporalmente numa indeterminada anterioridade. Adefinio do plano poltico a partir dessas premissas apresenta limites que pretendemosdebater. Um deles a condio dos sujeitos humanos como sujeitos de linguagem. Nesse
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
32/259
32
sentido concordamos com a colocao de Hanna Arendt de que a poltica funda-se napluralidade que para ela explicita a condio humana, ou seja, o fato
[...] de que homens, e no o Homem, vivem na Terra e habitam omundo. Todos os aspectos da condio humana tm alguma relaocom a poltica; mas essa pluralidade especificamente a condio no apenas aconditio sine qua non, mas aconditio per quam de todavida poltica (ARENDT, 1981, p.15).
A poltica, dessa forma, no se constituiria num momento extranatural. Na medida emque nos fazemos humanos na insero em um mundo de relao constitudo pela linguagem e,portanto, necessariamente compartilhado, ela um plano fundamental da vida e da prxis dos
homens. A questo que se nos apresenta, ento, quando tomamos como objeto de anlise ahegemonia das formas contemporneas de participao como podemos compreender o queseja a dimenso poltica da existncia humana, quais as implicaes entre Estado, poder,soberania, vida, linguagem e ao que dela advm.
1.2.3. A produo de valor e as configuraes modernas de exerccio do poder
A discusso colocada por Agambem parte de uma considerao que partilhamos: a
modernidade pretende fundar a experincia poltica como inscrio da vida no ordenamentoestatal. O que significa dizer que os dispositivos que se articulam com o Estado Moderno tma perspectiva de centralizao e expropriao da potncia ontolgica do agir humano. Talvezessa seja a interface mais clara da relao entre poltica, vida e Estado. Contudo, a leiturarealizada pelo autor assume essa pretenso inteiramente, sem a colocar entre parnteses. Aocontrrio dessa perspectiva, entendemos que a experincia poltica embora se tenhaconstrangido a assumir determinada expresso sob a gide do Estado Moderno, no pode ser
de forma alguma reduzida a seus mecanismos e efeitos de apropriao e codificao da vida.A chave de compreenso mais adequada a essa afirmativa pode ser remetida leitura
foucaultiana em sua perspectiva de situar as relaes de poder na moderna sociedadeocidental no como exerccio repressivo, mas como relao afirmativa, campo de produo demundos e humanidades. O ponto de partida dessa anlise seria a percepo de que aemergncia da modernidade se fez acompanhar de uma transformao nas formas deexerccio do poder. Esse processo, sobretudo um espao-tempo de lutas, forjou uma
configurao hegemnica cuja prevalncia histrica calcou-se no engendramento de
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
33/259
33
dispositivos e tecnologias especficas de poder, que se organizaram progressivamente a partirdo desmoronamento do perodo medieval e absolutista.
Em contraposio ao que Foucault denomina poder soberano, fundado no arbtrio
sobre a morte, na disposio sobre os bens, riquezas e terras, e exercido na descontinuidadedos antigos sistemas de tributos e na exemplificao propiciada pelo terror dos atos desuplcio e das condenaes sumrias; articulava-se de modo ao mesmo tempo difuso ecentralizado uma forma de poder voltada no mais para a morte e sim para a vida. Um poderque diversamente ao soberano, no se organizou a partir do direito de vida e de morte, doexerccio de um [...] fazer morrer e deixar viver (FOUCAULT, 2002, p.286). Em suaordenao moderna, o poder ocupa-se no da morte e sim da vida. Trata-se, nesse sentido, de
uma assuno da vida pelo poder: [...]uma tomada de poder sobre o homem como ser vivo,uma espcie de estatizao do biolgico (ib. id.).
Desarmando a leitura tradicional em cincia poltica, que procurou confinar o polticona ordem jurdica, submeter o poder soberania, fundando-o numa apreenso negativa erepressora, Foucault mostra em suas anlises histricas como a vida se tornou objeto polticopor excelncia. O autor indica claramente como o poder passa a dela nutrir-se, buscandoconduzi-la, geri-la e maximiz-la, a partir de um exerccio pautado em um mnimo de
dispndio e o mximo de eficcia. Reporta-se, desta forma, propriamente a um biopoder, umpoder afirmativo que se constri como gesto e governo da vida, como conduo dascondutas dos outros e de si.
Ao analisar sua materialidade social, os mecanismos e dispositivos de seu exerccio, oautor assinala dois principais jogos de efeito do biopoder que emerge com o perodo moderno.Efeitos que poderamos articular por um lado em um eixo totalizante, que tem na tecnologiabiopoltica de regulamentao e em sua configurao estatal sua maior matriz; e por outro, em
um eixo individualizante, denominado pelo autor como anatomopoltica, imbricado atravsdos aparatos e instituies de disciplina na constituio do sujeito moderno (CALIMAN,2002).
Em sua dimenso de totalizao da vida coletiva, o biopoder toma como objeto no ohomem-corpo, mas o homem-ser vivo, ou, de modo mais explcito, o homem-espcie. Dessemodo, as tecnologias biopolticas dirigem-se especificamente populao, aplicao denovos tipos de saber e aparelhos de poder que permitiram sua manipulao e uma intervenodireta em seus fenmenos de conjunto. Nessa medida, o biopoder articula-se como exercciode uma racionalidade governamental, que
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
34/259
34
se dirige multiplicidade dos homens, no na medida em que eles seresumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrrio,uma massa global, afetada por processos de conjunto que so prpriosda vida , que so processos como o nascimento, a morte, a produo, a
doena. [...] Trata-se de um conjunto de processos como a proporodos nascimentos e dos bitos, a taxa de reproduo, a fecundidade deuma populao, etc. So esses processos de natalidade, demortalidade, de longevidade que, justamente na segunda metade dosculo XVIII, juntamente com uma poro de problemas econmicose polticos [...], constituram, acho eu, os primeiros objetos de saber eos primeiros alvos de controle dessa biopoltica (FOUCAULT, 2002,p.289).
A partir do final da dcada de 70, Foucault passa a delimitar mais precisamente a
biopoltica no apenas como um saber focado na noo de populao, como tambm naconsecuo de sua segurana. Nesse sentido, tratar-se-ia de uma racionalidade de governoprioritariamente estatal, que tem no exerccio secular do governo pastoral de cada um e detodos sua principal configurao. Racionalidade especfica das estruturas polticas modernas,erigidas principalmente em torno do Estado. No se trata, entretanto, de uma discusso sobrea estatizao das sociedades modernas, mas sobre o processo de sua governamentalizao.
No que concerne emergncia do sujeito moderno o poder, em sua naturezaafirmativa e constitutiva, no se exerceria como represso de atos e fatos, mas como governodas subjetividades, produo do humano concretizada principalmente atravs dos dispositivosdisciplinares. Mais precisamente eu diria isto: a disciplina tenta reger a multiplicidade doshomens na medida em que essa multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuaisque devem ser vigiados, treinados, utilizados, eventualmente punidos (FOUCAULT, 2002,p.289).
Dispositivos em que um conjunto de operaes e procedimentos delimitam as junesentre saber e poder forjando a individualizao e objetivao do sujeito, principalmenteatravs das instituies que ento se configuram de modo difuso em toda a sociedade:fbricas, escolas, hospitais, hospcios. Corpos submetidos a uma srie de instituies eprticas edificadas sobre a gide da categorizao, do adestramento, da compartimentalizaoe da disciplinarizao dos espaos, do tempo, dos movimentos. Em suma, submetidos eforjados por tecnologias disciplinares essenciais construo de um homem organismo,indivduo e funo, medido e julgado em sua adequao norma, normalidadeinstaurada. Normalidade e verdades negadas enquanto produtos histricos e afirmadas como
fatos naturais pelos procedimentos cientficos de que decorrem. Nesse sentido, a conjunodos diferentes saberes na produo de um estatuto de normalidades (mdicas, pedaggicas,
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
35/259
35
psicolgicas, etc) um dos principais alicerces da consolidao do sujeito moderno(FOUCAULT, 1995).
Encontramo-nos aqui com uma interseo singular: as implicaes entre o saber
cientfico e os aparatos de poder caractersticos da modernidade. As disciplinas cientficas, emsua organizao hegemnica a partir do sculo XIX, foram essenciais constituio da vidacomo objeto poltico, marcando nesse processo sua entrada [...] na histria isto , a entradados fenmenos prprios vida da espcie humana na ordem do saber e do poder(FOUCAULT, 1988, p.133). Atravs de suas prticas, esses saberes, balizados por umapretensa neutralidade actica, foram protagonistas na produo de umasociedade denormalizao em que, substituindo a lei, a norma - o normal incide e produz o corpo
individual e coletivo.Desse modo, a modernidade organiza-se com o exerccio de um poder sobre a vida
marcado tanto pela tcnica disciplinar, que centrada no corpo, produz efeitosindividualizantes, manipula o corpo como foco de foras que preciso tornar teis e dceis aomesmo tempo (FOUCAULT, 2002, p.297); como pela tecnologia biopoltica em que oscorpos so recolocados nos processos biolgicos de conjunto (ib. id.). Mecanismos depoder em relao aos quais o saber biomdico ala lugar de indiscutvel destaque, revelando-
se elemento central dos processos em funo dos quais indivduos e populao emergemcomo objetos da razo poltica. Como efeito de sua racionalidade e de suas prticas materiais,no apenas o corpo individual, mas o prprio corpo social passa a ser pensado e organizadoem termos mdicos. Um corpo suscetvel a distrbios e adoecimento, marcado por umentendimento orgnico para o qual a condio poltica da nao inseparvel da fora e sadede sua populao.
[...] a medicina moderna uma medicina social que tem porbackground uma certa tecnologia do corpo social; que a medicina uma prtica social que somente em um de seus aspectos individualista e valoriza as relaes mdico-doente. [...] O controle dasociedade pelos indivduos no se opera simplesmente pelaconscincia ou pela ideologia, mas comea no corpo, com o corpo. Foino biolgico, no somtico, no corporal que, antes de tudo, investiu asociedade capitalista. O corpo uma realidade biopoltica. A medicina uma estratgia biopoltica (FOUCAULT, 1988, p.80).
Isso, contudo, no significa situar a relao entre vida e o poder soberano do Estado
como consumao de um aprisionamento e sujeio da vida ao poder, pois no so os corpos,o objeto ltimo do poder, e sim as aes, a conduta humana. Ao colocar a dinmica das
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
36/259
36
relaes de poder como pertinente ao governo das subjetividades, Foucault as submete intransigncia da liberdade(CALIMAN, 2002). Presente em todas as relaes humanas, opoder se move somente na imanncia de seu exerccio, condio que o submete liberdade,
tornando a resistncia e o escape imprescindveis sua dinmica. Dessa forma, mais que fazerda vida objeto poltico, o poder torna-a campo de disputa poltica por excelncia, dada aimpossibilidade de sua total objetivao.
a partir dessa perspectiva que consideramos interessante retomar o conceito de vidanua como conceito-limite do poltico. Pensemos ento a respeito do exemplo dado porAgambem (2004b) na figura do muulmano, um ser em que a humilhao, horror e medohaviam ceifado toda conscincia e toda personalidade, at a absoluta apatia (p.190), ou seja,
um ser em quem a concretizao desse exerccio de poder sem mediaes sobre a vida fez-secomo plena objetivao. Como o autor mesmo sinaliza, essa consumao efetiva do homemcomo vida nua implica a condio absurda de ele no mais fazer [...]parte de maneira algumado mundo dos homens, nem mesmo daquele, ameaado e precrio, dos habitantes do campo(de concentrao) (idem).
Em outros termos, a consumao da intencionalidade do poder soberano implica suaprpria impossibilidade. Em nossa perspectiva, o absurdo que essa colocao desenha remete
ao fato de que o poder s existe como exerccio, o que o situa definitivamente no plano daliberdade, da normatividade que caracteriza a vida e que se faz poltica em funo do fato deque implica necessariamente a produo e afirmao de valores.
O que pretendemos indicar que a relao entre vida e Estado (ou mais precisamente,entre vida e soberania, distino que aprofundaremos) que viemos discutindo por meio doconceito de biopoder, tem como solo de possibilidade justamente a liberdade. Nesse sentido, ao redor do problema da deciso que nasce o poltico (NEGRI, 2003, p.238). Compreende-
se a partir da que Arendt (1981) tenha definido a poltica como liberdade. E justamente essacondio limite da soberania, como bem a definiu Negri (2003), que expe a falibilidade dosmecanismos de objetivao da vida, em que pese sua indiscutvel eficcia. Eficcia queexatamente por isto se apresenta entre parnteses, como produo e governo de subjetividadesque, todavia, no pode eliminar sua dependncia da existncia da prpria relao de poder.
Falamos, portanto, do desafio de restituir a vida, em sua prerrogativa normativa deproduo de valor, como o espao do poltico, inclusive porque justamente sua potnciaontolgica que os dispositivos de poder estatais (nisso podemos incluir a leitura foucaultianasobre a disciplina e a governamentalizao da vida) que configuram a modernidadeprocuraram cercear. Se nos voltamos para o conceito do Estado de exceo sob essa
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
37/259
37
perspectiva entendemos porque a norma jurdica (externa atividade humana), enquantoprtica de objetivao do humano, no pode ser assegurada por nenhuma propriedade sua. Elaapenas pode impor-se com o recurso a uma Fora de Lei, que se faz violncia no por ser
destituda de norma, mas justamente por procurar conter no ordenamento jurdico o arbtrioda vida, como arbtriosobre a vida. Nesse sentido,todo Estado de exceo, j que tanto oEstado de Direito, como sua suspenso, pretendem encerrar o poltico no jurdico ao regular aimanncia da atividade constituinte do humano por meio de normas transcendentes, mesmoque imediatas. Schmitt (in AGAMBEN, 2004, p.90) indica esse aspecto ao apontar a ligaonecessria entre ordem legal e ditadura, assinalando ser [...] impossvel definir um conceitoexato de ditadura quando se olha toda ordem legal apenas como uma latente e intermitente
ditadura.Essa anlise, contudo, no pretende advogar a impossibilidade de constituir o direito a
partir dessa prtica normativa a atividade humana da qual emerge o plano poltico. O quese pretende salientar o fato de que a histria poltica do Ocidente teve como solo e horizonteessa fratura biopoltica fundamental, cujo maior edifcio o Estado Moderno, mesmoquando nomeado como democrtico. Agamben a vislumbra ao identific-la na distino entrepovo e Povo.
[...] a constituio da espcie humana em um corpo poltico passa poruma ciso fundamental, e que, no conceito povo, podemosreconhecer sem dificuldades os pares categoriais que vimos definir aestrutura poltica original: vida nua (povo) e existncia poltica(Povo), excluso e incluso, zoee bos.O povocarrega, assim, desdesempre, em si, a fratura biopoltica fundamental (AGAMBEN, 2004b,p.184).
Divergimos do autor, porm, por considerar que entre a intencionalidade do exerccio
de poder que institui essa fratura e sua efetivao h a atividade humana, em suaimpossibilidade de plena objetivao. De fato, os dispositivos de poder pretendem controla-la,diminuir sua potncia ontolgica ao definir coletivos autorizados ao seu exerccio e excluir aao de outros como ilegtima, particularmente atravs dos mecanismos de representaopoltica. Seria essa a fratura biopoltica essencial, perpetuada no ocidente atravs do Estado deDireito, cuja existncia procura capturar todo o espao de anomia, lido aqui no comonegatividade, mas como vazio de limitaes, em que a potncia se faz progatonista dahistria, e no extenso determinada do poder constitudo, ao afirmar a possibilidade deconstituio de novas e outras normas.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
38/259
38
Quando Agamben (2004b) indica haver contemporaneamente uma indecibilidade entrepoltica e vida biolgica, no vislumbramos nessa assertiva o cenrio de um aprisionamentocompleto da vida pelo poder. A pergunta a ser feita, ao nosso ver, seria: a construo e
premente falibilidade - desses mecanismos no decorre da inseparabilidade entre o planopoltico e a vida humana? No viria dessa impossibilidade de objetivao da ao humana anecessidade de control-la, inclusive (e como ltimo recurso) como existncia biolgica? Olimite desse controle, entretanto, a prpria vidahumana,o que torna o plano poltico o planode emergncia da liberdade. Afinal, segundo a leitura de Heidegger realizada pelo prprioAgamben (2004b), que segue numa direo oposta discusso empreendida pelo autor,
A vida no tem necessidade de assumir valores externos a ela paratornar-se poltica. Poltica ela imediatamente em sua prpriafacticidade. [...] ohomo sacer , para o qual em cada ato coloca-sesempre em questo a sua prpria vida, torna-se Daisen, pelo qualcompromete-se, em seu ser, o seu prprio ser, unidade inseparvel deser e modos, sujeito e qualidade, vida e mundo. Se na biopolticamoderna a vida imediatamente poltica, aqui, essa unidade, que temela mesma a forma de uma deciso irrevogvel, subtrai-se a todadeciso externa e apresenta-se como uma coeso indissolvel, na qual impossvel isolar algo como uma vida nua (p.160).
A dimenso poltica da existncia humana no concerne, portanto, contraposio auma pretensa vida natural, e no se situa num momento exclusivo e delimitado pordispositivos institucionais, como o enfatiza a leitura feita por Negri (2002) sobre o poderconstituinte. Tampouco corresponde inscrio da vida no ordenamento estatal. O carterpoltico das aes humanas inscreve-se na necessidade de produzir e afirmar valores, o queconstitui o cerne de toda atividade implicada na produo do mundo propriamente humano edas relaes que o configuram.
Quanto a isso, pensar a participao poltica como restrita a mecanismos derepresentao equivale a objetivar os homens em suas relaes de co-existncia e de produode si e do mundo. No que seja desejvel ou necessrio eliminar tais artefatos polticos, quehoje prevalecem em nossas sociedades. Indicamos apenas que os mesmos jamais expressaroo plano poltico da existncia humana se no forem um momento assessrio nas formas departicipao. Enquanto nossas instituies e as relaes que as organizam e perpetuampermanecerem assentadas na objetivao dessa dimenso poltica inerente vida humana, nopodemos vislumbrar a concretizao de um Sistema de Sade fundando sobre valoresdemocrticos.
-
7/22/2019 guizardifrancine-.pdf
39/259
39
Por este motivo propomos a discusso da participao poltica desde o contexto docotidiano institucional da gesto em sade. Perspectiva j sinalizada formalmente no SUSpela poltica Nacional de Gesto Participativa, o ParticipaSUS. Ela, contudo, permanece
tendo como foco as instncias formalizadas institucionalmente para essa participao, muitoembora explicite que
a gesto participativa deve constituir-se estratgia transversal, presentenos processos cotidianos da gesto do SUS. Deliberar junto significamais do que realizar o controle social e este o efetivo desafioapresentado gesto participativa. Os fundamentos legais instituem osConselhos e Conferncias de Sade, que vm mobilizandotrabalhadores de sade, gestores e usurios no controle social do SUS.
No entanto, a democracia participativa na gesto pblica requer aadoo de prticas e mecanismos inovadores que forneam adimenso necessria gesto participativa (MS, 2005).
Mecanismos e prticas ainda no configurados e que nos solicitam, primordialmente, oenfrentamento daquelas questes prvias acerca do que seja e do que se deseja da ao departicipar, em seus possveis (o possvel apreendido aqui como plano aberto, o fora de nossaexperincia institucional) entrelaamentos com o campo da gesto do SUS. Desafio tericoque mobiliza este trabalho, situando-no como um esforo de reflexo sobre este campo
indeterminado (posto que no falamos da perpetuao dos dispositivos modernos deconteno da vida no existente) e imprevisvel de produo de realidade social.
Talvez seja essa indeterminao poltica de nossa existncia (que no pode mais serconduzida pelos artifcios da soberania moderna) que explique a dificuldade do ParticipaSUSde desenhar as respostas institucionais ao problema que enuncia ao formular a necessidade detranspor para o cotidiano da gesto a democracia participativa. Como expusemos, em nossacompreenso este repto remete antes a uma crise do sentido poltico de nossas prticas e
configuraes institucionais, do que a um movimento imediato de desenho normativo denovos mecanismos de par