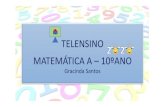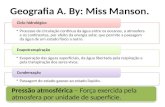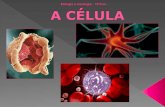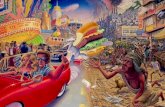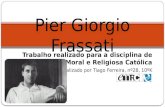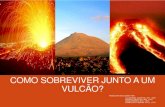História A (resumos 10ºano, 3ºperíodo)
description
Transcript of História A (resumos 10ºano, 3ºperíodo)

História A
10º Ano – Resumos do 3ºPeríodo
Estilo gótico – Reconhecer os elementos característicos
O desenvolvimento das cidades introduziu mudanças a diversos níveis, surgindo uma
nova sensibilidade artística com a arte gótica.
A Arte gótica é característica da Europa entre os séculos XII e XIV, caracterizada pela
abundância decorativa ao nível da escultura e da pintura, pela utilização de arcos quebrados e
abóbadas em ogiva que facilitaram a verticalidade das construções, sobretudo catedrais, pelos
arcobotantes que lhes conferiu elegância e leveza, e pelas janelas e rosáceas com vitrais que
lhes criou luminosidade interior.
O gótico surgiu em França (île-de-France), em 1141, com a Construção da Basílica do
Mosteiro de Saint-Denis. É um estilo predominantemente urbano e onde se destaca a simetria
na fachada. São comuns as plantas de três naves, sendo a central mais elevada. Nas laterais
encontram-se o trifório (corredor no andar superior), o transepto, a abside, o deambulatório e
os absidíolos (fundamental para as peregrinações). Outro aspecto característico deste estilo é
o grande uso dos vitrais (com efeito cénico), nas rosáceas e nas janelas. As imagens
projectadas no interior dos templos através dos vidros coloridos, baseadas sobretudo em tons
e vermelho e azul, exerciam uma forte impressão que convidava quer à descoberta e fixação
do significado das cenas, quer ao recolhimento e à meditação por parte do cristão. Uma outra
característica do interior encontra-se nas grandiosas entradas de luz, ou uma escultura
intimamente ligada com a arquitectura, liberta de simbolismos ou de rigidez, expressando
grande humanização ou o idealismo naturalista; as imagens para além do grande valor
estético, possuíam também um profundo papel doutrinário, expressando cenas da vida de
Cristo, da Virgem e dos Santos, a um povo profundamente ignorante e iletrado. No que toca à
decoração, esta reflectiu o quotidiano, mas também era, muitas vezes simbólica e hermética.
Além disso, a decoração das igrejas preocupava-se com a evangelização dos fiéis e com a
doutrinação (daí o nome de “Bíblia dos pobres”).
Era também comum encontrar-se arcos em ogiva, apoiados em colunas altas, bem
como abóbadas ogivais ou de cruzamento de ogivas, evoluindo para a abóbada de arestas, já
utilizada no românico, e que confere aos portais e às arcaturas interiores um aspecto de
verticalidade e elevação.
1

As torres altas com agulhas, que pretendiam “aproximar-se do céu”, conferiam
também um aspecto de verticalidade, muito tradicional do gótico.
Como soluções típicas da arquitectura gótica surgem igualmente os contrafortes e os
arcobotantes, com o fim de reforçar os pontos de pressão.
No fundo, a arte gótica introduziu o pensamento filosófico da época, realçando o
equilíbrio matemático, a ordem racional do mundo criado por Deus, sendo por isso valioso por
si e o ideal Realista e Naturalista, proporcionado, individualizado e expressiva, reflectindo
assim a cultura urbana.
Todos estes elementos conferiam à catedral gótica a sua imponência e grande
identidade.
No caso português, este estilo apareceu tardiamente em comparação com o resto da
Europa, dado o tardio surto Urbano de Portugal.
Comparar o estilo românico com o estilo gótico
O estilo românico precedeu, na Europa, o gótico. Embora mais ligado às construções
monásticas, nele se identificam também imponentes catedrais. Ao contrário do gótico, o estilo
românico define-se pela horizontalidade e pela obscuridade dos interiores.
O Românico é um movimento artístico que surgiu na Europa no século XI, fortemente
influenciado e impulsionado pela crescente construção de Igrejas e Mosteiros na Cristandade
Ocidental. É também influenciado pela arte bizantina, muçulmana e romana (de onde surgiu o
seu nome). Pode-se considerar um movimento predominantemente rural, já que a construção
de Igrejas e Mosteiros deste estilo dava-se nos meios rurais.
O edifício romano é influenciado pela religiosidade introspectiva, já que quando o
crente entrava recolhia-se à protecção do espaço Sagrado, um pouco como se passa no estilo
gótico. Para conseguir esta religiosidade, o edifício românico era pouco iluminado, ao contrário
do gótico, convidando o cristão a recolher-se na oração, impulsionada pelo interior do tempo,
que apoiava este espírito de oração e respeito pelo espaço sagrado.
As Igrejas românicas reflectem bem a época onde se inserem, transformando-se assim,
devido ao clima de guerra, num local de defesa (com paredes grossas e janelas em forma de
2

seteiras). O fervor religioso e a espiritualidade da época medieval estavam também reflectidos
na obscuridade interior da igreja (que favorecia a meditação). Por forma a compensar o
analfabetismo das populações, usava-se a ornamentação didáctica e simbólica nas fachadas e
no interior da igreja.
Como soluções arquitectónicas do Românico, vale a pena destacar o arco de volta
inteira ou árcade de volta perfeita (ou de volta redonda), que no gótico foi substituído pelo
arco quebrado; as abóbadas de berço, com a função de descarregar o seu peso de forma
contínua sobre as paredes (ao contrário das abobadas do gótico, que são articuladas, isto é,
compostas por secções independentes (tramos), simplesmente justapostas); os contrafortes,
que serviam para suportar o peso das paredes; as plantas geralmente em forma de cruz latina;
o sistema de três naves – duas laterais e uma central; os capitéis historiados, ou seja,
contavam histórias sagradas ou profanas, respeitando a lei do quadro grega; entre outros.
Ligar o estilo gótico à afirmação do Mundo Urbano
Nos últimos séculos da Idade Média, a cidade é um mundo à parte. Ao contrário do
campo, onde os dias passam rotineiros e o tempo da História parece não avançar, a cidade é
um centro de inovações, uma espécie de porta aberta para o futuro. O mundo dos negócios e
de negociadores que fervilha dentro das muralhas desencadeia mudanças profundas nos mais
diversos sectores: no ornamento social, na vivencia religiosa, na cultura, na arte, assistindo-se
assim ao declínio da época medieval.
O burguês é um homem orgulhoso de si próprio e da sua cidade. Não se poupa a
esforços para a embelezar e a engrandecer, dando assim lugar a uma espécie de “patriotismo
local”, contribuindo com quantias avultadas para as mais diversas construções urbanas, desde
palácios a igrejas.
Coincidindo com este espírito construtivo, um novo estilo artístico, o Gótico, dá
expressão ao orgulho citadino, portanto o importante papel de embelezar e mostrar o orgulho
que o burguês tinha na sua cidade.
Podemos assim concluir que o gótico apoiou a renovação das cidades ao longo dos
séculos XI e XIII, com a construção de edifícios de cariz religiosos, como catedrais, entre outros.
O gótico exprime por isso uma elite social urbana – a Burguesia – empenhada na
demonstração do seu poder financeiro, nem que para isso tivesse de competir com as elites
3

das cidades vizinhas, rivalizando a construção de catedrais, o expoente máximo do gótico, cada
vez mais altas e exuberantes.
Justificar o nascimento nas cidades de novas formas de solidariedade
Durante o século XIII, a cidade foi um lugar de prosperidade, atraindo muitos
camponeses que abandonavam o campo e que se instalavam nos arrabaldes das cidades.
Porém, estas nem sempre lhes ofereceram trabalho e os migrantes experimentavam a miséria
e a solidão por falta das redes tradicionais de apoio, como os vizinhos, a famílias, as
paróquias… Neste contexto surgiram novas estruturas de apoio aos desfavorecidos, entre elas,
as confrarias.
As confrarias eram associações de entreajuda de cariz religioso, que se organizavam
em torno de um Santo. Estas destinavam-se a proteger os associados nos momentos difíceis da
vida, como a pobreza, doença ou morte. Reuniam habitualmente certas categorias
profissionais ou sociais, para defenderem os seus interesses. Além da protecção dos seus
membros, visavam a formação profissional e qualidade do trabalho, e evitavam a concorrência
mútua, tabelando preços e salários. Deste modo, estas associações de carácter solidário,
juntavam-se a associações de carácter profissional, as corporações, que uniam os profissionais
do mesmo ofício, promovendo a solidariedade social. Cada confraria tinha os seus estatutos,
aos quais estavam os confrades obrigados a respeitar.
Os fundos para estas associações provinham não só de uma pequena quotização anual,
obrigatória para todos os “irmãos”, como também de generosas ofertas dos confrades mais
ricos.
Sublinhar o papel das ordens mendicantes na renovação da religiosidade cristã
Os progressos registados ao nível económico, na Idade Média, tiveram os seus efeitos
sobre a sociedade, diferenciando os mais ricos, que procuravam cada vez mais ostentar o seu
poder, dos mais pobres, que viam a sua miséria cada vez mais evidenciada pelo constante
cortejo de riqueza.
Para amenizar estas desigualdades desenvolveram-se novos laços de união e
cooperação que, com o tempo, se estruturaram em organismos de solidariedade destinados à
4

ajuda mútua e à prática da caridade. Embora nascidos quase espontaneamente, muito do seu
êxito ficou a dever-se à renovação espiritual trazida pelas ordens mendicantes, bem como à
propagação de uma religião de misericórdia, à defesa do princípio da providência Divina, à
responsabilização do crente pelos seus hábitos e à participação de uma comunhão entre o
crente e Deus, originando uma mentalidade mais fraterna e preocupada com o sofrimento
alheio.
Na Idade Média a Igreja Católica, contrariando os seus ideais, identificava-se com o
grupo dos ricos, levando uma vida luxuosa, valendo-lhe assim o repúdio de muitos crentes,
que se afastaram do catolicismo.
Para contestar e contrariar o luxo do clero surgiram movimentos de retorno à
humildade e pobreza originais do cristianismo dentro da própria Igreja. De todos, o que mais
contribuiu para mudar comportamentos e mentalidades foi o das ordens mendicantes, criadas
por S. Francisco e S. Domingos.
S. Francisco fundou a Ordem Franciscana, a dos Frades Menores (no sentido de
humildes), que viviam numa pobreza absoluta, trabalhando e esmolando para garantir o
sustento diário (daí o termo mendicantes). Dedicava-se à pregação e à ajuda dos mais infelizes
e necessitados.
S. Domingos fundou uma ordem que partilhava os mesmos ideais – os Dominicanos - ,
que porém davam maior ênfase à pregação como forma de combate às heresias, pelo que os
seus membros se dedicavam afincadamente ao estudo da Teologia, atingindo alguns deles,
como S. Tomás de Aquino, grande fama como professores universitários.
As ordens mendicantes contribuíram grandemente para a renovação da vida religiosa
e das vivências comunitárias medievais, desenvolvendo os sentimentos de solidariedade e
amor ao próximo que inspiraram a criação das confrarias e outras associações de socorro
mútuos.
5

Enquadrar a expansão do ensino nas transformações económicas e politicas dos últimos
séculos da idade média.
Sublinhar o papel desempenhado pelas Universidade na renovação cultura da Europa.
Até ao século XI, a leitura e escrita, aprendidas nas escolas eram um privilégio quase
exclusivo de clérigos e monges, sendo que os mosteiros eram considerados autênticos centros
de saber. A revitalização das cidades fez decair as escolas monacais (destinadas à preparação
de monges e ao aprofundamento dos conhecimentos religiosos), que, pela sua localização
(mosteiro), se inseriam em áreas predominantemente rurais.
No século XI, organizam-se as primeiras escolas urbanas. A tutela da Igreja mantém-se
mas o local e os destinatários destas novas escolas – as escolas catedrais, situadas no centro
das cidades – são outros. Dirigem-se a um público muito mais vasto admitindo além dos
clérigos, numerosos leigos.
Assim, o desenvolvimento das cidades influenciou o aparecimento destas novas
instituições de ensino (escolas catedrais) que correspondiam às novas necessidades da
administração e da economia. As cidades precisam de juristas para os seus tribunais, de
notários e escrivães para as repartições públicas, ou seja, precisa de homens de letras que
constituam o novo funcionalismo. Basicamente, as Escolas Catedrais formavam funcionários
que assegurassem o funcionamento das instituições humanas, como os tribunais ou
repartições públicas; que organizassem chancelarias para reforçar o poder dos príncipes; e que
servissem as necessidades de registo das grandes campanhas comerciais.
Foi, contudo, no ensino universitário que aconteceu uma importante inovação,
perfeitamente enquadrada no espírito corporativo da época e principal foco da cultura
erudita: as Universidades.
No decurso do século XII, algumas escolas catedrais ou episcopais obtiveram, pela
qualidade dos seus mestres, fama internacional, que para além de atraírem numerosos
estudantes estrangeiros, especializavam-se em áreas como o Direito, a Teologia ou a Medicina.
Assim, formaram-se organizações chamadas universidades (universitas), resultantes da
necessidade de uma organização mais rígida, do tipo corporativo, que definisse claramente as
matérias as estudar e a forma de obtenção dos graus académicos, bem como defendesse os
seus membros, docentes e discentes, de pressões externas. As universidades de Notre-Dame e
de Bolonha foram as primeiras a organizarem-se nestes moldes, criadas no século XII.
6

Os estudos universitários, que se expandiram por toda a Europa Ocidental,
organizavam-se em faculdades, termo que designa o grupo de professores e alunos de um
mesmo ramo do saber.
As Universidades tiveram um impacto muito importante nas zonas onde se instalavam,
sendo responsáveis pela transformação das cidades em activos focos de inovação, formando
no fim, depois de atingidos todos os graus académicos, desde o bacharel até ao doutor, jovens
que serviam o funcionalismo público e a centralização do poder monárquico.
A cidade, e como consequência da presença universitária, sofreu várias alterações,
entre elas, a nível da sua fisionomia.
Em Portugal, a Universidade foi criada no tempo de D. Dinis, em 1290, com a
designação de Estudo Geral. Estabelecida inicialmente em Lisboa, mas transferida em 1308
para Coimbra, o seu programa incluía o ensino do Direito Civil, Direito Canónico, Gramática,
Lógica, Filosofia Natural, Medicina e posteriormente Teologia.
Caracterizar o ideal Cavalheiresco
O clima de paz e prosperidade que impulsionou o renascimento das cidades reflectiu-
se também no domínio cultural. O gosto pela erudição, por uma vida mais requintada fez-se
sentir não só nos recintos urbanos, mas também nas cortes. A violência dos sentimentos e a
rudeza das maneiras cede lugar à contenção e à delicadeza. O nobre passa a identificar-se com
o cavaleiro ideal, bom e corajoso, capaz de defender a causa dos fracos e da justiça e de
cortejar a sua dama segundo as regras do “amor perfeito”.
Por volta de 1300, o espírito cavalheiresco impregnara já nas cortes da Europa. A
nobreza identificava-se agora com um ideal mais elevado: o do perfeito cavaleiro.
O ideal cavalheiresco obedecia a certas virtudes e condições: o bom nascimento (é
necessário ser nobre); a honra; a coragem; a lealdade para com o seu senhor; a virtude; a
piedade (já que a cavalaria é simultaneamente um ideal profano e religioso); e o ideal de
cruzada.
A concretização dos ideais cavalheirescos, que arrebatavam o espírito dos nobres do
fim da Idade Média, fazia-se, em primeiro lugar, através de uma educação rigorosa, e só depois
de ter transposto todas as etapas e de ter dado provas de destreza e valentia, o jovem tinha a
7

honra de ser “armado cavaleiro”, passando então a integrar uma das muitas ordens de
cavalarias que, nesta época, proliferavam pela Europa.
Descrever a educação do jovem cavaleiro
A educação do jovem cavaleiro estendia-se por 14 anos. Iniciava-se na casa de um
grande senhor nobre. A primeira etapa de 7 anos como pagem e os outros 7 anos como
escudeiro. O treino incluía a equitação, a prática de desporto e o domínio das armas, para
serem aplicados na caça, nos torneios, nas justas (combates entre 2 homens armados com
lanças) e na guerra.
Finalmente, depois de cerca de 14 anos de dura aprendizagem, o jovem escudeiro
proferia os votos da cavalaria. Eram votos sagrados, de grande significado espiritual. Por isso,
eram enquadrados por um ritual solene que incluía, geralmente, uma noite de vigília na Igreja,
a assistência à missa e a comunhão. Muitas vezes, para além de purificar a alma, o cavaleiro
purificava também o corpo através de um banho simbólico. Por fim, era investido numa ordem
de cavalaria, recebendo as esporas de cavaleiro e a tão desejada espada, “emblema do direito
e do dever de combater”.
Relacionar o código de cavalaria com as regras do amor cortês
Sublinhar a importância assumida pela literatura na difusão das novas formas de
solidariedade
Capaz das maiores proezas guerreiras, o cavaleiro deve mostrar-se delicado e tímido
em frente da sua amada. O código da cavalaria integra, também, um código de amor, um
conjunto de regras que dizem a quem e como se deve amar. Este ideal de amor perfeito
envolve-se do mesmo refinamento e espiritualidade que o ideal de cavalaria. O cavaleiro é o
herói que serve o amor. O amor é por isso um ideal deveras importante na vida de um
cavaleiro. Este amor cortês, sem quebrar os laços da sensualidade e do amor físico, reveste-se,
como disse, essencialmente de espiritualidade, de educação e de refinamento. Assim, espera-
se que a dama corresponda ao tipo idealizado de mulher: bela, serena, bem falante mas
simultaneamente recatada, capaz de alimentar a tensão amorosa com um sorriso, a dádiva de
um lenço, de um anel, mais tarde de um beijo.
8

Na propagação do ideal de amor cortês tiveram importância decisiva os poemas que
fizeram dele o tema central das suas composições – criando a conhecida poesia trovadoresca.
Desta forma, trovadores e jograis rapidamente a espalharam por todas as cortes da Europa,
animando os serões com os seus versos, cantados com acompanhamento musical.
Por outro lado, outros versos escritos adquiriram também grande projecção.
Na Península Ibérica, a poesia trovadoresca desenvolveu-se cedo, sendo que Portugal
foi a primeira forma de literatura em língua portuguesa.
O amor foi, pois, uma componente essencial da sociabilidade cortesã e da cultura
erudita da Idade Média. Ele foi, para muitos, um código de vida, senão mesmo um ideal de
vida.
Justificar o culto prestado pela Nobreza aos seus antepassados
A memória dos antepassados é característica das famílias nobres que assim trazem ao
presente feitos valorosos da sua ascendência. A história dos antepassados servia para valorizar
a categoria social da Nobreza, afastando-a do anonimato. Por outro lado, servia também para
legitimar os direitos a bens fundiários e patrimónios, como recompensas pelas conquistas aos
Mouros. Este culto era revestido também de uma função pedagógica, que inspirava os
herdeiros a seguir o exemplo dado pelos seus antepassados.
Desta forma nasceu a literatura genealógica, onde os senhores faziam escrever as suas
memórias ancestrais, que se difundiu largamente entre a Nobreza europeia dos séculos XIII e
XIV.
Explicar o renascimento do gosto e da prática das viagens
Nos séculos XIII e XIV, os Europeus adquirem uma nova visão do Mundo. Sob o impulso
do comércio, as velhas barreiras demográficas geográficas, que tinham fechado a Europa sobre
si mesma e isolado as suas regiões, começam a ceder.
Um bom número de viajantes percorre agora os caminhos e alguns ousam mesmo ir
mais além, até à longínqua Ásia. São mercadores mas também peregrinos, missionários,
diplomatas, cavaleiros andantes, entre outros.
9

Em suma, o gosto de viajar, muito ligado quer ao espírito de renascimento urbanístico
e da cultura erudita, quer ao desenvolvimento da diplomacia, alastra-se a toda a Europa, seja
ele ditado por razões de natureza económica e política, seja por motivações de carácter
religioso.
O gosto das viagens difunde-se e os geógrafos revelam um mundo mais vasto que se
torna possível explorar e conhecer. Lentamente, a Europa prepara-se para a grande aventura
dos Descobrimentos, um movimento que irá revelar-se decisivo para a humanidade.
Reconhecer nas Romarias e peregrinações uma forma típica da religiosidade medieval
Na Idade Média a religião assumia contornos muito concretos exprimindo-se pela
prática de actos rituais: a oração nas horas canónicas, a assistência aos ofícios religiosos, a
confissão, a penitência, os jejuns e as peregrinações eram obrigações de todos os que
aspiravam à vida eterna.
Em toda a Cristandade abundavam igrejas, capelas e ermidas que eram objecto de
devoção especial. Assim, um forte razão para as inúmeras deslocações dos europeus radicava
no fervor religioso, o que explica o interesse pelas Romarias ou pelas peregrinações.
As Romarias eram celebrações organizadas em honra de um santo, numa data fixa do
ano. Atraiam numerosos fiéis, geralmente gente simples das zonas circundantes, que vinham
em grupos, a maior parte das vezes a pé, levando o percurso entre um a vários dias. Uma vez
chegados ao santuário, os romeiros pagavam as suas promessas e participavam em várias
cerimónias religiosas, juntando a este carácter religioso, um cariz mais lúdico, divertindo-se,
fazendo uso de cânticos ou bailes ao som dos instrumentos tradicionais, ou mesmo realizando
negócios ou trocando notícias. Desta forma, as romarias foram uma das expressões mais
notáveis da cultura popular medieval.
Muito diferentes eram as peregrinações, na medida em que implicavam deslocações a
lugares muito distantes e com meses ou anos de duração. Os locais de objecto de peregrinação
eram essencialmente Santiago de Compostela (destino favorito da Europa Ocidental), Roma ou
Jerusalém. Estas peregrinações preparavam-se cuidadosamente, originando assim guias
especializados, ou trilhos particularmente preparados com hospitais, mosteiros, comida ou
cama. Chegados ao seu destino, os peregrinos recebiam a bênção e as indulgências próprias do
local e ouviam uma missa votiva. Procuravam, em seguida, muito tempo na igreja, para
10

reflectirem, e após cumpridos todos os objectivos, promessas e penitências, os peregrinos
regressavam a casa, após um logo caminho, sentindo-se agradecidos e contentes por tudo o
que tinham visto e pelo muito que tinham para contar.
Distinguir as expressões da cultura erudita das da cultura popular
Cultura erudita – Manifestações culturais de grupos sociais restritos – as elites – que,
usufruindo de condições favoráveis (acesso à escola, acesso a livros e bibliotecas, posse de
bens materiais), podiam desenvolver uma actividade cultural no domínio do conhecimento,
das letras, das artes ou das ciências não acessível à maioria da população. (Universidade,
Cavalaria…)
Cultura popular – Manifestações culturais (danças, músicas, cantares, histórias, arte,
representações) de raiz popular que tinham lugar sobretudo por ocasião de festas, romarias e
peregrinações, difundidas na Idade Médias por jograis e artistas ambulantes.
11

Salientar a importância de alguns eventos técnicos nos séculos XV e XVI para a formação da
mentalidade moderna
Relacionar os progressos náuticos e cartográficos dos séculos XV e XVI com a apropriação do
espaço planetário proporcionado pela expansão marítima
A Época Moderna inicia-se por volta de 1450 e coincide com um notável dinamismo
civilizacional do Ocidente. Revolucionaram-se técnicas e conhecimentos. A náutica e a
cartografia sofrem alterações de vulto, acompanhando o domínio do espaço planetário. A
pólvora e as armas de fogo ditam a supremacia do Ocidente no mar e em terra. A imprensa
dissemina-se pela Europa e pelo Mundo, tornando-se num poderoso veículo de expansão
cultural de intercâmbio de ideias e difusão de notícias.
Nos séculos XV e XVI, os Descobrimentos marítimos proporcionaram a Portugal
avultados saberes técnicos e científicos. Foi pela inovação náutica e cartográfica, bem como
pela observação e descrição da Natureza, que Portugal contribuiu para o alargamento do
conhecimento do Mundo e para a síntese Renascentista.
As dificuldades que os Portugueses encontraram ao longo da expansão levaram
pilotos, astrólogos, matemáticos e cartógrafos a procurar soluções para problemas de vária
ordem, o que contribuiu para o aprofundamento da investigação teórica e influenciou o
aparecimento da moderna técnica de navegar.
O pioneirismo português nos Descobrimentos não foi fruto do acaso, beneficiando
Portugal de uma herança de invenções de técnicas de navegação, que lhe foi possível
aperfeiçoar, pelos Árabes e Judeus:
O leme montando no cadastre, com dobradiças e imerso. Era mais fácil de manobrar
que os antigos remos laterais e permitia mudar de direcção com maior rapidez.
A bússola, formada por uma agulha magnética e uma rosa-dos-ventos. Permitiu o
traçado de rumos na navegação, que se traduziram nas linhas de rumo das cartas-portulano.
Estas eram um misto de carta geográfica e de roteiro, com os nomes dos pontos escritos
perpendicularmente às costas e informações diversas sobre a navegação.
O astrolábio, a balestilha e o quadrante permitiam medir a altura dos astros.
Vale a pena ainda destacar a Caravela, a vela triangular ou latina e os guias náuticos ou
roteiros, que ajudaram igualmente os portugueses nas suas navegações em alto mar, evitando
12

ou amenizando as atrocidades que apareciam, como as condições meteorológicas, por
exemplo.
Estava desta forma determinada a latitude! A partir daqui ocorreu uma nova mudança
na cartografia das terras descobertas no princípio do século XVI, consistindo no aparecimento,
nas cartas náuticas, de um meridiano graduado em latitude, a partir do uso de todos os
instrumentos anteriormente referidos. Neste aspecto, o trabalho de Pedro Nunes em muito
beneficiou as dificuldades que os pilotos tinham na leitura das cartas. Entretanto, a
actualização decorrente do avanço da exploração marítima do Atlântico e do Índico culminou
com o planisfério Cantino (1502), onde a África e o litoral brasileiro são representados já com
bastante fidelidade.
Distinguir os principais centros culturais da Europa do Renascimento
Reconhecer o papel inspirador de Itália
O Renascimento, movimento de renovação cultural, traduziu-se pelo aparecimento de
novas formas de pensar, de sentir e de agir que se repercutiram na produção artística,
científica e literária. Implicando rupturas e continuidades em relação à Idade Média, inovações
e processo de síntese, este movimento cultural teve origem em determinados centros
europeu8s e, a partir deles, difundiu-se para outros países.
Este movimento de renovação cultural teve origem em Itália, o que se compreende se
considerarmos o enriquecimento da burguesia das cidades italianas, o gosto pelo
embelezamento dos seus palácios e ainda o facto de a Itália dispor de um importante legado
cultural romano. Florença é, mercê da acção da família Médicis, o principal centro intelectual e
artístico ao longo do século XV, destacando-se figuras como Sandro Botticielli, Marsílio Ficino,
Donatello, Picco della Mirandola, entre outros. Mas, no final do século XV, o apoio de vários
papas revelou-se decisivo para a transformação de Roma no mais importante centro cultural
europeu, de onde se destacaram Donato Bramante, Leonardo da Vinci ou Rafael, conferindo à
pintura e à escultura um esplendor nunca antes alcançado. Finalmente, na segunda metade do
século XVI, já a cidade Veneza detém a primazia da dinâmica cultural e artística,
particularmente devido a pintores como Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese ou Vecellio Ticiano.
Países da Europa como a França, os Países Baixos, a Alemanha, a Inglaterra e a
Península Ibérica sofreram a influência cultural italiana, pelo que, o Renascimento Italiano
13

rapidamente contagiou a Europa. Estudantes-bolseiros, intelectuais e artistas, que
demandavam a Itália em busca de novidades, regressavam aos seus reinos e cidades com
outros saberes literários, filosófico-morais e artísticos. Deram-nos a conhecer nas
Universidades, nas cortes régias, nos círculos aristocráticos e burgueses, germinando assim o
Renascimento Europeu, que fundiu a lição italiana com as tradições locais n origem a curiosas
sínteses e reinterpretações.
Interpretar o cosmopolitismo de Lisboa e Sevilha
Tendo Portugal e Espanha sido pioneiros na empresa das descobertas, os respectivos
pólos económicos – Lisboa e Sevilha – tornaram-se importantes centros cosmopolitas nos
alvores da Época Moderna, onde as imensas riquezas orientais e americanas atraem
mercadores dos mais diversos cantos do mundo.
Lisboa é a capital do vasto e disperso império português. Ao seu porto chegam as
especiarias (pimenta, canela) e outros produtos orientais (sedas, porcelanas, tapetes) através
da Rota do Cabo, produtos africanos, como o ouro e o marfim ou o açúcar e as madeiras
exóticas do Brasil. São estas mercadorias, a par da exportação de produtos internos (o sal, o
vinho, a cortiça), que permitem as importações de prata e cobre (Alemanha), das madeiras e
do ferro (Norte da Europa), dos tecidos (Itália, Inglaterra e Flandres) e do trigo (Europa
Oriental). Assim, o porto de Lisboa espantava pela concentração de navios que o visitavam.
Nele se cruzavam as tripulações das armadas, os soldados, missionários, mercadores e
aventureiros que partiam ou chegavam do Império; os funcionários da Alfândega; os
mercadores e banqueiros europeus; os humildes carregadores; escravos negros; entre outros.
Testemunho da grandeza da capital do reino foi o seu dinamismo demográfico, ajudado
também pelos fluxos migratórios, que se encontrava em claro crescimento. No reino nenhuma
outra cidade se comparava a Lisboa e na Europa era também das maiores e mais populosas
urbes. Era uma “cidade monstruosa, cabeça demasiado grande para corpo tão diminuto.”
(Oliveira Marques).
Em lugar de chegar à Índia, Cristóvão Colombo conduziu Espanha até à América. Foi,
pois, neste continente até à data ignorado por todos, que se concentraram os projectos
coloniais espanhóis, erguendo-se um imenso império territorial. A Sevilha coube o papel de
capital económica de Espanha, no século XVI, disputando, juntamente com Lisboa, o domínio
14

mundial das rotas oceânicas. Tal como Lisboa, Sevilha acolheu os representantes das grandes
firmas comerciais estrangeiras. Chamaram-lhe “mapa geográfico de todas as nações”.
Interpretar a Revolução Cosmológica Coperniciana, completada por Galileu, como uma manifestação da ciência moderna
Através da combinação do cálculo matemático com a observação e o saber experimental, operou-se a chamada revolução das concepções cosmológicas que está na origem da ciência moderna.
Tudo começou com Copérnico (revolução coperniciana) que se atreveu a contrariar a teoria geocêntrica de Ptolomeu, respeitada desde o Séc. II. A Igreja defendia a teoria de Ptolomeu, onde a Terra era o centro do Universo e tudo girava à sua volta (teoria geocêntrica), referida numa passagem da Bíblia em que Deus «parava o Sol».
Copérnico criou uma nova teoria que expos na sua obra, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Nela dizia que a Terra não era o centro do Universo, mas sim o Sol (teoria heliocêntrica). Todas as esferas celestes, incluindo a Terra giram em volta do Sol, num movimento chamado de translação, tal como giram em torno do próprio centro, num movimento de rotação. Apenas a Lua gira á volta da Terra. Aos movimentos de rotação e translação da Terra se deve a sucessão dos dias e das noites e das estações de ano.
As repercussões culturais das conclusões de Copérnico não foram imediatamente sentidas, visto ter morrido pouco tempo depois, mas outros sábios, com as suas teorias explicativas e os seus dados experimentais, prosseguiram o caminho iniciado por Copérnico, abalando o universo geocêntrico de Ptolomeu e a doutrina da Igreja.
No espaço de um século, a revolução das concepções cosmológicas receberia um grande impulso, com os contributos de Giordano Bruno (defensor da teoria de um mundo infinito), Ticho Brahe, Jonhannes Kepler e Galileu Galilei (comprovou, finalmente, a teoria heliocêntrica de Copérnico) .
15