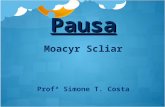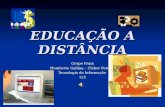Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criação de conceitos
-
Upload
vicfiori402 -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criação de conceitos
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
1/13
359Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
Simone Gallina
O ENSINO DE FILOSOFIA E A CRIAO DE CONCEITOS
SIMONE GALLINA*
RESUMO: Ao pensar as linhas e os traados do ensino em filosofia,tem-se que levar em conta que esta atividade pedaggica deve se
constituir numa atividade filosfica e, ainda dependendo da con-cepo de atividade filosfica, que devemos modificar significativa-mente a prpria concepo do que consiste o ensino e a aprendiza-gem em filosofia. Neste sentido, torna-se importante esclarecer emque consiste a atividade filosfica para se mapear os territrios doensino em filosofia. Tarefa esta que nos propomos a partir da con-tribuio do filsofo francs Gilles Deleuze, o qual, em seus inme-ros escritos, afirma que a atividade do filsofo implica uma dimen-so de criao: criao de conceitos.
Palavras-chave:Filosofia. Histria. Ensino. Leitura. Conceito.
THETEACHINGOFPHILOSOPHYANDTHECREATIONOFCONCEPTS
ABSTRACT: When thinking the lines and tracings in philosophyteaching, it should take into consideration that this pedagogical ac-tivity should be constituted in a philosophical activity and, still de-pending on the conception of the philosophical activity, we willchange significantly the proper conception of what consists theteaching and the learning of philosophy. In this sense, it is impor-tant to clarify what consists the philosophical activity to outline theterritories of teaching of philosophy. We propose this task consider-ing the contribution of the French philosopher Gilles Deleuze who,in his innumerable writings, affirms that the activity of the philoso-pher implies a dimension of creation: creation of concepts.
Key words:Philosophy. History. Teaching. Reading. Concept.
* Mestra em educao pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e doutoranda na Faculdadede Educao da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). E-mail: [email protected]
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
2/13
360 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
Ensino de filosofia e a histria da filosofia
ausncia de clareza acerca do ensino de filosofia resulta da atribui-o de uma certa primazia do que convencionamos chamar de te-mas prprios da atividade filosfica. Ao que parece, no so so-
mente os contedos empregados no ensino de filosofia que a constituemcomo atividade filosfica, mas, antes, o que a torna uma tal atividadepropriamente filosfica. Convm observar que ao dizermos isso noestamos querendo negar a pertinncia da didtica, mas to-somente queela depende, em ltima instncia, da delimitao daquilo que consistepropriamente no ensino de filosofia como atividade filosfica.
Na dcada de 1980 ocorreram intensos debates sobre o ensino defilosofia, os quais so importantes na medida em que nos mostram nosomente o que pensam os filsofos brasileiros sobre a filosofia e o seu ensi-no, mas tambm a sua influncia s futuras geraes de professores de filo-sofia. Um bom exemplo pode ser encontrado no livro intitulado O ensinoda filosofia no 2grau, organizado em 1986 por Henrique Nielsen Neto.Nele podemos observar que, para alguns filsofos, o ensino de filosofia deveser orientado tanto pelo estudo da histria da filosofia quanto pela discus-so dos temas filosficos concernentes ao cotidiano. Prope-se tambm quea disciplina seja pensada mediante atividades de exposio temtica e dis-cusso sobre tais temas, perfazendo o percurso que vai desde a filosofia an-tiga at as questes da filosofia contempornea. Nesse mesmo livro tambmencontramos argumentos em defesa de temas especficos a serem ensinados.Certamente essa abordagem do ensino de filosofia, como estritamente vin-culado escolha dos contedos, est mais preocupada com as concepesindividuais dos professores da disciplina no ensino mdio, estabelecendoassim uma espcie de programa mnimo para o ensino de filosofia. Obje-tivo que tambm fica manifesto nos manuais didticos, nos quais freqen-temente lemos que o ensino de filosofia requer uma visita ao mundo dafilosofia e aos contedos que nele se encontram.
Por um lado, a amplitude e abrangncia do que pode servir detema para o ensino de filosofia, conforme se pode perceber nas propostasacima mencionadas, mostram que no se pode determinar a priorio queir servir como contedo para o ensino de filosofia. Por outro, a determi-nao dos temas no assegura que a atividade desenvolvida pelo profes-sor de filosofia seja uma atividade propriamente filosfica.
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
3/13
361Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
Simone Gallina
Mesmo que as propostas temticas representem a tradio filosfi-ca e mesmo que a escolha dos temas seja oriunda de uma deciso pauta-
da por critrios filosficos, ainda assim, apoiar o ensino de filosofia nahistria da filosofia, como fonte de problemas e de solues, pode resul-tar numa atividade que perde de vista uma condio inerente atividadedo filsofo: a criao conceitual, o nascimento do novo:
A maior parte do tempo, quando me colocam uma questo, mesmo queela me interesse, percebo que no tenho estritamente nada a dizer. Asquestes so fabricadas, como outra coisa qualquer. Se no deixam que
voc fabrique suas questes, com elementos vindos de toda parte, de qual-quer lugar, se as colocam a voc, no tem muito o que dizer. A arte deconstruir um problema muito importante: inventa-se um problema, umaposio de problema, antes de se encontrar a soluo. (Deleuze & Parnet,1998, p. 9)
Contudo, h um aspecto importante no debate da dcada de 1980:o resgate do cotidiano para o ensino de filosofia. Porm, esse resgate acon-tece somente medida que tomado como um acontecimento.
O que a histria capta do acontecimento a sua efetuao em estados decoisas, mas o acontecimento em seu devir escapa histria. A histria no a experimentao, ela apenas o conjunto das condies quase negati-vas que possibilitam a experimentao de algo que escapa histria. Sema histria, a experimentao permaneceria indeterminada, incondicionada,mas a experimentao no histrica. (...) O devir no histria; a hist-ria designa somente o conjunto das condies, por mais recentes que se-
jam, das quais se desvia a fim de devir, isto , para criar algo novo.
(Deleuze, 1992, p. 210-211)O ensino de filosofia no pode prescindir do acontecimento, de
onde emergem os devires que orientam a elaborao de problemas. Osproblemas filosficos no se encontram nos textos dos filsofos e sequerpodem ser comunicados pelos professores de filosofia; eles esto subme-tidos aos devires, s orientaes e s direes que no pertencem hist-ria da filosofia, mas do acontecimento. Mesmo que os problemas este-
jam orientados para o passado ou para o futuro, eles esto submetidos smultiplicidades, aos devires que emergem como foras que operam em si-lncio. Os problemas emergem dos acontecimentos e das experimenta-es.
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
4/13
362 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
Os agenciamentos da leitura
Uma outra conseqncia da ausncia de clareza acerca do ensino defilosofia resulta de algumas incompreenses geradas a partir de uma su-posta necessidade de mtodos, de procedimentos prprios atividade filo-sfica e, conseqentemente, da sua necessidade para o ensino de filosofia.Sem dvida as tcnicas e os procedimentos so importantes para a filoso-fia, mas isso no significa que o mtodo seja o meio pelo qual se aprendefilosofia.
O trabalho de Sonia Maria Ribeiro de Souza trouxe significativas
contribuies para o ensino de filosofia, a sua abordagem histrico-didti-ca importante na medida em que permite um dilogo sobre a relaoentre mtodo e ensino. Segundo a autora, a utilizao do mtodo visa obteno de um fim determinado, isto , ele tem a finalidade de produ-zir nos alunos mudanas de atitudes expressas nos objetivos educacionais(Souza, 1992, p. 100). O recurso a esta concepo genrica de mtodo sed em funo da dificuldade da apropriao de um mtodo filosfico parao ensino de filosofia. O mtodo seria uma espcie de caracterstica essen-
cial da filosofia, contudo no h um nico mtodo, antes sim mtodos,os quais seriam peculiares a cada filsofo, so na verdade, nicos eirrepetveis e, neste sentido, h tantos mtodos filosficos quanto os filso-fos que existiram e que existem na face da Terra (idem, ibid.).
Alm dessa gama de mtodos, o que causa um certo embaraoquanto escolha daquele que seria o mais apropriado, o problema comeles que so irrepetveis, isto , a sua singularidade implica a impossi-bilidade de serem separados de seus prprios autores. A concluso sobre
um mtodo genuinamente filosfico que os mtodos da filosofia no seconfiguram como os mais adequados para o ensino da filosofia (idem,ibid.). Mesmo assim, existem alguns mtodos comuns a outras reas dosaber que podem ser utilizados no ensino de filosofia. Entre eles figura omtodo expositivo, o mtodo interrogativo, o mtodo de exposio di-alogada, o mtodo de leitura e anlise de textos, o mtodo de anliselingstica e o estudo dirigido (idem, ibid.). A utilizao desses mto-dos depende do professor, contudo cada um deles obedece a uma lgicaprpria, o que no impede que o professor estabelea inovaes no sentidodo aprimoramento deles.
Os dois mtodos destacados como mais pertinentes so o mtodode exposio dialogada e o mtodo de leitura e anlise de textos. O pri-
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
5/13
363Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
Simone Gallina
meiro , do ponto de vista de muitos educadores, o mais adequado parao processo de ensino-aprendizagem da referida disciplina (idem, ibid., p.
105), ao passo que o segundo, por sua vez, importante porque as suasmetas condensam a finalidade central da disciplina no 2 grau: ensinar oaluno a filosofar (idem, ibid., p. 108). Como se pode observar, dos dois opreferido pela autora o concernente leitura, visto que ele cumpriria umafinalidade prpria ao ensino de filosofia, ou seja, ensinar a filosofar.
As metas pedaggicas, apresentadas como finalidades do mtodode leitura e anlise de textos, prprias ao ensino de filosofia de acordo comSouza so as seguintes: compreenso global do pensamento de um autor,
bem como de uma escola ou corrente filosfica de um determinado pero-do do qual o filsofo um representante; o acesso filosofia por meio des-se pensamento e, por ltimo, a aquisio de uma tcnica intelectual e deanlise filosfica (ibid., p. 108). Ocorre que, a despeito da nfase dadapela autora, parece pouco crvel que uma tal compreenso da leitura defato ensine a filosofar. Afora as expresses que denotam uma relao com afilosofia, a caracterizao dessas metas pode servir para a leitura em qual-quer outra disciplina.
Ao finalizar a explicitao do referido mtodo, a autora afirma queeste implica um esforo de compreenso da linguagem dos filsofos, isto, uma abordagem dos termos, dos enunciados, dos encadeamentosdiscursivos e das vrias expresses usadas pelos autores lidos, por meio dasquais o filsofo procura comunicar o produto de sua reflexo filosfica(idem, ibid., p. 112). Ser que o esforo para compreender termos, enun-ciados, encadeamentos, expresses nos conduzem criao conceitual? Outalvez nos sejam extremamente teis para assimilar e reter um produto
pronto e acabado?Pode-se concordar com a autora que os textos dos filsofos exerceminfluncia e so determinantes para as atividades filosficas. Tambm pare-ce acertado dizer que a relao com tais textos uma relao de leitura.Contudo, a afirmao de que os textos dos filsofos comunicam o produtoda sua reflexo, o qual poder ser compreendido com a aplicao do mto-do de anlise, parece no levar em conta a diferena entre uma leitura filo-sfica e uma leitura histrica desses textos. Mas o que seria propriamente
uma leitura apenas histrica dos textos dos filsofos e por que ela pode prem risco o ensino de filosofia?Uma leitura histrica nada mais que uma atualizao de lembran-
as. Pascal Chabot diz que uma lembrana atualizada perde o virtual por-
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
6/13
364 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
que ela uma diferena selecionada (1998, p. 43), ou seja, ao serematualizadas, as intensidades acabam coaguladas em estados de coisas defi-
nidos (ibid., p. 43), transformam-se em formas estveis. Ao contrrio,uma arte imanente de interpretao (ibid., p. 40) mantm o movimen-to que caracteriza as densidades como multiplicidades virtuais, como sin-gularidades. A leitura filosfica, na qualidade dessa arte imanente, dissolveo que coagulado na representao, conservando as foras e as intensida-des passadas que do consistncia e coerncia diversidade de atualizaesproduzidas pelo virtual.
Apoiar a leitura no mtodo de anlise inviabiliza o carter filosfico
da prpria leitura. Se o problema for reduzido a uma instncia proposi-cional, a verdade desse problema consistiria somente em que ele possui umasoluo. Ao contrrio disso, poderamos pensar que, se h um sentido nainterpretao, este est no problema e no no emaranhado de proposiesque tecem e tramam o texto. Um tal sentido estaria longe de qualquer po-sio que prime pela resoluo e tambm daquelas que vem no mtodoum bom guia para a busca de sentido para o texto.
Pensar um problema, mesmo a partir de um texto, antes de tudo
engendrar descontinuidades, gerar solues, evitando com isso a velha ilusode que um problema sempre visa a uma determinada soluo. Tambm preciso atentar para a existncia de uma diferena de natureza entre proposi-es e problemas. Problemas no podem ser decalcados das proposies, sobpena de se perder a prpria aprendizagem da multiplicidade de relaes.
A boa maneira para se ler hoje, porm, a de conseguir tratar um livrocomo se escuta um disco, como se v um filme ou um programa de tele-viso, como se recebe uma cano: qualquer tratamento do livro que re-clamasse para ele um respeito especial, uma ateno de outro tipo, vem deoutra poca e condena definitivamente o livro. No h questo alguma dedificuldade nem de compreenso: os conceitos so exatamente como sons,cores ou imagens, so intensidades que lhes convm ou no, que passamou no passam. (...) Gostaria de dizer que um estilo (...). um agen-ciamento, um agenciamento de enunciao. Conseguir gaguejar em suaprpria lngua, isso um estilo. difcil porque preciso que haja neces-sidade de tal gagueira. Ser gago no em sua fala, e sim ser gago da prprialinguagem. Ser como um estrangeiro em sua prpria lngua. Traar uma
linha de fuga. (Deleuze & Parnet, 1998, p. 11-12)Talvez seja justamente essa maneira de ler os livros, como uma es-
pcie de lngua estrangeira, que tenha atrado a ateno de Deleuze para
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
7/13
365Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
Simone Gallina
a obra de Proust. A maneira como Proust se refere leitura de um livro,a partir do qual os contra-sensos criam uma lngua no interior da lngua,
obrigam o leitor a usar o livro e a saber lidar com as linhas de fuga quelhe so inerentes. Porm, esse agenciamento da leitura nos coloca umproblema com relao ao ensino da filosofia na medida em que o pensa-mos como uma atividade de leitura regrada por um mtodo. Da pro-posta anterior sobre a leitura, segundo o que foi afirmado nas metas enos resultados, pode-se inferir que nos textos dos filsofos se encontramverdades, cujo acesso depende do esforo de compreenso e da utilizaocorreta do mtodo. Mesmo que a autora no tenha afirmado e sequer
feito meno a esta questo, a possibilidade de uma tal inferncia nosremeteria a um outro problema implicado na utilizao do mtodo deleitura, ou seja, que a atividade filosfica consiste em descobrir verdadesescondidas nos textos. Sobre esta questo a referncia de Deleuze a Proust muito relevante:
A crtica de Proust toca no essencial: as verdades permanecem arbitrri-as e abstratas enquanto se fundam na boa vontade de pensar. Apenas o
convencional explcito. Razo pela qual a filosofia, como a amizade, ig-nora as zonas obscuras em que so elaboradas as foras efetivas que agemsobre o pensamento, as determinaes que nos foram a pensar. No bas-ta uma boa vontade nem um mtodo bem elaborado para ensinar a pen-sar, como no basta um amigo para nos aproximarmos do verdadeiro. Osespritos s se comunicam no convencional; o esprito s engendra o pos-svel. s verdades da filosofia faltam a necessidade e a marca da necessi-dade. De fato, a verdade no se d, se trai; no se comunica, se interpreta;no voluntria, involuntria. (Deleuze, 2003, p. 89)
Por um lado, dizer que existem verdades nos textos filosficos pare-ce ser um bom pressuposto para requerer um mtodo que permitaencontr-las, por outro, isso se torna to problemtico quanto afirmar queexistem textos verdadeiros e, conseqentemente, outros que seriam falsos.Neste sentido, no h por que reivindicar a pertinncia de um mtodopara se alcanar a verdade. Isso somente tem sentido para aqueles que, apartir de uma imagem do pensamento como cogitatio natura universalis,pensam que a filosofia tende naturalmente para o verdadeiro. A filosofiano requer umaboa vontade do pensadore umanatureza reta do pensamen-to, sequer deciso e mtodo, porque no a verdade e sim o interesse queserve de inspirao para a filosofia e para o fazer filosfico.
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
8/13
366 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
Os territrios da atividade filosfica
Deleuze critica a concepo da histria da filosofia como imagemdo transcendente, como se a histria da filosofia pudesse ser comparadacom um retrato. Para ele, esta concepo opera por decalques, por estag-nao do fluxo das intensidades, concebendo a filosofia como uma buscade verdades, apoiando-se numa imagem do pensamento cujos pressupos-tos so morais. A idia de umacogitatio natura universalisconfere ao pen-samento uma natureza boa e, conseqentemente, o pensador dotado deuma boa vontade que lhe permite alcanar o verdadeiro (Cf. Deleuze,
1988, p. 215-235). Deleuze atribui esta imagem do pensamento ao mo-delo da recognio. Um modelo que orienta a anlise do que significa opensar, e que tem na teoria da representao seu apogeu, mais precisamentenuma teoria para a qual a identidade do objeto est fundada na unidadedo sujeito pensante e na relao de concordncia das suas faculdades, dosseus modos.
O problema com esta imagem do pensamento que ela perde devista a diferena e a repetio em si mesmas, fazendo com que o objeto, o
que signo para a alma, deixe de ser ou de suscitar um problema. O obje-to acaba sendo o Mesmo, tal como um retrato, e a filosofia, a arte de retra-tar. Contudo, na atividade filosfica no se trata de fazer parecido, isto ,de repetir o que o filsofo disse, mas de produzir a semelhana, desnudan-do ao mesmo tempo o plano de imanncia que ele instaurou e os novosconceitos que criou (Deleuze & Guattari, 1992, p. 74). A verdade dosescritos e mesmo do prprio pensamento est pressuposta na possibilida-de da criao de conceitos filosficos, ela somente o que o pensamentocria, pois o pensamento criao. Ora, se a filosofia supe enunciadosdiretos e significaes explcitas sados de um esprito que quer a verdade,ento erramos quando acreditamos na verdade: s h interpretaes(Deleuze, 2003, p. 86). Com isso, Deleuze afasta-se daqueles que, comoos filsofos modernos, pressupem uma imagem do pensamento.
Talvez esta seja a razo para que Deleuze insista na desconfianafilosfica apregoada por Nietzsche, o qual aconselhava os filsofos a des-confiarem dos conceitos que por eles mesmos no tivessem sido criados.Neste sentido se pode compreender o quanto imprescindvel ativida-de do filsofo uma relao com a tradio filosfica de desconfiana, pois a partir do territrio do dado que ser possvel atualizar conceitos. Ouseja, fabric-los e no somente faz-los reluzir (Cf. Deleuze & Guattari,
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
9/13
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
10/13
368 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
A condio atribuda ao conceito de ser um comeo, um nascimento,uma criao, uma novidade, traz consigo a necessidade de conceb-lo como
pertencendo ao domnio doporvir. Esta condio implica de antemo quequalquer contribuio da tradio filosfica est intimamente relacionadacom uma atividade cuja principal caracterstica seja a intensa criao. Umaatividade que permite surgir, a partir do mesmo, a heterogeneidade, a dife-rena.
possvel darmos uma definio sobre a filosofia? Ou, podemoschegar a um consenso sobre o que a filosofia? Sim, mas desde que a ver-dade implicada nessa definio no seja mais entendida no sentido da ade-
quao ou correspondncia, tal como ocorre com a concepo do conheci-mento em termos de representao. Mas, ao mudarmos o referencial peloqual se orienta a verdade, deixamos de pensar a definio como indicadorde essncias ou de propriedades de coisas, como se d no conhecimento,passamos a pens-la como comportando uma dimenso produtiva. Nestesentido, podemos dizer que a filosofia, mais rigorosamente, a disciplinaque consiste em criar conceitos (Deleuze & Guattari, 1992, p. 13). Comisso, a prpria definio do conceito sofre uma mudana, pois, se a filoso-
fia no uma simples arte de formar, de inventar ou de fabricar concei-tos, implica que os conceitos no so necessariamente formas, achadosou produtos (idem, ibid., p. 13). O conceito algo criado e, como tal,implica uma habilidade que s ao filsofo pertence, uma atividade qualconsiste propriamente o nome de filosofia.
Nunca se sabe de antemo como algum vai aprender que amores tor-nam algum bom em Latim, por meio de que encontros se filsofo, emque dicionrios se aprende a pensar (...). No h mtodo para encontrartesouros nem para aprender, mas um violento adestramento, uma culturaou umapaideiaque percorre inteiramente todo o indivduo (um albinoem que nasce o ato de sentir na sensibilidade, um afsico em que nasce afala na linguagem, um acfalo em que nasce pensar no pensamento).(Deleuze, 1988, p. 270)
A atividade filosfica ocupa-se com as condies que permitem aformulao de problemas, e nisso consiste a aprendizagem em filosofia.Mesmo que os problemas estejam na base da produo conceitual, estano uma decorrncia direta do mtodo, como se o mtodo permitisseuma passagem direta do no-saber ao saber. Ou seja, mesmo que a produ-o conceitual seja um momento da aprendizagem, isso ocorre somente
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
11/13
369Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
Simone Gallina
porque ela resulta de uma intensa atividade na qual o mtodo no temnenhuma significativa importncia. Pois a aprendizagem d-se na consti-
tuio dos problemas e estes se passam sempre pelo e no inconsciente.
Que toda filosofia dependa de uma intuio, que seus conceitos no ces-sam de desenvolver at o limite das diferenas de intensidade, esta gran-diosa perspectiva leibniziana ou bergsoniana est fundada se consideramosa intuio como o desenvolvimento dos movimentos infinitos do pensa-mento, que percorrem sem cessar um plano de imanncia. No se conclui-r da que os conceitos se deduzam do plano: para tanto necessria umaconstruo especial, distinta daquela do plano, e por isso que os concei-
tos devem ser criados, do mesmo modo que o plano deve ser erigido. (...)Se a filosofia comea com a criao de conceitos, o plano de imannciadeve ser considerado como pr-filosfico. Ele est pressuposto, no damaneira pela qual um conceito pode remeter a outros, mas pela qual osconceitos remetem eles mesmos a uma compreenso no-conceitual.(Deleuze & Guatarri, 1992, p. 56-57)
Ao definirmos a filosofia como uma atividade, estamos excluindodessa definio outras noes que habitualmente so identificadas como
prprias da filosofia. A filosofia no pode mais ser pensada como umareflexo, uma comunicao ou ainda uma contemplao, formas pelasquais ela sempre foi considerada, mas como uma operao de criao deconceitos. O conceito no pode ser confundido com uma proposio,porque ele no tem um valor de verdade, no se refere a estados de coi-sas, como o caso das proposies da cincia. Como criao singular, oconceito reporta-se a um acontecimento, ele prprio um acontecimen-to. Ora, considerar o conceito um acontecimento implica tambm con-
siderar que o filosofar deve se ater s circunstncias implicadas na criaoconceitual, aos casos, onde, quando, como etc. Pois so estes elementoscircunstanciais que caracterizam o conceito como singularidade, comoalgo datado, mas tambm como algo que muda, conforme so operadasas relaes que o definem.
Se o conceito est implicado num conjunto de relaes em cons-tante devir, ento a prpria histria da filosofia tambm precisa ser pen-sada como um devir filosfico. Como devir, a histria da filosofia no pode
ser considerada mediante uma noo de temporalidade que se restringe relao presente-passado, antes sim relao atual-virtual. Desta con-cepo da histria da filosofia como virtual pode surgir uma nova con-cepo de leitura: a leitura da histria da filosofia passa a ser uma atu-
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
12/13
370 Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Disponvel em
O ensino da filosofia e a criao de conceitos
alizao de intensidades virtuais. Talvez desse modo estaremos evitandotransformar a filosofia e o seu ensino numa atividade de doxografia, con-
tentando-se apenas com proposies ou simples opinies:
sempre a mesma melancolia que se eleva das Questes disputadas e dosQuodlibetsda Idade Mdia, em que se aprende o que cada doutor pen-sou, sem saber por que ele o pensou (o Acontecimento), e que se encon-tra em muitas histrias da filosofia onde se passam em revista as solues,sem jamais saber qual o problema (a substncia em Aristteles, em Des-cartes, em Leibniz...), j que o problema somente decalcado das pro-posies que lhe servem de resposta. (Deleuze & Guattari, 1992, p.105)
Da mesma forma que, em filosofia, a aprendizagem no tem suaorigem na atividade orientada pela objetividade metodolgica, tambmno pode ser vista como uma atividade cujo fim remete a uma simplesaquisio de saberes. Pois, se tem sentido falar de aprendizagem em filo-sofia, esta deve ser reportada constituio de problemas na qual estoenvolvidos agenciamentos de desejos. Pois aquele que se envolve com a filo-
sofia como um nmade, cuja criao conceitual se parece com a ativi-dade daquele cuja experincia se d num territrio onde os relevos cons-tantemente se modificam.
Recebido em maio de 2004 e aprovado em junho de 2004
Referncias bibliogrficas
BOAVIDA, J. Filosofia do ser e do ensinar:proposta para uma nova abor-dagem. Coimbra: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1991.
CHABOT, P. Au seuil du virtuel. In: VERSTRAETEN, P.; STENGERS, I.(Coord.). Gilles Deleuze. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1998.p. 31-44.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O que a filosofia?Traduo de Bento
Prado Jr. e Alberto Alonso Muoz. Rio de Janeiro: 34, 1992.DELEUZE, G.; PARNET, C. Dilogos. Trad. de Eloisa Arajo Ribeiro.So Paulo: Escuta, 1998.
-
7/22/2019 Simone Gallina - O ensino de filosofia e a criao de conceitos
13/13
371Cad. Cedes, Campinas, vol. 24, n. 64, p. 359-371, set./dez. 2004Di p l http // d i p b
Simone Gallina
DELEUZE, G. Diferena e repetio. Traduo de Luiz Orlandi e RobertoMachado. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
DELEUZE, G. Conversaes. Trad. de Peter Pl Pelbart. Rio de Janeiro:34, 1992.
DELEUZE, G. Proust e os signos.2. ed. Trad. de Antonio Carlos Piquete Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2003.
LARROSA, J. Dar a palavra. Notas para uma dialgica da transmisso.In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. (Org.). Habitantes de Babel:polticas da dife-
rena. Belo Horizonte: Autntica, 2001. p. 281-295.NIELSEN NETO, H. (Org.). O ensino da filosofia no 2 grau. So Paulo:Sofia, 1986.
SOUZA, S.M.R. Por que Filosofia?Uma abordagem histrico-didticado ensino de filosofia no 2 grau.1992. 116p. Tese (doutorado) Fa-culdade de Educao. Universidade Estadual de So Paulo, So Paulo.